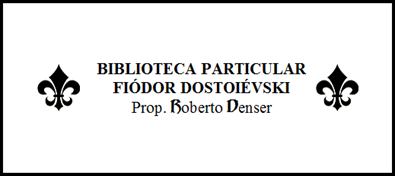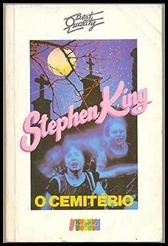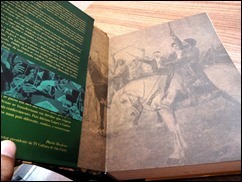Roberto Denser's Blog, page 12
August 18, 2013
O Diabo da Livraria
EXISTE UM DIABO QUE ME ACOMPANHA sempre que vou numa livraria. Taciturno, cola ao meu lado e nada diz até que estejamos diante de algum livro que, ele sabe bem, me interessa por algum motivo:
— Olhaí, parceiro — diz, com a voz rouca de quem há muito fuma, o sotaque malandro: —, beleza de brochura, né não? Ó, maravilha... já pensou como vai ficar na sua estante, pensaê?! Isso, que maravilha. Vai ficar lindo lá...
Tento não lhe dar ouvidos. Recoloco o livro na estante, ele me olha boquiaberto.
— Tá maluco, mermão? Vai deixar passar esse livro? Porra, cê bebeu? Olha de novo, olhaí, vai: livro do caralho, capa linda, olha só: alisa, sente só que maravilha... dá um cheirim, um cheirim... dá um cheirim, mermão, só um de leve, vai lá, isso, aê, muito bem... e aí, gostou? Foda, cumpade, esse livro é foda. Vai ficar lindo na estante lá, se vai...
Respiro fundo. Não posso levar, digo para mim mesmo. Primeiro porque não tenho espaço, segundo porque comprei alguns na internet que ainda nem paguei, terceiro porque preciso guardar uma grana pra outras coisas e...
— Que outras coisas, porra? Cê tá solteiro, não tem filho, as contas tão em dia e, cá entre nós, esse livro é uma maravilha, saca só: lembra desse autor, né? É, é aquele lá que você gostou pra caralho, lembra? Leu em dois dias, na rede e tal... imagina aí, tu deitado lá, bem diboua na lagoua, folheando essa maravilha... porra, até eu tô com inveja.
— Mas eu posso deixar pra comprar depois — tento argumentar.
— Rá, e você acha que esse livro vai ficar aí te esperando? Não dou dois dias e vai estar esgotado em todas as livrarias do país, quer apostar? Ó lá, ó lá, ó lá o gordinho, ó: chega vem babando pegar teu livro, ó, cê vai deixar? Cê vai deixar, porra?
— Mas eu tô devendo e...
— Cara, divida em duas, em três, em quatro, mas leve essa porra.
Olho para o livro, ele parece me olhar de volta, como um cachorrinho numa vitrine, os olhos brilhantes a dizer que precisa de um lar.
— Okay... — acabo cedendo. Pego o livro e vou ao caixa, já puxando o cartão da carteira.
— Cê não vai se arrepender, tô dizendo — e assim, com um tapinha de despedida em minhas costas, ele vira fumaça e some.
— Vai dividir em quantas? — pergunta a moça do caixa.
— Em quatro, por favor.
Passo o cartão, ela enfia os livros na sacola e pergunta:
— Tá sentindo um cheiro estranho? Sei lá, parece enxofre...
August 12, 2013
Íntimas Aleatoriedades
ABRO O PROCESSADOR DE TEXTOS com o objetivo de escrever algo para o blog: nada sai. Me levanto, faço um café, volto para o computador para mais uma tentativa: nada. Abro email, limpo a caixa de entrada, envio dois emails curtos, escrevo algumas bobagens no Twitter, atualizo a página do Facebook, volto para o processador de textos e, mais uma vez, nada. Tudo bem, vou repostar algo antigo, penso, e começo a vasculhar pastas de 2006, 2007, 2008: releio textos antigos com um sorriso no canto dos lábios. Um texto sobre cartas me chama a atenção, lembro que fui durante algum tempo um missivista bastante profícuo, fico com saudades, decido abrir a caixa de madeira na qual guardo a correspondência de uma vida inteira: cartas escritas e não enviadas, rascunhos de cartas enviadas, cartas recebidas: de amigos, namoradas, editoras. Leio, choro, sorrio. Na caixa há um álbum de fotos, fotos antigas, tiradas com máquinas analógicas e que retratam meus 14, 15 anos: amigos que foram, namoros perdidos, momentos marcantes: fotos de ensaios da minha primeira banda, coisas assim. Mais emoção, mais tristeza. Não uma tristeza qualquer, mas uma tristeza dotada de nostalgia e saudade. Nas cartas, nas fotos, nos textos, referências que perdi ou deixei pra lá: camisa do The Doors (Há quantos anos não ouço The Doors?), livros do Caio F. (escritor que eu adorava, mas do qual criei abuso por causa de… de quê mesmo? Dos fãs, isso, dos novos fãs!), diários (dois volumes recentes dos quais não me desfiz como os outros). Tudo bem: coloco The Doors na playlist, procuro algum livro do Caio F. na minha estante, salvo engano eu havia dado fim a todos e, bem, lá estava: 4 livros de bolso, todos da LPM. Pego o primeiro num impulso, Fragmentos, deito na cama, folheio aleatoriamente e paro na página onde inicia o conto Os Sobreviventes. Lembro desse, penso, o li pela primeira vez no ônibus, a caminho da universidade quando cursava Letras e… começo a ler, em voz alta, interpretando, haha, como fazia na época do Teatro (sim, também já fiz teatro). Eu, de madrugada, só de cueca, lendo Caio F. e ouvindo The Doors: falta o vinho barato, o cigarro, penso, duas constantes na época do auge de minha paixão pelos Doors – queria imitar o Jim-bo, ser poeta-ter-banda-de-rock-morrer-aos-vinte-e-sete-entrar-pra-história-do-rock. Rio de minha ingenuidade, termino o texto, penso que sim, ainda gosto disso, fecho o livro satisfeito e o recoloco na estante, volto pro computador, escrevo esse texto.
July 30, 2013
Minha Biblioteca Particular
Comecei a comprar livros um pouco tarde. Quando criança, nunca os tive; e quando passei a comprá-los, na adolescência, bem, dinheiro não era assim tão acessível, o que limitava minhas aquisições a livros usados, muitas vezes em papel jornal ou publicados há pelo menos duas gerações antes da minha.
Também roubei alguns exemplares em bibliotecas públicas — pelos meus cálculos, devo ter entrado para a lista dos dez mais procurados pela Polícia Bibliotecária Estadual —, algo que remediei, anos mais tarde, com doações regulares. Não, eu não me arrependo (“Crime não é roubar livros, crime é não lê-los”, diz Bolaño, que hoje é um dos meus autores favoritos, e com o qual quase sempre estou de acordo), tampouco faço as doações por causa de peso em minha consciência. Não, não é o caso: foi assim que comecei a juntar meus primeiros livros — alguns volumes baratos em sebos, algumas doações de professores e amigos, alguns furtos —, e quando a situação melhorou e consegui um trabalho que pagava um pouco melhor, comecei a frequentar livrarias.
“Um dia terei uma biblioteca em minha casa”, prometi a mim mesmo, sonhando com o lugar no qual receberia minhas visitas para um café ou uma partida de xadrez, no qual passaria horas deliciando-me com leituras e estudos, e, evidentemente, no qual escreveria meus próprios livros.
Também prometi que ela seria erguida em homenagem a algum escritor que eu amasse, mas adiei a escolha para quando adquirisse o milésimo exemplar. E assim foi: livro a livro, a cômoda na qual os empilhava se tornou pequena, e logo precisei de uma estante, minha primeira. Depois dela, outra, e outra, e assim por diante.
Os anos passaram, trabalhei ali, trabalhei aqui, mas nunca deixei de gastar boa parte do salário com livros — o que causou inúmeras discussões com minha ex-noiva, que não via a menor necessidade de comprar tantos livros quando precisávamos investir e viabilizar nosso hipotético casamento.
Recentemente, olhei para minhas estantes e decidi que já era hora de contá-los. Teria finalmente atingido o milésimo exemplar? Aproveitei que a casa estava em reforma e fiz a contagem, constatando ao final que possuía exatamente 998 livros (e eu recém havia doado cerca de 20 volumes da coleção Por ele mesmo!). “Tudo bem”, pensei, “essa semana vou à livraria mesmo...”
E foi o que fiz: aproveitando que possuía algum desconto, comprei dois livros — O Oceano no Fim do Caminho e Príncipe de Histórias, os Vários Mundos de Neil Gaiman —, e aproveitei para mandar fazer o primeiro carimbo de minha biblioteca, a Biblioteca Particular Fiódor Dostoiévski.
Não poderia ser outro que não o russo. O motivo? Para mim, trata-se do maior escritor de todos os tempos, ninguém conseguiu ir além dele — e talvez seja, como disse um cínico certa vez, o único escritor necessário. “Só isso” não teria sido suficiente para mim, mas acontece que Dostoiévski foi o primeiro escritor que mexeu com minha visão de mundo, o primeiro que, digamos assim, me colocou pra pensar o homem, a arte, a ideia de Deus, a existência humana, a sociedade.
Também foi o primeiro escritor que me deixou meses deprimido (o segundo foi o Roberto Bolaño), mergulhado em um verdadeiro labirinto de reflexões, e o primeiro grande “marco” em minha formação.
Não, não poderia ter escolhido outro.
Continuarei trabalhando para que um dia ela seja exatamente como a vejo em meus melhores sonhos.
July 29, 2013
Coisas que me impressionam nas crônicas de gelo e fogo
1. O enredo inacreditavelmente bem amarrado, o que, considerando a quantidade de personagens e o tamanho da obra, chega a ser absurdo!
2. O fato de GRRM, como autor, quase nunca escolher o caminho mais confortável: vai pelas vias mais difíceis, surpreende o tempo inteiro, ousa, é imprevisível.
3. A paciência com a qual escreve. Louvável paciência, diga-se de passagem
Tais fatos somados mostram que ele não é, em hipótese alguma, um escritor preguiçoso.
July 19, 2013
A volta do juiz mais fodão da Ficção
Gosto do Dredd. Gostei dele desde a primeira vez que o li, no crossover “Julgamento em Gotham”, publicado no Brasil em 1992, com roteiro de Allan Grant e John Wagner. Foi essa saga em 2 volumes que me levou a procurar outras histórias do juiz durão (eu era fascinado por personagens durões, como Lobo) e vibrar de alegria quando, em 1995, um filme estreado por Stallone, o eterno Rambo/Balboa, chegou às locadoras — em VHS, claro.
Não lembro bem do filme, que só assisti uma vez, mas lembro de duas coisas:
1. tratava-se de um blockbuster;
2. não gostei nenhum pouco.
 Da esquerda pra direita: o Dredd dos quadrinhos, o de Stallone, e o atual (interpretado por Karl Urban).
Da esquerda pra direita: o Dredd dos quadrinhos, o de Stallone, e o atual (interpretado por Karl Urban).
Por que não gostei? Não sei. Talvez eu soubesse se tivesse me arriscado a assisti-lo novamente, mas desconfio que, com poucas exceções, essa era a minha reação comum às adaptações de quadrinhos da época (parecido com o que acontece com as adaptações literárias hoje, e que já não acontece com as adapções de quadrinhos — não no mesmo nível e com a mesma frequência, claro, pois existem exceções tanto pra um gênero quanto pro outro).
Ano passado, então, descobri por acaso que um novo filme havia estreado nos cinemas, e que, infelizmente, não pude assistir na época: choque de agenda, pouco tempo em cartaz. Tudo bem. Acontece que eu queria mesmo ver esse filme. O trailer, que vira no youtube, me deixara empolgado: finalmente parecia que a justiça seria feita ao juiz, mas me contentei em esperar para ver em DVD.
Hoje, finalmente, aconteceu. Dredd (2012) é uma produção de baixo orçamento, mas possui um roteiro sólido, de Alex Garland (Extermínio), e uma direção muito competente de Peter Travis (Ponto de Vista), o que faz toda a diferença em relação à versão de 1995. E prova meu ponto, quando digo que roteiro é tudo, ou quase tudo.
Apesar da ausência do sarcasmo e humor negro presentes nos quadrinhos, e das liberdades estéticas tomadas pelos produtores (agradáveis e bem vindas, na minha opinião), o filme conta com excelentes atuações e muita, muita ultraviolência. Adorei o resultado final. São aproximadamente 90 minutos de tensão, sangue e bala pra ninguém botar defeito.
Adoraria assistir uma continuação nos cinemas, mas infelizmente Dredd não obteve o sucesso esperado, o que seria merecido, e isso pode dificultar a produção de uma sequência.
July 17, 2013
Ma-ma-mas... (minha experiência com o horror)*
Quebrando o gelo de o que, 3 anos?, finalmente voltei a assistir filmes de horror. Mama, especificamente, que foi produzido pelo Del Toro e escrito por um casal que não lembro o nome. Não gostei muito, mas talvez eu tenha, digamos assim, perdido o jeito com a coisa.
Não parei de vê-los, os filmes de horror, por algum motivo interessante como talvez um trauma seria interessante, mas simplesmente porque, bem, enchi o saco. Sacumé: um dia qualquer você enjoa, perde a paciência, esse tipo de coisa. Foi o que aconteceu.
Minha história com o horror, a princípio com filmes e posteriormente com livros e quadrinhos, tem início na primeira metade dos anos 90: minha mãe, que à época devia ter cerca 21 anos (ela engravidou muito cedo), era viciada em filmes de horror. Como meu pai não era muito chegado em filmes — exceto quando se tratava de algum lançamento do Van Damme —, e minha irmã era muito nova para servir de companhia para qualquer coisa, eu acabei sendo sua única companhia durante as sessões noturnas de filmes que passavam na TV aberta e, mais tarde, nos que alugávamos na locadora do Crê — que ainda resiste bravamente numa época em que quase todo mundo prefere comprar ou baixar filmes.
Bom, eu insistia em ver com ela (vocês sabem como são as crianças), e ela, a princípio, relutava em permitir, argumentando que depois eu teria problemas para dormir e coisas do tipo, mas ao final acabava cedendo — mais tarde descobri que pelo nobre motivo de não ter coragem de assisti-los sozinha.
Mamãe tinha razão em não querer que eu os assistisse. Minha imaginação nunca foi algo que possamos considerar “padrão” — e ouso dizer que isso tem lá sua razão de ser, a começar pela criança solitária que fui durante boa parte da infância, e crianças solitárias tendem a criar e viver em seu próprio mundinho, moldar um pouco as coisas, talvez desajeitada e exageradamente, às vezes até em excesso. Ocorre que eu assistia os filmes e, tchã-rã!, passava dois ou três dias sem dormir direito. Eu não tinha meu próprio quarto na época, e nos apertávamos todos no quarto dos meus pais, minha irmã e eu numa cama beliche, eles dois ao lado, na cama de casal e, no meio da noite, eu costumava perguntar “mãe?” a cada 10 minutos, até que ela respondesse, provavelmente dormindo.
E foi assim: cresci vendo filmes de horror, depois parti para os quadrinhos — lembram da revista Cripta? Eu dei um jeito de colecioná-las mesmo morando onde o Judas perdeu as botas, e ainda lembro de algumas histórias perturbadoras e excelentes que li por lá, e que talvez nem fossem tão boas assim e essa impressão seja causada, hoje, pelo floreamento que minha imaginação causou em virtude da distância entre o então e o agora — e, naturalmente, os livros. O primeiro autor que me caiu em mãos? Stephen King, claro, em uma edição de O Cemitério em papel jornal velha como o diabo e que possuía uma capa pavorosa.
Esta capa pavorosa:
Depois vieram os games de survival horror e já era a segunda metade dos anos 90. Joguei todos que me caíram em mãos, continuei lendo, colecionando e até criei o hábito de anotar num caderninho o nome do filme, ano de produção, diretor e sinopse. O passo seguinte foi escrever histórias. Eu já queria ser escritor naquela época, mas toda minha produção artística se limitava a um ‘livro’ escrito na quarta série (mais detalhes aqui), um roteiro para quadrinhos não escrito (eu ditava a história para um amigo, que desenhava e me entregava, eram aventuras imaginárias de nossa própria turma – eu já tinha uma turma nessa época, a primeira) e algumas letras de música para a minha primeira banda de rock (Legionários, com Alê, nos vocais; o Mago, na guitarra solo; Jó, nos teclados; eu, na guitarra base, e Mineleza na... flauta — nunca tivemos um baterista e ninguém queria tocar contrabaixo. A flauta? Bem, Mínelo queria entrar na banda de qualquer jeito e alguém teve a ideia de colocá-lo para tocar flauta).
Meu primeiro conto de horror propriamente dito, portanto, só veio depois de todas essas coisas. Chamava-se “Uma noite maravilhosa e um assombro” (título chupado de um livro Mórmon) e teve sua origem num sonho recorrente que eu tive e do qual só consegui me livrar escrevendo. Gostei do resultado final, os amigos também, consequentemente outros contos vieram — uma enxurrada, na verdade —, e, após receber uma carta encorajadora, que ainda guardo comigo, de um editor que até hoje procuro, em vão, na internet (Dentre outras coisas, dizia: “Eu nem me daria o trabalho de responder essa carta se não enxergasse em você um escritor talentoso...”), meu pai se animou o suficiente para me dar de presente de aniversário a minha primeira máquina de escrever, uma Olivetti ET Personal 50. Com ela, escrevi pilhas e pilhas de contos, poesias e até dois romances (Carnificina e “Feche os olhos, e grite o máximo que puder...”, títulos que eu tirava sabe lá de onde), os quais tentei publicar em tudo quanto é lugar (cheguei a enviar para revistas especializadas em cinema de horror e para a Playboy, tamanha era a minha desorientação). Algumas revistas e sites responderam com uma frieza glacial, a maioria ignorou meus contos sumariamente, e a única vez que obtive um retorno positivo foi quando a improvável revista Cinemonstro, creio que em 2004, me enviou um email falando que a publicação do meu conto seria discutida numa reunião do conselho editorial (um email que imprimi e que guardo até hoje).
Não cheguei a ser publicado. Descobri mais tarde que a revista havia sido cancelada pouco depois que eu recebi o tal email, e foi fim da literatura de horror para mim. Quero dizer, o fim, naquela época, daquela fase. O que fiz então? Reuni meus textos favoritos num envelope lacrado que dei a Mínelo e pedi que guardasse e só me entregasse em um futuro distante (que aconteceu em 2009, um futuro não tão distante assim), e queimei todo o resto, incluindo os romances.
Não, eu não me arrependo. É verdade que sinto falta de algumas histórias e gostaria de relê-las com a perspectiva e o distanciamento que tenho hoje, mas não me arrependo amargamente ou me condeno por causa disso. Não. Fiz o que achava necessário, entrei em uma nova fase criativa, digamos assim, com textos e temáticas que eu, ingenuamente, considerava mais ‘sérios’ e ‘maduros’. Essa decisão coincidiu com minha entrada na faculdade de Letras e meu contato com academiloides babacas para os quais literatura só é aquilo que a crítica especializada já cansou de boquetear. Você sabe do que eu estou falando: o cara para o qual você diz que gosta dos livros de King, Tolkien, e ele entorta a boca, depois começa uma aula sobre talvez Guimarães Rosa, talvez Faulkner, citando todos os críticos e teóricos que ele conseguiu estudar superficialmente nas aulas de Teoria Literária ou algo que o valha.
O tempo passou, flertei com vários gêneros literários, voltei timidamente para o horror (cheguei a escrever para o teatro uma peça gótica chamada Vampíria, que obteve uma excelente recepção da plateia e me rendeu convites para festivais) e depois passei um tempo na fantasia — que é mais ou menos onde me encontro hoje, apesar de arriscar dizer que meus últimos contos e até meus dois romances inacabados passeiam com as patas de uma aranha que se mantêm uma na fantasia, outra no erotismo, uma terceira no humor e daí por diante.
Minha criação literária diminuiu MUITO depois que passei a usar internet — em 2005 — e esse é, atualmente, meu principal percalço: sou dispersivo por natureza, me viciei em internet e fico extremamente improdutivo e desconcentrado quando tento fazer qualquer coisa no computador. Paradoxalmente, não quero abrir mão da ferramenta, não por enquanto, e sim aprender a dominá-la de modo a facilitar meu trabalho.
Os filmes de horror? Verei outros essa semana. Os livros? Talvez tenha esquecido de mencionar, mas eu não larguei minhas leituras (consigo sentir prazer tanto com Dostoiévski e Tostói, quanto com Stephen King e Clive Barker).
E quanto aos escritos? Bem, no momento não há nenhuma história assustadora que eu tenha para contar. Mas isso é agora, hoje, amanhã talvez seja diferente.
* Nota:
Não tão antigamente, a palavra “terror”, para nós, tinha um significado (vampiros, monstros, fantasmas) totalmente diferente do que tem hoje, após o 11 de setembro. Para evitar relações com o terrorismo, optei pelo termo “horror”, que nem me agrada tanto, mas que talvez represente melhor, hoje, algo que possamos relacionar a vampiros e lobisomens, e não a pessoas explodindo coisas.
July 14, 2013
Superman: It’s not easy...
Minhas primeiras leituras foram, principalmente, gibis. Para ser exato, comecei pela Turma da Mônica e, mais tarde, descobri os quadrinhos de super-heróis, bem como os títulos mais pesados, como os do selo Vertigo, que na época me provocavam, sei lá, uma sensação esquisita para a qual eu ainda não encontrei a palavra adequada — que talvez só exista em alemão.
Veja bem: não era medo. Naquela época eu já era uma espécie de enciclopédia viva de filmes de terror (uma qualidade que perdi em algum lugar entre os 15 e os 20 anos), do tipo que já viu quase tudo, que conhece diretores por nome e nacionalidade, assim como o ano de produção daquele filme esquisito que ninguém viu, esse tipo de coisa. Considerando que nasci e me criei numa província em meio a uma quase total inacessibilidade à informação, e que isso se deu numa era pré-popularização da internet, falo do assunto com certo orgulho e vaidade, e em outra oportunidade voltarei a ele.
Mas eu estava falando de quadrinhos. O primeiro super-herói que eu conheci foi o Superman (na época chamávamos Super-homem, pronunciando “Superomen”), que chegou às minhas mãos de uma forma que às vezes nem eu acredito.
Foi assim: eu tinha um vizinho que aqui vou chamar de P., dois ou três anos mais velho que eu. Seus pais eram evangélicos do tipo que sequer tinham TV em casa, e mantinham o filho no que considerávamos, eu e os outros garotos da rua, uma verdadeira prisão domiciliar: P. não saia para brincar na rua, como nós, e, às vezes, para brincar com ele tínhamos que ir até sua casa e brincar através da grade do portão.
Ele tinha um primo em uma cidade vizinha que era mais velho do que todos nós e que colecionava quadrinhos desde a infância. Um dia qualquer esse primo se converteu ao cristianismo (salvo engano, a igreja Assembleia de Deus) e, decidido a começar uma nova vida, crente de que os quadrinhos que ele juntara a vida inteira eram coisa do diabo, doou todos a P., que os aceitou num primeiro momento, mas que foi obrigado a se desfazer por causa de seus pais:
— Isso é coisa do diabo, vamos jogar no lixo.
P. nunca me contou como, mas convenceu os pais que melhor do que jogar os quadrinhos no lixo seria dá-los a alguém –— e eu fui o felizardo, provavelmente por se tratar do único de nossa turma inteira (4 ou 5 garotos, todos da mesma rua) que gostava de ler.
Disso eu lembro como se fosse ontem: P. me entregou três caixas enormes, ENORMES, totalmente cheias de quadrinhos os mais diversos: Batman, Superman, Homem-Aranha, Spawn, Wildcats, X-Men, Lobo, doze volumes de uma coleção do selo Vertigo, alguns exemplares da revista Wizard, em inglês, Juiz Dredd, The Savage Dragon, e muitos, muitos outros, alguns dos quais sequer cheguei a ler.
Claro, foi um presente e tanto e do qual, infelizmente, me desfiz alguns meses depois, uma ação da qual me arrependo (uma das poucas das quais REALMENTE me arrependo, diga-se de passagem). Apesar disso, tive grandes momentos com aquelas revistas, alguns inesquecíveis, como a leitura de ‘Lobo está morto’, em dois volumes, que fez com que eu me sentisse o maior de todos os pecadores, hereges ou sei lá o quê, simplesmente pelo fato de ter lido aquilo — mais tarde o czarniano se tornou um dos meus personagens favoritos, a propósito —, e as várias HQs do Homem de Aço, que, dentre as centenas de gibis, foram as primeiras que eu li pura e simplesmente por já conhecê-lo dos filmes (aqueles com o Christopher Reeve, que costumavam passar ad nauseam na Sessão da Tarde).
Naturalmente, me tornei um fã. Fã de verdade, veja bem, do tipo que discute sobre quem é o melhor o maior o mais foda. Revia os filmes do Reeve e adorava, apesar de no fundo ficar com a sensação de que ainda não era bem aquilo. Mas, como disse lá atrás, alguns meses depois me desfiz de todos os quadrinhos (negociei com o dono da única Banca de Revista do meu bairro, que talvez tenha feito naquele dia o melhor negócio de sua vida: ele me deu um crédito em compras, eu lhe entreguei todos os meus quadrinhos).
Aqui cabe outra digressão: sempre que lembro do fato, fico com vontade de ir lá na banca (ela ainda existe) e explodi-la. Okay, okay, exagero, verdade. Além disso, a culpa foi minha, não? Eu quem procurei o cara, fiz a proposta etc. Tudo porque, bem, queria quadrinhos que ainda não tinha lido e não tinha dinheiro para comprá-los. Mas voltemos ao Superman, que foi pra falar sobre ele que iniciei esse post.
O tempo passou etc., passei a me dedicar mais à leitura de livros do que de quadrinhos e esse tipo de coisa, mas um dia, em 2006, para ser preciso, o Superman – Returns estreou nos cinemas do mundo inteiro e eu, bem, fui à estreia acompanhado de Mínelo, grande amigo dos tempos da adolescência, e desenhista.
Não gostei do filme. Quer dizer, gostei, mas ainda não foi o que eu esperava e, naturalmente, fiquei um pouco decepcionado. Ainda não era aquilo, sabe? Faltava algo. Aquilo não era O Superman. Não O Superman que eu criei e cultivei em minha imaginação durante todos aqueles anos, e foi com uma sensação de derrota que saí do cinema naquele dia. Comentava com Mínelo que o filme era bom, mas que ainda não era um filme digno do Superman, que ainda faltava algo: drama, talvez, um pouco menos de caricaturismo, certamente. Assim, voltei para casa convicto de que jamais fariam ‘o filme certo’, e confesso que, em segredo, cheguei até mesmo a esboçar aquilo que considerava o roteiro ideal para uma trilogia do Super.
Então os anos passaram e Hollywood começou com a ideia de Man of steel (O Homem de Aço), que a princípio olhei com ceticismo e depois com, digamos, fé. Confiava no trio Nolan/Snyder/Goyer, mas não queria criar grandes expectativas. Apesar disso, foi inevitável, e foi com os olhos lacrimejando, e me arrepiando a cada segundo, que vi os primeiros teasers, os primeiros trailers.
Finalmente, o filme estreou. Não pude ir à pré-estreia, como havia planejado, e só ontem tive condições de ligar para Mínelo e:
— Simbora pro Man of steel?
— Como nos não tão velhos tempos!
— Sim, como nos (não tão) velhos tempos.
— Simbora.
E lá fomos nós: compramos nossas entradas para a sessão legendada não-3D (eu não tenho mais o menor saco para filme 3D), escolhemos nossos lugares, compramos o maior pacote de pipocas possível e, cada qual segurando um copo de refrigerante tamanho Hodor, fomos ver o filme.
O que dizer? Para começar, que finalmente saí satisfeito do cinema, que finalmente vi um filme do Superman, um filme maduro, com drama, com pouco caricaturismo e que eliminou até mesmo algumas das coisas que eu considerava um verdadeiro despropósito (a cueca por cima da calça, por exemplo) e que, apesar disso, não deixou de ser fiel aos quadrinhos, muito pelo contrário.
Saí da sessão ‘com a alma lavada’, como se costuma dizer, e desejando que o filme seja um verdadeiro sucesso para que, em breve, possamos ter a sequência.
Em resumo, posso dizer que gostei de tudo.
Mínelo concordou.
Agora fiquem com o videoclipe abaixo.
Para mim, Superman é um dos personagens dos quadrinhos com maior potencial dramático. Adorei esse vídeo.Ah, e se você ainda não foi ao cinema: vá. Se você for tão fã do Superman quanto eu, tenho certeza que não irá se arrepender.
Confie em mim.
July 8, 2013
Enfim… férias! (ou quase)
Finalmente entrei em férias da faculdade: okay. Esperei muito por isso e o motivo principal era: poder me livrar um pouco das leituras jurídicas obrigatórias e ler as coisas que me dão prazer, a saber: livros de arte, história (geral e do Brasil), biografias, cartas, diários, romances, novelas, contos, crônicas, filosofia, ensaios filosóficos/literários, quadrinhos, revistas… bem, nada de Direito pelos próximos… dois meses? – A verdade é que nem sei quando as aulas voltam.
E o pior: meu plano de ficar sem leituras jurídicas foi por água abaixo por causa do seguinte detalhe: Exame da Ordem, que prestarei agora em agosto e que, pasmem, havia esquecido completamente.
Eu deveria ter continuado em Letras, né? (Ou então ter ficado com a Filosofia ou o Jornalismo, sei lá…). De qualquer forma, meti a cara e fiz o que faço todos os semestres: investi algumas economias nos livros da ‘leitura das férias’.
Ritual é ritual, quero nem saber.
 “Vai pra praia, Denser…” (Professor, meu)
“Vai pra praia, Denser…” (Professor, meu)
De baixo pra cima: História do Brasil (Bóris Fausto), Getúlio I (Lira Neto), Hitler (Ian Kershaw), O Terceiro Reich em Guerra, O Terceiro Reich no Poder e A Chegada do Terceiro Reich (todos do Richard J. Evans). E ainda tem o LINDO História do Brasil – Uma interpretação (Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota), que me dei de presente de aniversário:
Já comecei a leitura de Getúlio, estou quase terminando e já espero pelo volume II – que até onde sei não foi publicado ainda –, mas acho que vou diminuir o ritmo de agora em diante por causa do Exame da Ordem.
Na verdade, não sei.
Não sei. Pelo menos vou tentar, é isso.
E aqui vai uma dica de ouro, minha gente (e que, se pudesse viver de novo, jamais deixaria de seguir): façam APENAS o que lhes deixa feliz.
E isso vale pra tudo na vida: da escolha da carreira ao encontro com os amigos no barzinho.
É o que tentarei seguir assim que me livrar de algumas obrigações que me impus. Está mais perto do que nunca.
Espero.
July 1, 2013
O Sonho de Minnie Mouse

A CAPINHA IMPERMEÁVEL COR-DE-ROSA, salpicada de sangue e empoada de terra, abrigava o corpo imóvel de uma garotinha negra: cabelos crespos presos no laço de uma trança desfeita, grãos de areia e formigas saúvas maquiando as pálpebras semiabertas; a boca estourada dum murro.
Ao lado do corpo: dois dentes de leite, catarro, sangue, esperma, e uma lancheira da Barbie. Dentro da lancheira, uma garrafinha de suco de maçã e um sanduíche de pão com salame enrolado cuidadosamente em guardanapos duplos.
Mais além: a mochila jogada de qualquer jeito, intocada em seu interior, abrigo de um caderninho de capa mole, de uma bolsa cheia de lápis de pintar.
A capinha impermeável cor-de-rosa já não possui razão de vestir, a chuva se foi há horas.
Ao lado do corpo: mais formigas se aproximam.
Mais além: a mochila permanece jogada de qualquer jeito.
O lugar é ermo, coberto de mato, ninguém encontrará o corpo a tempo de lhe dar um velório. Talvez nunca encontrem. Nunca, a não ser que o homem alto, aquele homem alto que agora se banha, resolva confessar o que fez. E onde fez.
Isso, porém, não vai acontecer. Eis o que vai: o corpo da garota apodrecerá mais rápido que o normal em virtude de estar ao ar livre. Bactérias nascidas e criadas na floresta de seu próprio organismo, insetos vindos do exterior e verminosidades necrófagas ajudarão no processo de decomposição do corpo.
Gases explodirão em seu estômago.
Cabelos e unhas serão as únicas coisas nela que continuarão a crescer.
***
 Seu nome era Emily, mas seu irmão mais velho lhe chamava Ba-boo, parodiando a forma como ela pronunciara “Barbie” pela primeira vez. Ela não se importava, gostava do irmão e nada que ele fizesse iria mudar isso.
Seu nome era Emily, mas seu irmão mais velho lhe chamava Ba-boo, parodiando a forma como ela pronunciara “Barbie” pela primeira vez. Ela não se importava, gostava do irmão e nada que ele fizesse iria mudar isso.
Emily adorava poucas coisas na vida: além da família, talvez apenas Minnie Mouse, Barbie e leite com Nescau fossem dignas de citação. Identificava-se, porém, muito mais com a Minnie que com a Barbie, talvez por esta representar o antropo-ideal estético branco enquanto aquela nada, além de uma menininha meiga, representava para Emily, uma garota que jamais admitiria a natureza roedora de sua pequena deidade.
Emily em muito se percebia diferente daquela pequena fada-boneca: loira, alta, magra, com cabelos sedosos de fios dourados, nariz afilado, olhares azuis (ou verdes? Castanhos certamente não eram!) e toda uma lista de adjetivos (Barbie também era rica, vestia roupas bacanas, andava em carros esportivos conversíveis e passava as férias na Califórnia — ou morava lá? Para Emily era tudo a mesma coisa).
A Minnie, por sua vez e exatamente como Emily, para começar, não era uma pequena mulher, mas uma grande criança. Minnie usava vestidos cor-de-rosa com bolinhas brancas, e não parecia ter nada de sofisticado o suficiente para estar além da compreensão de Emily, exceto talvez por Mickey, que dava muito trabalho e a quem Emily, se fosse sua namorada, já teria dado um pé na bunda.
Em seus devaneios, brincava de ser Minnie. Não tinha amigas e o irmão já entrara na idade em que brincar nada mais era que um termo merecedor de desprezo e negação, portanto brincava só; e quando brincava, era Minnie.
— Eu sou a senhora Minnie Mouse!
E assim era a senhora Minnie Mouse: uma criança pobre ma non troppo, bastante imaginativa e enérgica que aprendeu a ir-e-vir para/da escola apenas um mês antes de ser avistada e cobiçada por uma espécie qualquer de maníaco que quando excitado sexualmente só consegue voltar à razão depois de ejacular seu esperma ralo no cadáver sujo de uma moça qualquer. Mesmo a moça que é criança, que sequer menstruou, em cujo raciocínio e fala ainda existe a inocência das variações metatéticas de quem ainda nem aprendeu direito a falar.
Minnie Mouse morreu com um sonho que jamais iremos conhecer, mas que sempre poderemos supor: talvez fosse a garota que quer ser modelo, quem sabe doutora em potencial, por que não dizer dançarina, atriz, bailarina, do lar, um trabalho informal? Nunca se saberá, é verdade, mas havia um leque de perspectivas então podemos trabalhar as mais variadas possibilidades visto que Minnie Mouse era energia e talento reencarnados num ossudo corpinho.
O destino de Minnie Mouse, contudo, foi exatamente aquele para qual nenhuma das perspectivas apontava: quatro ossos quebrados, dois dentes partidos, um ventre rasgado e a dor indescritível de quem aguenta aquilo que não se pode suportar: o peso de cento e dez quilos sobre o corpo que só faltava voar, o membro encorpado de monstro a rasgar tudo o que poderia vir a ser fruto de algum prazer menos sórdido, num futuro que pouco tivesse de mórbido, e que não foi o caso de Minnie Mouse.
Minnie Mouse morreu e se metamorfoseou em comida de verme. Destino que Deus lhe escolheu? Não se sabe. Sabe-se apenas do estuprador: já viveu seus quarenta, goza a perfeita saúde de quem nasceu para o terror e, isso é certeza, fará outras vítimas.
O sonho de Minnie Mouse permanecerá um mistério irrealizável.
June 9, 2013
Os Sofrimentos do Jovem Goethe
Finalmente, após quase um ano de procura incansável, consegui assistir o filme Young Goethe in love (ou simplesmente Goethe!, com exclamação e tudo). Apesar de algumas inconsistências históricas, me diverti bastante.
Não deixou a desejar, pelo menos para mim.
Cena Favorita
Goethe, após ser retirado por seu pai da reclusão, é levado a Frankfurt, para trabalhar sob sua supervisão, em seu escritório. Ao chegar à cidade, um tumulto obstrui o caminho de sua carruagem: pessoas amotinadas, digladiando-se etc. Curioso, o jovem Goethe desce da carruagem vestindo sua casaca azul com colete amarelo, combinação um pouco incomum e de gosto duvidoso para a época, e pergunta o que está acontecendo: "Você tava morando numa caverna? Certamente não é daqui!", dizem as pessoas. Sem saber o que pensar, Goethe se espreme por entre a multidão e percebe que o centro do motim é justamente uma livraria. Em companhia de seu pai, arrasta-se com dificuldade e vai até lá, onde começa a perceber que boa parte dos jovens se vestem com uma roupa igual a sua. Lá, diante de uma multidão ensandecida, o livreiro pede desculpas e promete que no dia seguinte chegarão mais cópias do livro.
— Calma, pessoal, calma! Prometo que amanhã terei mais cópias!
O pai de Goethe pega um dos livros com um dos presentes:
— Parece que as pessoas gostam dos seus rabiscos...
Goethe olha para ele assustado, pega o livro, folheia e vê, maravilhado, que trata-se de Os Sofrimentos do Jovem Werther, escrito por ele em apenas 25 dias, alguns meses antes.
— Você teria sido um péssimo advogado, de qualquer forma - diz seu pai.
Como não sentir empatia?