Joel Neto's Blog, page 77
December 28, 2012
Lisboa, 28 de Dezembro de 2012
Jantar ontem à noite em casa dos Letartres, com o velho gangue e a miudagem toda. Como nós voltávamos para os Açores antes do Réveillon e o Jorge tinha de regressar a Bruxelas ainda hoje, foi decidido que se anteciparia o tradicional jantar de passagem de ano. Houve desejos de felicidades e brindes e até uma contagem decrescente fictícia.
Lisboa vai-se desagregando, mas apesar de tudo há expedientes para aplacar essa desagregação. Há os afectos, sobretudo. O seu exercício. E estes são dessa estirpe inexpugnável que resiste a tudo: à geografia, à economia, ao tempo, à própria morte.
Acabámos a festa no Cais do Sodré, os dois resistentes do costume: madame Letartre e este seu humilde chaperon. Sim, também isso me faz falta na Terceira: a Pensão Amor, o Musicbox, a noite decadent-chic, uma selecção musical coerente, gente da minha idade que não se fecha em casa às sete da tarde, tendo ou não filhos.
Ou faz-me falta essa possibilidade, essa alternativa. Na verdade, eu próprio só quero, hoje em dia, fechar-me em casa às sete da tarde, a ler. Para queimar o que me resta do fígado em vodcas a sete euros e meio a dose, uma viagem a Lisboa mês sim/mês não, nesta idade, já é mais do que suficiente.

December 27, 2012
Lisboa, 27 de Dezembro de 2012
December 26, 2012
Lisboa, 26 de Dezembro de 2012

Admito que sim: que, combinadas as necessárias circunstâncias, qualquer jornal – e se calhar até qualquer jornalista, não é esse o ponto – podia ter caído na burla de Artur Baptista da Silva. Vale a pena, no entanto, guardar este caso para além dos naturais ajustes de contas dele decorrentes, incluindo entre o jornalismo dito popular e o jornalismo dito de referência, as certezas absolutas dos opositores de Passos Coelhos e a política do Governo em geral, os inimigos do Expresso e Nicolau Santos em particular.
O “burlão do PNUD” merece um estudo de caso porque: a) revela a ligeireza de algum (de muito?) do discurso que domina o nosso espaço público, e em especial daquele que o domina desde que, em 2010, se percebeu que a falência do Lehman Brothers lançara um maremoto na nossa direcção; b) deixa a nu as deficiências de articulação entre as mais diversas instituições e personalidades portuguesas, incapazes, mesmo tendo sido nominalmente citadas em conferências e entrevistas, de identificarem a burla num espaço razoável de tempo; e c) parece transferir para as televisões uma autoridade e um rigor que não só pertencia antes aos jornais, como, sobretudo, parecia constituir a única arma com que esses jornais poderiam resistir à voragem da imagem em movimento e/ou da actualização ao minuto.
Facto: salvo excepções – incluindo as reportagens da televisão sobre a conferência de Baptista da Silva no Grémio Literário e, no extremo oposto, a agilidade de vários matutinos na resposta à primeira notícia da burla –, o conto do vigário proliferou nos jornais e caiu quando tentou proliferar na TV. E isso merece reflexão.
***
Não tenho de fazer um esforço muito grande para perceber o êxito da burla. Basta lembrar-me da vez que eu próprio me deixei burlar.
Estávamos em 2007 ou 2008 quando recebi da Ana Brasil, hoje jornalista do "Público", um promissor telefonema: uma associação cultural açoriana queria fazer uma revista de viagens sobre ilhas, ela própria havia sido contratada como directora e, como não tinha experiência na área, precisava de know-how suplementar . Lá fui eu.
O "administrador" da dita associação, bem como da famigerada revista, era um certo António Marinho de Matos, que já nos anos 80 tinha espalhado sangue entre uma série de amigos escritores, por via – salvo erro – da aventureira editora Signo. Conheci-o, ainda antes de sequer perceber a relação entre aquele "António Matos" e o "Marinho de Matos" de que tanto ouvira falar, e disse para comigo: "Xi, que é burlão." Depois encontrámo-nos uma série de vezes, sempre em Angra, e de cada vez que nos encontrávamos eu suspirava para mim próprio: "Estás a meter-te numa bela encrenca, Joel. Este tipo é um aldrabão de primeira apanha!"
E, no entanto, era como se não pudesse evitá-lo: apesar das suspeitas, das memórias e até dos avisos dos amigos, continuei a fazer-lhe a revista. Bem bonita, por sinal. Com design do Rui Leitão, fotografias do Pedro Loureiro e do Manuel Gomes da Costa, crónicas do Francisco José Viegas e da Maria Filomena Mónica, reportagens do Ricardo Santos e do Joaquim Gromicho , entrevistas ao Ricardo Araújo Pereira e ao Genuíno Madruga (entre outros, entre outros e entre outros). Gosto de acreditar que, apesar do seu número único, a "1001 Ilhas" foi a melhor revista mainstream que alguma vez se fez nos Açores.
Marinho de Matos foi desaparecendo ao longo do processo, percebendo que não ia conseguir encaixar os milhões em publicidade institucional que, na sua megalomania de burlão, via desfilar em sonhos. No fim, ardi com seis ou sete mil euros: todo o dinheiro que ele me ficou a dever a mim e mais aquele que, envergonhado, paguei do próprio bolso aos colaboradores mais necessitados. E ardi, inevitavelmente, com um bocado da minha honra e outro do meu bom nome, até porque não havia maneira de pagar eu próprio a toda a gente.
Mas o essencial é isto: eu quis acreditar. Naturalmente, não como arma de arremesso político, como agora aconteceu: porque a ideia de que se poderia um dia fazer nos Açores uma revista de qualidade nacional, mesmo internacional, era-me demasiado cara e encantadora. No limite, queria dizer que eu poderia voltar um dia. Que a geografia dos Açores já não era uma limitação para ninguém – nem sequer para eles próprios. Que tudo era possível.
Mas, no fundo, eu sabia. Sabia.
E todos nós, neste caso, também sabíamos. Tínhamos de sabê-lo.
December 25, 2012
Lisboa, 25 de Dezembro de 2012

É difícil assistir a este momento da história do Sporting, incluindo cada novo passo que dá no sentido da autodestruição – o súbito esmagamento hierárquico do terceiro treinador da temporada, as denúncias de que há opositores agredidos a troco de dinheiro –, sem uma profunda comiseração. Sendo ou não sportinguista, qualquer amante de futebol deveria ao menos perceber o papel que o Sporting tem como medida da grandeza dos outros dois grandes.
É por isso que o bullying que continuamos a surpreender em quase todo o lado, pelos cafés, sobre as divisórias dos escritórios, nas redes sociais, é para mim desconcertante. O bullying futebolístico é maravilhoso. Quase tudo o que importa no futebol, para além dos seus papéis como repositor de memórias e como agregador de emoções e identidades, é o bullying. Mas há um momento em que o bullying funciona contra si próprio, porque se a vítima morrer não há mais bullying para ninguém. Não há mais divertimento. E eu, se fosse por exemplo do Benfica, já teria começado a sentir na minha própria pele esta devastação.
Uma coisa teria sido satirizarem-me durante anos por causa de um sexto lugar no campeonato, outra continuarem a dar-me pontapés muito depois de eu estar prostrado e exangue e outra ainda eu mesmo continuar a pontapear alguém depois de estar ele prostrado e exangue. Não é prático, não é humano e, sobretudo, não me parece expressão do código de engajamento que eu julguei que existia neste jogo. Nesta luta. Nesta guerra. Da última vez que eu verifiquei, o futebol era, apesar das excepções, um mundo de gente. Ter-se-á, pelo meio, transformado num mundo de bichos?
December 24, 2012
Lisboa, 24 de Dezembro de 2012

Já tem muito pouco a ver com amor, isto. Tem muito mais a ver com medo, com culpa, com ambição.
Com a ambição de obter um favor por via daquele zelo. Com a culpa de não tê-lo demonstrado devidamente ao longo do ano. Com o medo das consequências de não marcar presença.
E, portanto, aí vamos nós, o dia inteiro: telemóvel na mão, centenas de mensagens a chegar, centenas de mensagens a partir, longos telefonemas em que fazemos as perguntinhas todas da ordem – “E o teu pai?” “E o miúdo?” “E a Dora?” –, mas cujas respostas não conseguiríamos reproduzir ao fim de cinco minutos.
O Natal é maravilhoso durante todo o mês de Dezembro, mas chegado aqui transforma-se num pequeno inferno. Pode transformar-se – e, para muitos, transforma-se de facto.
Para mim, não. Já não. A partir das 14h00 de dia 24, acabou-se: telefono à família, respondo às mensagens dos íntimos e o resto fica para processar ao longo da semana.
Não quero impedir as operadoras telefónicas de fazerem o seu negociozinho. Nem os simples de se maravilharem com as frases da Internet. Nem às pessoas em geral de se convencerem que a sua vida é hoje menos vazia do que era a 30 Novembro ou será a 2 de Janeiro.
Quero apenas, como em tudo o resto – e cada vez mais, de há uns anos a esta parte – ser livre. O mais livre possível. Inclusive da obrigação de declarar amor a outros que não apenas àqueles que amo. Ainda que só durante um dia.
E quero não falar ao telefone, claro. Mas isso é o ano inteiro.
December 23, 2012
Lisboa, 23 de Dezembro de 2013
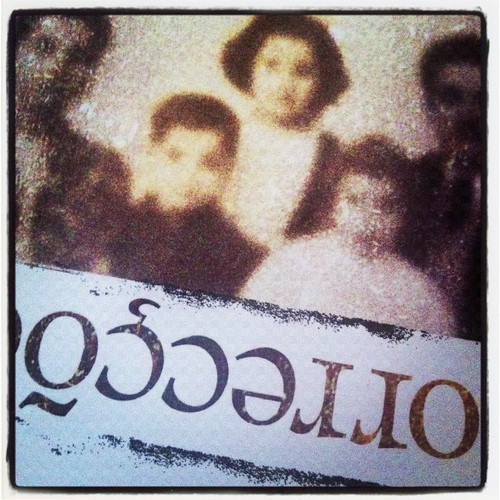
Uma rapariga estrangeira acaba de passar lá em baixo aos gritos: "Polícia! Polícia! Polícia!" Correu a rua de um lado ao outro, conferiu as esquinas, desapareceu na direcção do castelo, voltou para baixo e tornou a passar: "Polícia! Polícia! Polícia!" Terá sido assaltada e não lhe apareceu um só agente. Fica a saber que a polícia, nos bairros lisboetas, serve apenas para bloquear automóveis e passar multas de estacionamento. É a primeira coisa que um visitante deve aprender sobre Lisboa, tanto quanto a primeira coisa a aprender em Londres é o número de linhas do metropolitano ou em Nova Iorque a direcção do Central Park.
***
Nenhum dia em que se leiam três páginas de Jonathan Franzen com um diálogo familiar é um dia suficientemente desperdiçado.
December 22, 2012
Lisboa, 22 de Dezembro de 2012

Suspeito que há razões para “Os Desastres do Amor”, construído a partir de textos de Marivaux, ter sido considerado um dos espectáculos da temporada. Começa por parecer uma colagem ligeira, uma parábola demasiado obviamente política e engagé. Mas depois cresce em nós – e, se a julgamos ter decifrado, não saímos iguais ao que entrámos.
Confesso que me fez bem ler o programa ao intervalo. Mas nenhuma ajuda é ajuda de mais quando a primeira vez que se sai à noite com os sogros – apenas os três, isto é – ameaça redundar num dispêndio de tempo e de dinheiro absolutamente gratuito.
Não sei se estava preparado para os artelhos de Luís Miguel Cintra. Ou com especial paciência para os falsetes de Rita Blanco. Ou grandemente inclinado para a estrutura (ou sequer o tom) da parábola em geral.
Mas há algo naquele exercício sobre a corrupção das virtudes que, parecendo primeiro idealista, cala fundo em nós. Talvez por via do cinismo da proposta: a “eterna” (mesmo?) tensão entre a felicidade e a virtude. Ou do facto de desfilarem à nossa frente quatro línguas europeias diferentes, o que no momento que vivemos não deixará de ser uma interessante provocação. Ou mesmo das frases que se vão recolhendo: “Tens emprego e pões problemas?”, “Comecemos por ser ricos e depois teremos soluções para ser honestos” (entre tantas outras).
A Cornucópia foi um dos primeiros teatros a que fui em Lisboa, há agora vinte anos. Se não estou em erro, estreei-me com “As Sete Portas”, de Botho Strauss. Ainda o acho um bocadinho cagão, confesso. Mas o teatro, mesmo quando é difícil, ou chato, ou mesmo mau, é sempre bom.
Além de tudo, Luís Miguel Cintra dá um inesperado show cómico. Até de noiva se veste. E eu não consigo ser insensível a esse momento em que, enfim, uma diva perde o juízo.
Como me aborrecem as divas.
December 21, 2012
Lisboa, 21 de Dezembro de 2012
A grande ironia do viver é que, se um homem se desgasta no exercício estrito dos seus princípios a pretexto de todas as pequenas coisas, nunca chegará a ter a oportunidade de exercê-los a pretexto de coisas grandes.
Dei por mim a defendê-lo, há dias. Considerei-me definitivamente crescido. E, em boa medida, derrotado.
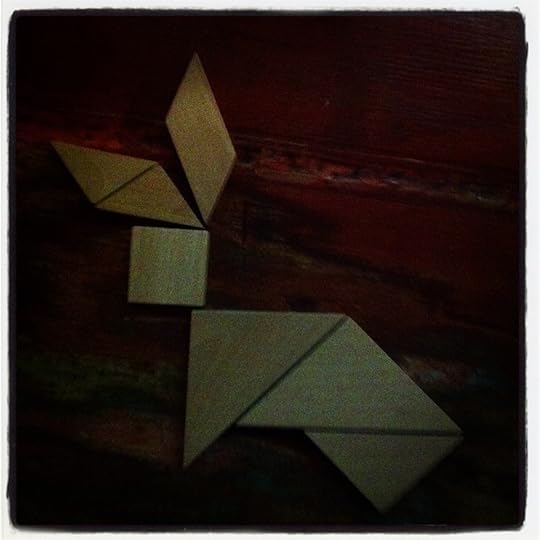
December 20, 2012
Lisboa, 20 de Dezembro de 2012

Uma “profecia” dos maias, ou de Nostradamus (ou deles todos, que sei eu?), terá previsto que o mundo acabava amanhã. Há seis meses que se fala nisso, há uma semana que não se fala noutra coisa e estes dois dias prometem ser particularmente insuportáveis. Mesmo os mais blasée, para quem a história é uma treta, têm-se dedicado a tempo inteiro ao tema, satirizando-o. A boçalidade espraia-se pelas fábricas e pelos escritórios, pelos cafés e pelas redes sociais, pelas salas de espera dos consultórios e pelas mesas de jantar das famílias. A falta de assunto é uma tragédia. Seca tudo à volta.
***
Da série Palavras Que Vão Reentrando No Meu Vocabulário. Camisa de meia.
December 19, 2012
Lisboa, 19 de Dezembro de 2012

Já o escrevi: há uma devastação em quem joga golfe. Ou pelo menos em quem o joga assim, como nós o jogávamos: avidamente, correndo a jogá-lo sempre que possível, a meio da semana, mal vestidos, sem exibicionismos ou charutos.
Não sei se a devastação provém do próprio jogo, se lhe é anterior. Sei que é contra alguma coisa que o jogamos. Até certo ponto, sim, é isso: jogamo-lo contra a solidão. Jogamo-lo contra o fracasso, talvez. Jogamo-lo contra o tédio, seguramente. E contra as exigências da vida moderna, e contra essa regra que diz que os homens nascidos pobres não podem jogá-lo, e contra os divórcios, e contra o desemprego, e contra o envelhecimento, e contra a rudeza, e contra a imperfeição em geral e em concreto, e até contra a doença.
Jogamo-lo para nos divertirmos e jogamo-lo contra a morte. E, por muito que eu tenha companheiros de golfe um pouco por todo o lado, velhos e novos, ricos e pobres, continentais e açorianos, os meus companheiros da Aroeira, que de alguma maneira me viram vencer tudo isso caminhando sobre o verde, que me viram vencer a morte (mesmo sem o saberem), jogam comigo onde quer que eu jogue, estejam fisicamente presentes ou não.
Jogámos 27 buracos hoje. Teríamos jogado muitos mais, se não houvesse caído a noite. A noite não é boa para jogar golfe com os meus companheiros da Aroeira. Provavelmente, isso diz tudo o que há a dizer sobre a noite.




