Joel Neto's Blog, page 26
February 25, 2015
Do zero
 O Miguel está todo contente: quatro anos depois de se casar, vai começar a fazer a sua casa. No fundo, não sabe como aguentou tanto.
O Miguel está todo contente: quatro anos depois de se casar, vai começar a fazer a sua casa. No fundo, não sabe como aguentou tanto.
Disse-mo um dia destes, quando nos cruzámos na pastelaria. “Finalmente!” Dei-lhe os parabéns e, além do café, pedi uma covilhete de leite. O açúcar conforta-me.
Na verdade, não somos assim tão diferentes. Os meus vizinhos continuam a construir casas novas quando se casam porque querem revestir-se de uma sensação de urbanidade. Eu gosto de viver em casas velhas, rústicas e gastas, porque quero – também quero – revestir-me de uma sensação de ruralidade.
Em ambos os casos, neste lugar onde vivemos como no século XXI, há um grau de ilusão.
Poderiam, evidentemente, invocar-se a economia, a racionalidade, a própria paisagem. Há demasiadas casas livres na ilha – é estúpido construir mais. Porque custa caro e porque, na maior parte das vezes, tem ficado feio.
Horrível.
Não argumentarei com mais do que a memória. Às vezes ponho-me no meu jardim, olho para as escadas e imagino a minha mãe ali sentada, aos sete ou oito anos, a debulhar ervilhas. Vejo o castanheiro do cerrado e penso no cabo de aço que o meu avô inventou para fazer descer os molhes de lenha da mata. Aproximo-me do curral do porco e encontro o meu, pai acabado de chegar à terra, um garoto ainda, melhorando-o para mostrar os dotes ao sogro.
Eu não quero começar do zero. Nunca quis. Começar do zero haveria de custar-me não só memórias, mas medos e culpas. Nem sequer sei como se pode viver sem o medo e a culpa.
Mas sei que se pode. Vejo-o todos os dias. E, no ponto da vida em que estou, já não aplaudo nem deploro. Enquanto houver jazz e amendoins, tudo o mais conservará algum grau de irrelevância.
Diário de Notícias, Fevereiro 2015
February 24, 2015
Alcunhas
 Aqui chamam-se apelidos, e eu ponho-me com a minha mãe a fazer listas. Há os antropomórficos (Barbado, Carrapicho, Fininho, Fuso, Rasteiro) e os que, não sendo zoomórficos, são pelo menos zoológicos (Besouro, Choco, Formiga, Gatinho, Porca Amarela). Uns podiam ser apelidos mesmo, nomes de família a sério (Branco, Camurça, Galão, Poeira), e outros só se o funcionário do registo estivesse com os copos (Bambela, Bilhoco, Sobica, Xairela, Xidoca, Zabela, Zaranza).
Aqui chamam-se apelidos, e eu ponho-me com a minha mãe a fazer listas. Há os antropomórficos (Barbado, Carrapicho, Fininho, Fuso, Rasteiro) e os que, não sendo zoomórficos, são pelo menos zoológicos (Besouro, Choco, Formiga, Gatinho, Porca Amarela). Uns podiam ser apelidos mesmo, nomes de família a sério (Branco, Camurça, Galão, Poeira), e outros só se o funcionário do registo estivesse com os copos (Bambela, Bilhoco, Sobica, Xairela, Xidoca, Zabela, Zaranza).
Alguns hão-de vir da profissão de um pai ou de um avô (Cabreiro, Bispo) e outros dos vegetais cultivados lá em casa (Batatinha, Sarralha). Nuns casos a origem é a geografia (Das Bicas, Da Serra, Varedas) e noutros ainda a dinastia, tantas vezes matriarcal (Da Aninhas, Das Bernardas).
Há os que falam de singularidades de expressão (Jadeu), de ausência de expressão (Mudo) e mesmo de excesso de expressão (Ligeiro).
Há diminutivos (Cachinha, Casquinha, Estacinho, Estevinho, Zanguinha) e há pronomes possessivos (Nosso). Há, como seria de esperar, aqueles que lembram idiossincrasias infelizes (Cara Suja, Chorica, Valhaquinho) e até aqueles cujo momento da concepção será melhor nem lembrar (Peidão, Cagão).
São as alcunhas da Terra Chã. Podia escrever-se a biografia de um lugar a partir apenas das suas alcunhas – um romance inteiro só imaginando as origens delas.
Falham-me as grafias de várias. Não sei se Sobica é com “o” ou com “u”. E Besouro, dizendo-se “Bisoiro”, talvez devesse escrever-se Bisoiro também.
De qualquer modo, chamar Rasteiro a um homem não é a mesma coisa que chamar-lhe Anão. E a profusão de diminutivos faz-me crer que sempre houve nisto uma certa ternura.
Sobre o tal bispo, não sei nada, mas vou tentar saber. Por mim, ainda não tenho apelido. Se pudesse escolher, escolhia Nosso.
Diário de Notícias, Fevereiro 2015
February 23, 2015
Pardelas
 Ontem à noite pareceu-me ouvir um cagarro. Foi impressão: a não ser que o clima tenha dado uma cambalhota demasiado grande, ainda será preciso esperar três ou quatro semanas. Bem basta este Inverno com que temos sido ungidos. O pobre desconfia.
Ontem à noite pareceu-me ouvir um cagarro. Foi impressão: a não ser que o clima tenha dado uma cambalhota demasiado grande, ainda será preciso esperar três ou quatro semanas. Bem basta este Inverno com que temos sido ungidos. O pobre desconfia.
E, no entanto, em breve aí estarão eles de novo, chorando como crianças possuídas. Trarão o mesmo parceiro de sempre, prometida que foi a saúde e a doença, e procriarão no mesmo ninho do ano passado.
Em Outubro hão-de partir outra vez para a jangada do costume, junto aos vizinhos habituais, na mesma coordenada dos mares da África do Sul ou do Uruguai. Na Primavera voarão de volta. Pelo meio, esperarão as crias, deixadas aqui à sua mercê, para que provem os merecimentos.
Uma cria de cagarro tem dez por cento de hipóteses de sobrevivência, mas lutará por ela até ao limite das suas forças. O mais provável é que não seja capaz de voar – que não entenda as estrelas, que as confunda com as casas e os carros. Talvez se estatele contra um poste eléctrico. Talvez seja apanhada pelas hélices de um avião.
Talvez seja recolhida por um homem bom, que a colocará dentro de uma caixa e, no dia seguinte, a libertará junto ao mar.
Mesmo assim, ainda terá de vencer a suprema provação: encontrar os pais. Durante dias, voará ao sol e à chuva, com ventos favoráveis, contrários e cruzados – com frio, com calor e já sem forças. Se chegar, será forçada a ficar dez anos quieta na jangada. O prémio será começar o seu próprio vaivém.
O que nos distingue dos cagarros é tudo aquilo que construímos de humano. O que nos aproxima é tudo aquilo que conservámos de social. Os cagarros vivem muitos anos, às vezes mais do que as pessoas. Cada um faça a sua própria matemática. Haverá sempre o que aprender eles.
Diário de Notícias, Fevereiro 2015
February 20, 2015
Purificação
 No fim, o meu pai lavava a cara. Isto aos fins-de-semana, quando tinha tempo de andar pelo quintal. Chegava ao pé da torneira, dobrava-se à frente dela e, antes de entrar em casa, lavava a cara.
No fim, o meu pai lavava a cara. Isto aos fins-de-semana, quando tinha tempo de andar pelo quintal. Chegava ao pé da torneira, dobrava-se à frente dela e, antes de entrar em casa, lavava a cara.
Eu gostava de ver o meu pai lavar a cara.
O meu pai não é açoriano. Começou aos onze anos a apascentar cabras nas serras de Porto de Mós e tudo o que conseguiu na vida, conseguiu-o na idade adulta, em resultado apenas do seu desejo.
Lembro-me de vê-lo sair para os gratificados, à meia-noite, tremendo de frio e de sono. Lembro-me dos chocolates espanhóis que nos trazia de Lisboa, todo contente, quando tinha de viajar para alguma acção de formação. Lembro-me de visitá-lo em Torres Novas, já muito cansado e só, quando teve de ficar meses fora para um último curso.
Nunca desistiu. Tudo o que em mim haja de irredutibilidade vem dele, apesar de eu ter demorado tanto a descobri-lo. Mas, quando acabava uma jornada pelo quintal, longe do trabalho na esquadra, dos papéis e das chatices, havia um momento em que se libertava.
Voltava a ser um pastor de Porto de Mós. Voltava a andar nas obras em Minde. Voltava a ser pára-quedista em Mueda. Pousava a podoa e o alvião. Batia as botas uma na outra. Chegava-se junto da torneira do quintal, abria-a a correr e lavava a cara.
E eu ficava ali, a vê-lo lavar a cara, achando que nunca pudera haver nada mais asseado do que aquilo.
A água jorrava-lhe sobre os caracóis. A certa altura, o seu rosto e os seus ombros ficavam muito vermelhos. O sabão azul e branco fazia uma espuma baça. E ele lavava a cara com tempo e silêncio, sob a água fria e abundante, como num ritual de purificação.
Pode-se dizer tanto sobre um homem a partir do modo como ele lava a cara ao fim de um dia de trabalho. Foi aí que descobri o meu pai.
Diário de Notícias, Fevereiro 2015
February 19, 2015
Boca Negra
 – Qual é o prato do dia de hoje, Zé?
– Qual é o prato do dia de hoje, Zé?
– Prato do dia?! Home’, eu não estou na falência. Pratos a quatro euros?! Vocês fazem ratedógues em casa e amanham-se! E fazem sopa, c------!
– Já estou um bocado farto de alcatra de peixe. E isso deve ser congelado.
– Home’, vai p’rá p--- que te pariu! Nunca congelei uma alcatra na minha vida. Ponho-as é no fresco. Como é que querias? Eu cozinho de manhã para servir ao meio-dia e cozinho à tarde para servir à noite.
– E ainda é a receita que roubaste ao Preguiça?
– F----se! Hás-de ir chatear mas é p’rá p----. Esta receita é minha. Há 27 anos.
– A ASAE sabe que te portas assim com os clientes?
– Ninguém me vem aqui chatear. Está tudo limpinho. E, se vierem, mando-os logo p’ró c------. “Não queres beber, não bebas.”
– …
– Eu estou a falar um bocado mal, mas é porque estou tirar os dentes. Estou a pôr uns implantes, por isso é que estou a falar mal.
– Para isto, mais valia teres ficado na América.
– Na altura, tinha que vir. O meu sogro era diabético e tiveram que lhe cortar as perninhas.
– ...
– Agora já não gozas?
– E isso do Sporting? Está mau, não?
– Não me fales do Sporting. Não durmo há dez anos.
– Dez anos?!
– É uns pedacinhos que durmo de noite, e mais nada.
– Ainda és sócio?
– Já não pago as quotas.
– Pois claro.
– Estou a falar a sério contigo, c------.
– Bom, onde é que me aconselhas ir comer hoje?
– Vai comer onde quiseres. Mas já sabes que não se come em mais banda nenhuma da ilha como aqui. Não tem aquele paladar.
O Zé também é conhecido por O Careca, ou mesmo O Cabrinha. Protege a sua receita como ninguém, e eu também nunca lha peço. Não quereria ofendê-lo.
Diário de Notícias, Fevereiro 2015
February 18, 2015
Primeiros dias
 De vez em quando lembramo-nos dos primeiros tempos. Acabávamos a jornada e eu sentava-me na cozinha, no mesmo lugar do meu avô, a ler o Diário Insular.
De vez em quando lembramo-nos dos primeiros tempos. Acabávamos a jornada e eu sentava-me na cozinha, no mesmo lugar do meu avô, a ler o Diário Insular.
Às vezes fazia recortes. Indignava-me. Outras limitava-me a ver os mortos e os anúncios das touradas.
Tinha a impressão de que já não lia jornais há muito tempo, apesar de os ler todos os dias.
A Catarina cozinhava. Inventava pratos novos. Acabávamos de comer e punha-se a fazer costura. Comprava tecidos, fitas, galões. Inventou cortinas e bases para chávenas. Decorava garrafinhas com rendas que diziam “Licor de Mel” e “Licor de Amora”, e depois eu tinha de arranjar licores de mel e de amora para as encher.
Eram os nomes que lhe tinham soado melhor.
Trazíamos muitos planos e deixámos uma série deles por concretizar. Queríamos ir à praia todos os fins de tarde, os dois. Queríamos entrar numa marcha das Sanjoaninas. Queríamos ir a pé à Serreta, na peregrinação da Senhora dos Milagres.
Não fizemos nada disso. E também nunca mais conseguimos pôr-nos a ler jornais e a costurar na cozinha.
Mas fizemos algumas coisas. E, pelo meio, aconteceu vida. Escrevemos crónicas e livros, fizemos traduções e conteúdos. Ganhámos amigos. Demos uma mão em associações culturais e movimentos de cidadania.
Há dias em que ainda acho que trabalho de mais. Não: todos os dias acho que trabalho de mais. Mais até do que nos tempos de Lisboa – muito mais. Mas não tenho uma insónia há dois anos e meio. A minha mãe diz que até os papos nos olhos perdi, embora possa ser bondade dela.
Os psicólogos nem sempre têm razão.
Viemos por quatro ou cinco anos e, agora, quatro ou cinco anos não chegam. Eu podia dizer que isso surpreendeu muita gente. Mas a verdade é que nos surpreendeu a nós.
Diário de Notícias, Fevereiro 2015
February 17, 2015
Amanhã
 Amanhã vamos ao Ti Choa. Sobre a Serreta ter-se-á abatido um nevoeiro espesso, e à silhueta da Graciosa, para além da neblina e da noite, só a poderemos adivinhar.
Amanhã vamos ao Ti Choa. Sobre a Serreta ter-se-á abatido um nevoeiro espesso, e à silhueta da Graciosa, para além da neblina e da noite, só a poderemos adivinhar.
Lá dentro, cheirará a chicharro seco e a pão de casa.
Durante cinco minutos, a Delisa contará da ementa. Será simpática e doce, e em nenhum momento tentará parecer mais profissional do que é. Chega-lhe a boa educação do campo e sentir-se amada por tanta gente.
Para a mesa virão primeiro o curtume, o queijo de peso e a massa de malagueta. Uma das mulheres talvez peça filetes de abrótea. Outra talvez se furte ao vinho, caso em que saberemos que está grávida.
Depois as coisas começarão a precipitar-se. Virão as morcelas, as linguiças e o pão de milho. Virão os torresmos e o molho de fígado, com as suas rodelinhas de inhame à volta.
Virá a alcatra de feijão.
A alcatra de feijão do Ti Choa é o melhor prato de feijão português, e um dia eu ponho as minhas botas em cima da mesa de um desses chefs da televisão e digo exactamente isso.
Comeremos doces – malassadas, que é Carnaval, ou então filhoses de forno –, e beberemos licor de amora. A certa altura talvez se levante uma rapariga para cantar, e não será o melhor momento da noite.
De qualquer modo, se for mesmo depois do licor, até o rapaz do teclado nos parecerá o Rubinstein. E da última vez levantou-se um senhor para cantar o Frank Sinatra, e cantou maviosamente, e afinal era o António Pinto Basto, e estivemos ali a falar do Sporting.
Voltaremos tarde, não tão tarde assim, e talvez a Delisa nos deixe fumar um cigarro, se não estiver ninguém. As mulheres conduzirão os carros, menos a minha, e cheirará a enxofre.
E a metafísica.
Amanhã vamos ao Ti Choa e eu escrevo a crónica já hoje porque nunca sei se me vou querer vir embora.
* Diário de Notícias, Fevereiro 2015
February 16, 2015
Desumanização
 Pensando bem, nunca ouvi um tipo dizer que matou um cão sem se gabar da sua brutalidade. Lembro-me do perdigueiro do colega do Pedro, que num certo dia deixou de se limitar a cercar os coelhos. Ficou logo ali. Lembro-me do vira-latas que assaltou a capoeira do Francisco, matando 14 galinhas. Já não chegou ao fim do dia.
Pensando bem, nunca ouvi um tipo dizer que matou um cão sem se gabar da sua brutalidade. Lembro-me do perdigueiro do colega do Pedro, que num certo dia deixou de se limitar a cercar os coelhos. Ficou logo ali. Lembro-me do vira-latas que assaltou a capoeira do Francisco, matando 14 galinhas. Já não chegou ao fim do dia.
Poupo nos pormenores, mas não me esqueço. Havia sempre uma espécie de fanfarronice.
Desta vez, porém, eu estava sensível. Tinha acabado de saber que, na aldeia da Serra da Estrela para onde a Filipa se mudou na mesma altura em que viemos para aqui, alguém lhe envenenara o cão. Por isso, quando o homenzinho me contou que abatera a sua rotweiller, castigando-a por o ter mordido, pensei: “Psicopata.”
Ele viera com a sua máquina de limpezas industriais, em que tinha muito orgulho. Desempregado, tentava ripostar sozinho. Comoveu-me. Destinei-lhe paredes, portas, recantos. A meio do dia, sentou-se a comer um lanchinho que trazia embrulhado num pano. Mas, ao chegar ao canto do Melville, disse que a casa cheirava um pouco a cão.
Depois fez um comentário sobre a tina no corredor. Depois aconselhou-me a deixar o bicho no quintal. Depois contou-me de como abatera a sua cadela.
Sem hesitações. Ali mesmo. Poupo nos pormenores, mas não me esqueço.
Pensei: “Psicopata.” Mas a seguir olhei-o melhor e não era ódio: era súplica. Procurava a minha aprovação, como afinal procuravam o caçador e o criador de galinhas. O facto de eu, aparentemente, humanizar o meu cão só tornava o seu crime mais evidente.
Procurava o meu perdão.
Tive pena dele outra vez. E talvez a sua história não caiba aqui: a culpa está em todo o lado, não apenas no campo. Mas, da próxima vez que eu precisar de uma limpeza industrial, contrato outra pessoa.
Diário de Notícias, Fevereiro 2015
February 13, 2015
Cantinho do Céu
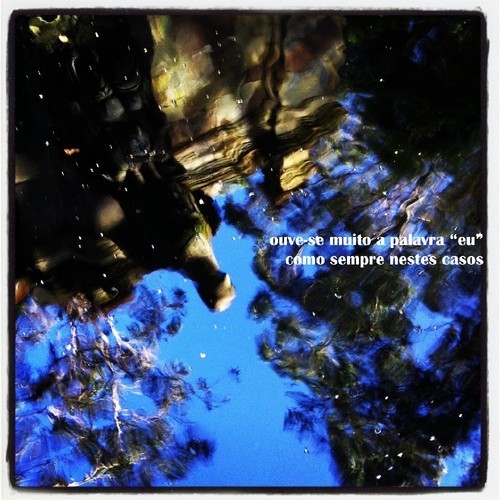 Quanto ao nosso terrorista, sou o único que não tem uma história com ele. Vejo as fotos na sua página de Facebook e, de facto, conheço aquela cara. Mas não consigo ligá-la a nenhuma situação em concreto, a nenhum lugar ou momento, e tenho a forte impressão de que nunca falei com a pessoa.
Quanto ao nosso terrorista, sou o único que não tem uma história com ele. Vejo as fotos na sua página de Facebook e, de facto, conheço aquela cara. Mas não consigo ligá-la a nenhuma situação em concreto, a nenhum lugar ou momento, e tenho a forte impressão de que nunca falei com a pessoa.
Chego a sentir-me excluído.
Amigos que trabalharam com ele no hospital descrevem-no como um companheirão que lhes tirava fotocópias à borla. Aficionados garantem que ninguém, em toda a ilha, tirava tão boas fotografias de toiros. Circunstantes sem uma ligação em particular, mas com atenção às coisas e às gentes, garantem que era um bom rapaz que, infelizmente, se deixou levar.
Ouve-se muito a palavra “eu”, como sempre nestes casos, e em todos os lugares.
“Mas, então, é um pobre diabo?”, arrisco. Ah, não. É um jihadista, e dos mais perigosos. Não lhe tivesse a CIA deitado a mão e já tinha rebentado com o hospital, a Igreja da Sé e o Monte Brasil. Matéria nuclear ter-se-ia derretido, infiltrado no solo e viciado a própria rotação da Terra. A Coreia do Norte haveria de querer contratá-lo.
A Arábia Saudita.
O Obama.
O nosso terrorista é tão bom quanto isso. Uma pessoa vai no Alto das Covas e o Estado Islâmico pagava-lhe sete mil euros por cada fotografia da base. Desce a Rua da Sé e, quando chega à Praça Velha, o valor vai em sete milhões. Se pensarmos bem, o homem mudou três vezes de carro nos últimos anos. Ou melhor, cinco. Ou melhor, comprou o stand da Toyota. E aquelas máquinas fotográficas, já se sabe, são caríssimas.
Não há pai para o nosso terrorista. O melhor terrorista é o nosso, e ainda bem que estão aí à porta os bailhinhos de Carnaval, que temos muito para botar cá para fora.
* Diário de Notícias, Fevereiro 2015
February 12, 2015
Angra do Heroísmo
 Subiu a Rua do Galo, admirando as fachadas coloridas que se sucediam como uma só, e depois aventurou-se pelo jardim público, percorrendo-o até ao monumento da Memória.
Subiu a Rua do Galo, admirando as fachadas coloridas que se sucediam como uma só, e depois aventurou-se pelo jardim público, percorrendo-o até ao monumento da Memória.
Duas gaivotas atravessaram o espaço, vindas do lado do Porto de Pipas. Pousaram sobre os ramos nus da linha de plátanos que bordejava o passeio, descendo até ao coração da cidade.
Funcionários municipais reparavam um candeeiro, com recurso a um andaime. Pairava uma espécie de paz. E, no entanto, era como se a tempestade já estivesse em curso.
Olhou sobre ela, aninhada aos pés do Monte Brasil, as araucárias rasgando o céu cinzento. Esquadrinhou com o olhar as suas ruas, os seus solares e palácios.
As suas igrejas.
Imaginou marinheiros, mercadores e saltimbancos – aventureiros de passagem a caminho das sete partidas do mundo. Charlatães bebiam vinho com missionários, soldados negociavam serviços com prostitutas, piratas persuadiam navegadores ao serviço do Rei sobre novas e mais rentáveis rotas, de encontro ao Vento Carpinteiro.
Havia escravos e bêbedos, burocratas e crianças furtivas, freiras e casaes de condenados com destino ao Brasil. E toda essa gente circulava por ela como se fosse o seu sangue, incerto e veloz, bombeado por um coração descompassado que era o próprio movimento do mar, furioso, naufragando naus e galeões como numa tela de Vernet.
E, contudo, não se ouvia um som – nem o próprio ruído do trânsito, lá em baixo, reduzido a quase nada.
Recitou mentalmente, à maneira de Marcolino Candeias: «Angra oh minha cidadezinha de bolso querida/ minha putefiazinha maquilhada de ternura.»
Descera à cidade. Era a cidade dele. Havia um silêncio de coisas últimas, e era como uma espécie de paz.
Diário de Notícias, Janeiro 2015



