Joel Neto's Blog, page 24
April 19, 2015
Comer
 Foi num dia de Verão que eu descobri o gosto de comer. Imagino que fosse Verão porque havia um prato com repolho cozido no centro da mesa e uma mosca cirandava em volta, tentando perfurar a tampa de rede que o cobria.
Foi num dia de Verão que eu descobri o gosto de comer. Imagino que fosse Verão porque havia um prato com repolho cozido no centro da mesa e uma mosca cirandava em volta, tentando perfurar a tampa de rede que o cobria.
Ou talvez o meu cérebro tenha inventado essa tampa. Não sei se alguma vez houve tal coisa lá em casa.
De qualquer modo, havia um pedaço de repolho e uma mosca voava. Estava calor. E, então, apareceu o sr. Veber.
O sr. Veber era um dos homens mais interessantes da minha infância. Desde logo porque se chamava Veber (ou seria Webber?), o que me remetia para lugares distantes. Abundam por aqui os nomes estrangeiros – flamengos, escoceses, franceses –, fruto de séculos de escalas transoceânicas, mas em regra essa gente prosperou, instalando-se na cidade ou fechando-se por detrás dos portões das suas quintas.
Ademais, o sr. Veber era caiador e retelhador. A cal encantava-me: pelo cheiro, pelas brochas, pelo modo como a chuva limpava os respingos e deixava o que era pintura mesmo. E, além disso, por aquela altura também já imperava aqui aquilo a que chamamos “telha do continente”, e que dispensa retelhação.
Gosto da ideia de desmontar, limpar e montar de novo, asseado mas com história.
Portanto, naquele dia, a minha mãe propôs algo de beber ao sr. Veber. Em vez disso, ele pediu um garfo, cortou um tassalho grosso do repolho e comeu-o de olhos fechados. E, ao mastigá-lo, era como se o próprio repolho pudesse ter nuances, veios e nervos, entretons – uma abundância de pequenos sabores onde um bom palato poderia descobrir o mundo.
Isto foi há muitos anos, e eu tenho a impressão que ainda não há uma grande refeição em que não me lembre do sr. Veber a comer aquele repolho. Somos formados por coisas assim: quase nada, tantas vezes.
Diário de Notícias, Abril 2015
April 16, 2015
Caterpillar
Na semana passada cruzei-me com o Luís. Emigrou para a América, adolescente ainda, e só voltou quatro ou cinco vezes. Desencontrámo-nos sempre. Tem dois filhos lindos e fala um português da Califórnia, cheio de goshes e sun-of-a-guns, no estrito cumprimento dos Dez Mandamentos. Perguntou-me o que faço e mostrou-me uma foto sua, orgulhosamente aos comandos de uma retroescavadora, a demolir um project algures no Vale do São Joaquim. Voltei 35 anos no tempo. Tal como os miúdos do resto do mundo queriam ser astronautas e polícias, nós queríamos ser pedreiros, serventes ou, nos casos de maior ambição, condutores de caterpillar. Tinham-nos caído as casas em cima – os nossos heróis eram esses homens venturosos que diziam asneiras, bebiam Cinzano e brandiam talochas. Começámos por roubar-lhes betão fresco para construir garagens para os carrinhos. Uma ilha transformada num estaleiro é o cenário ideal para o exercício da imaginação. Ao fim de algum tempo, insistimos tanto que pudemos ajudá-los a encher as placas. Acabámos por aprender a traçar massa, a rebocar paredes, a assentar blocos. As noções que guardo já me safaram várias vezes. Foi bonita, a reconstrução da Terceira após o terramoto de 1980. O Governo abriu uma linha de crédito e cada um tratou do seu problema. Houve excessos, aberrações, falcatruas. Mas as pessoas partilharam materiais e força de trabalho e, em cinco anos, estava quase tudo reerguido. Já então Angra tinha sido classificada pela UNESCO. Não tenho a certeza de que ainda exista esse tipo de açoriano. Não tenho a certeza de que ainda exista esse tipo de português. Mas, desde que encontrei o Luís, que queria ser condutor de caterpillar e cumpriu o seu sonho, tenho menos medo de que a terra volte a tremer.
Diário de Notícias, Abril 2015
April 14, 2015
Escrever
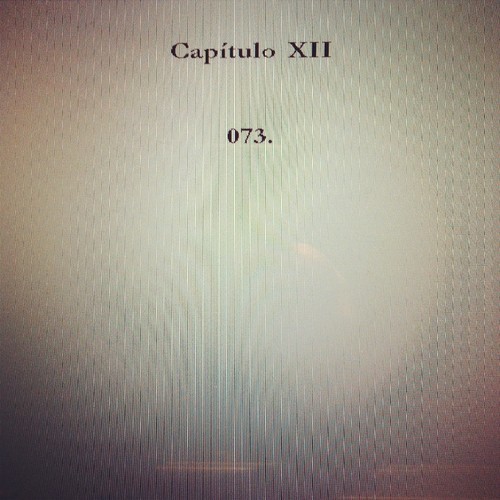 E, então, porque não podemos viver de outra maneira, escrevemos. E cai-nos o cabelo e apodrecem-nos os dentes, como dizia Flannery O’Connor.
E, então, porque não podemos viver de outra maneira, escrevemos. E cai-nos o cabelo e apodrecem-nos os dentes, como dizia Flannery O’Connor.
E somos uns chatos. E somos maus maridos e maus filhos e maus amigos. E sentimos culpa, e sentimo-nos indignos de estima, e continuamos, mesmo assim, a não responder quando falam connosco.
E não telefonamos nos anos, nem aparecemos nos churrascos, nem vamos ao café. E, se vamos, a única coisa de que falamos é disso: do livro. E tudo aquilo sobre que se conversa pode servir ao livro, caso contrário não nos importa.
E somos os maiores quando um parágrafo nos sai bem, e ficamos de rastos quando não encontramos um verbo. E sabemos que tem de ser mesmo assim, porque se não for o romance fica uma merda. Mas sentimos culpa na mesma.
E não pagamos as contas, e esquecemo-nos de pedir a garrafa do gás, e calçamos meias de pares diferentes. E de repente queremos fumar dois maços de cigarros e beber meia garrafa de uísque, sozinhos no jardim, a olhar para a noite e a chorar.
E temos de fazer um esforço para mudar de roupa, e não cortamos as unhas, e pomos lembretes no telemóvel para tomar os antibióticos e dar a comida ao cão a horas. E conduzimos depressa, e arranjamos chatices com as Finanças, e é uma sorte chegarmos vivos ao fim do dia, e às vezes acontece até não chegarmos.
E queremos desistir, e queremos ter um trabalho braçal, e queremos ser amigos. E queremos ser maridos e pais e atenciosos. E, quando ainda não perdemos de vez a esperança, escrevemos coisas como esta, para nos justificarmos.
E exageramos imenso. Mas continuamos escrevendo.
Entreguei esta madrugada o novo livro à editora. É o meu primeiro romance escrito no campo. Trabalhei nele durante mais de três anos, como um louco, e agora acho que precisava só de mais um dia.
Diário de Notícias, Abril 2015
April 9, 2015
Filarmónica
 Um dia destes, o meu sobrinho pediu-me para lhe fazer o nó a uma gravata. Pôs o seu ar mais convencido e esticou-me a gravatinha azul da filarmónica, com um trejeito negligée que Miguel Ângelo podia ter usado ao apresentar o tecto da capela ao papa.
Um dia destes, o meu sobrinho pediu-me para lhe fazer o nó a uma gravata. Pôs o seu ar mais convencido e esticou-me a gravatinha azul da filarmónica, com um trejeito negligée que Miguel Ângelo podia ter usado ao apresentar o tecto da capela ao papa.
O Gaspar é tudo o que eu gostaria de ter sido aos nove anos: rufia, mulherengo, adorável. Ter nascido com o cabelo loiro e o rosto perfeito ajudou. Mas o melhor é mesmo dele. As raparigas vêm recebê-lo ao portão da escola. Os rapazes reúnem as bicicletas em volta da sua.
Está a começar a aprender trompa de harmonia, o Gaspar. Não vai ser solista, e ainda bem: sempre permite aos outros equilibrarem um pouco os pratos da balança. Até lá, é o porta-estandarte. Faz um ar presunçoso e marcha à frente dos músicos, com a Raquel da Teresinha ao lado, loira também.
A ilha Terceira tem 24 bandas filarmónicas para menos de 60 mil habitantes. Acompanham procissões, cortejos e até touradas. Há actuações de trazer por casa e outras cheias de pompa. Quem assista ao dia do desfile das Sanjoaninas sabe que podem atingir algum virtuosismo.
Há um ano ou dois, chegou a ser lançada uma caderneta de cromos com os músicos da ilha. Foi um sucesso e não me surpreende: ouço-os tocar, alternando melodias lúgubres e exuberantes, como se contassem da própria vida, e parecem-me sempre o último estertor de uma coisa antiga e boa – um resquício de tudo o que na história da espécie houve um dia de brio, rectidão e generosidade.
Por mim, não me importo de ser o homem que faz os nós às gravatas. Como o meu avô era. Há uma mundividência no homem que faz os nós às gravatas da vizinhança. Mas é consolo apenas. O que eu queria era ter desfilado em frente à filarmónica. E que as raparigas me viessem buscar ao portão.
* Diário de Notícias, Março 2015
April 8, 2015
Camponês
 O Ti José Nogueira era uma das minhas personalidades favoritas. Sabia tudo sobre árvores, e o modo como brilhavam os seus olhos pequeninos mostrava que sabia muito sobre pessoas também.
O Ti José Nogueira era uma das minhas personalidades favoritas. Sabia tudo sobre árvores, e o modo como brilhavam os seus olhos pequeninos mostrava que sabia muito sobre pessoas também.
O Luciano costuma contar que certa vez, ao roçar a quinta da Fonte Faneca, andou dias às voltas com uma queimada. Nunca conseguiu atear a fogueira, porque estava tudo verde e húmido. Foi pedir ajuda ao Ti José Nogueira e este veio no dia mais mal-encarado que encontrou, com dois fósforos na mão. Olhou para o firmamento, mediu o vento, a posição das nuvens e a alma do anfitrião, e inclinou-se sobre a ramagem.
Ateou uma queimada linda e ainda poupou um fósforo.
O Ti José Nogueira plantou-me um castanheiro, um dia. De vez em quando vinha vê-lo. E podou duas tangerineiras ao meu pai de um tal modo que hoje temos tangerinas para nós, para os melros e para algum vizinho que se engane no portão.
Às vezes eu dava-lhe boleia, de regresso do cemitério. Visitava sempre a campa da mulher. Cheguei a deixá-lo na Feira do Gado, onde ainda se negoceia em contos de réis. Encontrava-o com frequência a conversar com o Vieira, na cozinha deste, quando ia lá buscar sementes.
Conversavam muito, naquela amizade triste dos homens viúvos.
O Ti José Nogueira enterrou-se domingo. Perguntei o horário do funeral na venda e fui despedir-me. Leu-se do Êxodo, de Primeira a Coríntios e do Evangelho Segundo São João. A igreja estava cheia e eu era o único que não sabia quando levantar, sentar e cantar.
Do Ti José Nogueira não rezará a História. Quem mudou o mundo não foram os camponeses honestos, que pagaram os seus impostos e encheram a igreja da freguesia no dia em que foram a enterrar. Dos aventureiros, dos inventores e dos facínoras – deles, sim, reza a História.
Por isso se inventou a literatura.
* Diário de Notícias, Março 2015
April 7, 2015
Massa sovada
 Dois dias antes de se fazer um bolo de massa sovada, já se está a fazê-lo. Numa tigela, deitam-se 500 gramas de farinha de milho, com uma saqueta de fermento misturada. Faz-se uma cova, adiciona-se uma colher de sal e vai-se acrescentando água a ferver, enquanto se mexe com a colher de pau. Deixa-se arrefecer, amassa-se com as mãos até ficar mole (mas não ralo) e tapa-se, guardando 48 horas.
Dois dias antes de se fazer um bolo de massa sovada, já se está a fazê-lo. Numa tigela, deitam-se 500 gramas de farinha de milho, com uma saqueta de fermento misturada. Faz-se uma cova, adiciona-se uma colher de sal e vai-se acrescentando água a ferver, enquanto se mexe com a colher de pau. Deixa-se arrefecer, amassa-se com as mãos até ficar mole (mas não ralo) e tapa-se, guardando 48 horas.
Só então começa a confecção principal. Noutra tigela, batem-se seis ovos com seis colheres de açúcar. Acrescentam-se mais seis de farinha de trigo e outras tantas do primeiro preparado e torna-se a guardar por mais cinco horas.
Entretanto, numa terceira tigela partem-se duas dúzias de ovos, juntam-se dois quilos de açúcar e bate-se tudo até ficar ligado e fofo. E num alguidar peneiram-se seis quilos de farinha de trigo, faz-se outra cova e deita-se nova colher de sal, mais o segundo preparado e os ovos batidos com o açúcar.
Mistura-se tudo com as mãos, enquanto à parte já se vai aquecendo um litro de leite, com meio quilo de manteiga e três colheres de banha. Começa-se a juntar a solução à massa, devagar, e quando ficar tudo macio sova-se com ardor, tapando o alguidar para levedar mais cinco horas ainda.
O resto é o habitual: toalha polvilhada, brindeiras moldadas, duas horas de tendal, uma de forno. Se for Páscoa, põe-se um ovo no meio e unta-se com gemas.
Sempre que como massa sovada penso nas mulheres que a fizeram durante séculos, milhares de vezes, até aperfeiçoarem a receita.
Tenho uma hierarquia das melhores da ilha, mas há dias provei uma nova, maravilhosa. Mandei avisar o padeiro de que passasse a apitar aqui também, no giro de quarta-feira, e ontem passei a tarde a tamborilar. Afinal, o homem só vem de 15 em 15 dias.
Diário de Notícias, Março 2015
April 6, 2015
Rosa-choque
 Este fim-de-semana encomendei duas olaias. Estou só à espera de que, lá no viveiro onde me esperam, botem a primeira flor. Com a minha sorte, saíam-me ambas brancas, como aconteceu com a magnólia.
Este fim-de-semana encomendei duas olaias. Estou só à espera de que, lá no viveiro onde me esperam, botem a primeira flor. Com a minha sorte, saíam-me ambas brancas, como aconteceu com a magnólia.
Ainda bem que a plantei a um canto.
Às vezes lembro-me dos primeiros dias deste jardim. Trabalhava para a Grande Reportagem e volta e meia convencia o director do quão importante, imperativo e inescapável era vir às ilhas escrever sobre não sei o quê. Os fotógrafos acabavam sempre de botas de cano. O Jordi Burch plantou-me a linha de abrigos sozinho, rindo.
Paguei tudo em cerveja fresca.
Hoje, sou penalizado pela falta de planeamento. Demorei muito a plantar um plátano e agora tenho de esperar que cresça. Abati uma tipoana para, cinco ou seis anos depois, plantar outra quase no mesmo lugar.
Entretanto, não sei o que fazer aos dois ficus que se desenquadraram, e também não tenho a certeza de que o araçaleiro esteja no sítio certo. Ou a pitangueira. Ou a macadâmia.
Mas sei que duas feijoas vão dar razão a Darwin e ceder lugar a duas olaias. Ao fim de dois anos e meio, já ultrapassei o número de vezes que um homem consegue circular entre as quintas de São Carlos sem ir comprar duas olaias.
São lindas, as olaias. Diz-se que foi numa que Judas se enforcou, o que só demonstra que tinha redenção. E também são um pouco de Lisboa, aqui connosco. Como é o jacarandá que pus à entrada.
Só que nenhum jacarandá, nesta humidade, faz aquele mosqueado roxo como os da D. Carlos I. Já as olaias crescem como bonsais em ponto grande e, por esta altura, cobrem-se de um naperon rosa-choque.
O meu consumismo é este, hoje em dia. E é bom. Tenho sítio para me enforcar e ainda aprendo que as olaias não são apenas uma estação de metro.
Diário de Notícias, Março 2015
March 13, 2015
Palavra
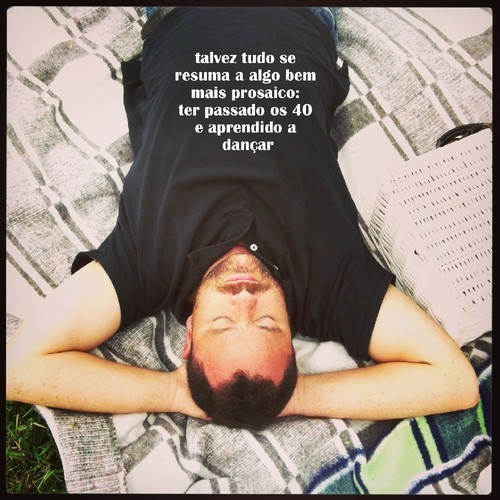 “Gosto destas novas crónicas do campo”, diz-me o Arlindo. “São as crónicas de um homem feliz.”
“Gosto destas novas crónicas do campo”, diz-me o Arlindo. “São as crónicas de um homem feliz.”
Ele sabe do que fala, em princípio. Acompanhámo-nos durante anos, um a tentar tornar-se escritor e o outro a tentar tornar-se cineasta, pelo que sabemos do que falamos quando falamos um do outro. O extraordinário foi que aquela palavra, ao contrário do que me teria acontecido noutra altura da vida, não me ofendeu.
«Feliz.» Repito-a na minha cabeça. Um homem feliz. Ser feliz. Sermos felizes.
Não mete estilo nenhum. E, no entanto, soa-me bem.
A felicidade, naturalmente, não tem história. O que tem história é tudo aquilo que pode destruí-la. Um segundo basta. Não é por se estar no campo, ou no meio do mar, ou simplesmente longe que se está a salvo. E, além disso, continua a haver, no nosso caso, demasiados dias em que não conseguimos tempo para nos chegarmos para trás e cheirar as rosas.
A própria vida é uma manta curta. estou certo de que metade dos meus vizinhos aceitaria de bom grado essa aposta: felizes é que não são. Como poderiam sê-lo, se passam a vida a trabalhar?
Disso se trata, porém. Chega de ter medo das palavras (note-se que as contorno ainda). Se o devo ao espaço ou apenas ao tempo, não sei. Quanto a isso, cada vez sei menos. Talvez tudo se resuma a algo bem mais prosaico do que aquilo que faz sonhar quem sonhe com a vida no campo: ter passado os 40 e aprendido a dançar.
Mas o facto é que, quando à noite me sento com a Catarina, a jantar e a discutir a crónica seguinte, porque as escrevo à noite (e por isso me saem às vezes demasiado íntimas, como esta), torno a sabê-lo. Dizem-mo elas, sobretudo, e só por isso já valeu a pena escrevê-las: para saber que sou feliz.
Sempre fui, provavelmente.
Diário de Notícias, Março 2015
* Estas crónicas interrompem-se nas próximas duas semanas, para férias, e regressam a 30 de Março
March 12, 2015
Tomateiros
 A princípio, comprava-os ao quarteirão. Queria repetir os gestos dos meus antepassados, e os meus antepassados compravam-nos ao quarteirão.
A princípio, comprava-os ao quarteirão. Queria repetir os gestos dos meus antepassados, e os meus antepassados compravam-nos ao quarteirão.
Desisti. No primeiro ano produzi tanto tomate que ainda hoje tenho sacos cheios no fundo da arca. Os amigos vinham cá almoçar e, quando me viam desviá-los para a horta, a meio das despedidas, uniam as mãos:
– Ai, Joel, mais tomate não, pelas alminhas do Purgatório, especialmente as mais abandonadas...
Portanto, compro sete ou oito pés e chega. Mas a rotina é a mesma. Planto-os com um metro de distância uns dos outros, para poder circular, e certifico-me de que a terra fica humedecida. Durante alguns dias, preocupo-me sobretudo com isso: com a água. Ao fim de duas semanas, faço as primeiras escoras de caules e ramos, e então as coisas começam a acontecer cada vez mais depressa.
Todos os dias um tomateiro tem alguma necessidade. É preciso sachá-lo, para não o deixar contaminar por outras plantas, e é preciso capá-lo de filhos e netos, de modo a manter apenas as hastes adequadas à produção. É preciso ir actualizando os nós que o prendem aos esteios e é preciso desbastá-lo por baixo, por causa do oídio. É preciso regá-lo, sulfatá-lo e rodeá-lo de veneno dos caracóis – e é preciso fazer isso tudo quando estiver seco, caso contrário amuará, até ficar preto e, por fim, morrer.
Isto ensinou-mo o meu pai, produtor garboso, em jeito de alma do negócio: em tomateiro húmido não se mexe. Com orvalho nunca, de manhã só com cuidado.
Nesse dia, inventámos uma anedota: o tomateiro é mulher, embezerra com facilidade e nem se lhe pode tocar. Nunca a partilhámos com elas. Sabemos bem que o tomateiro, na verdade, é homem. Como os homens da nossa família: dependentes, humorosos quanto baste e infinitamente frágeis.
Que dê frutos tão bonitos não passa de um paradoxo redentor.
Diário de Notícias, Março 2015
March 10, 2015
Instalação
 Este ano não vou usar o Excel para desenhar a horta. Já não se poderão lamber os carreiros, e é provável que também não tire tantas fotos.
Este ano não vou usar o Excel para desenhar a horta. Já não se poderão lamber os carreiros, e é provável que também não tire tantas fotos.
Apesar disso, ando em planos há meses. Ainda há dias pedi ao Chico para me desbastar a erva à volta das malagueteiras. No início de Abril, puxo da gadanha.
Uma gadanha, aqui, é aquilo a que em Lisboa se chama ancinho. Um género dele. A outro género chamamos garfo e a outro ainda vassoura. Ancinho é só aquele comum, como um pente. Ninguém o usa.
À gadanha de Lisboa, chamamos alfange. A morte, nos Açores, ataca de alfange.
Este ano não haverá rúcula, porque eu não gosto, nem nenhum tipo de couve, que é coisa que cresce bem mas come-se pouco. Talvez haja algum repolho, mas não do roxo, que também só serve para as fotografias.
Haverá feijão verde, nabo e alface, superestrelas dos últimos dois anos, e talvez algum milho doce, a ver se os ratos não o atacam. Não haverá nem beringelas nem curgetes, e a batata, a cebola e a cenoura também só fazem sentido num terreno maior.
Alho e alho-porro estão fora de questão. Hei-de arranjar algum alho bravo, para a açorda. E uns quantos pés de beldroegas.
Talvez repita a beterraba e o pimento, e é natural que ponha umas quantas pevides de abóbora do lado de fora do muro, para crescerem como quiserem. Melancias e melões, não. A ver se o Luciano me arranja açaflor.
Tomate, naturalmente, não faltará. O cereja vai para um canto, ao pé do inhame. O carmen fica em primeiro plano.
Desta vez não farei burrinhas de canas nem estendais de arame. O sr. Dimas deixou aí uns cacetes de faia, retorcidos como mastros de ébano, e vou experimentá-los como suportes – ali, bem no meio, rodeados de porções geométricas de relva, como faróis no nevoeiro.
Este ano não vou usar o Excel para desenhar a horta. Mas é como se usasse.
Diário de Notícias, Março de 2015




