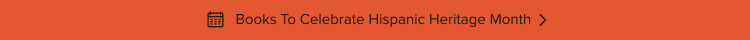Rodrigo Constantino's Blog, page 424
August 13, 2011
Uma lição de democracia
João Luiz Mauad, O GLOBO
"O fato de que estamos aqui hoje para debater o aumento do limite da dívida americana é um sinal de fracasso das nossas lideranças. É um sinal de que o governo dos Estados Unidos não pode pagar suas próprias contas. É um sinal de que agora dependemos da assistência financeira de países estrangeiros para financiar as políticas fiscais irresponsáveis do nosso governo.... O aumento do limite da dívida da América nos enfraquece nacional e internacionalmente. Liderança significa responsabilidade pelas próprias dicisões. Em vez disso, Washington está jogando o ônus de suas más escolhas de hoje nas costas dos nossos filhos e netos. A América tem um problema com a dívida e uma falha de liderança. Os americanos não merecem isso. Eu, portanto, sou contra o aumento do limite da dívida."
Sabe de quem são essas duras palavras, caro leitor? Acredite, o discurso acima foi proferido pelo então senador Barak Obama, ainda em 2006, quando o Congresso daquele país discutia o limite da dívida federal, durante o mandato de George W. Bush. Na época, o aumento aprovado trouxe o teto da dívida para US$ 9 trilhões. Sob a presidência de Obama, o número já fora elevado para US$ 14,3 trilhões. Antes do recente aumento, portanto, a dívida já estava 60% maior do que quando ele sinalizava um suposto "fracasso de liderança", há cinco anos.
Malgrado a enormidade dos números, os políticos norte americanos chegaram a um acordo, ao apagar das luzes, evitando assim que o governo daquele país ficasse inadimplente perante os seus credores internos e externos. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos – pelo menos por enquanto.
Durante a longa queda de braço, fomos bombardeados por notícias e comentários - ecoados principalmente do notório New York Times, carro-chefe da mídia liberal (esquerdista) americana, à frente o estridente "nobelado" Paul Krugman - acerca do radicalismo e irresponsabilidade dos conservadores, capitaneados pelos fundamentalistas/terroristas do Tea Party, que insistiam numa postura de prudência e parcimônia – oh! Grande heresia! - em relação aos gastos do governo e, consequentemente, em relação à dívida pública. Aliás, os economistas podem discordar sobre o montante da dívida que um governo pode carregar com segurança, mas há certo consenso de que 100% do PIB é demais, especialmente quando se olha para os efeitos sobre a atividade econômica.
Mas os ditos radicais do Tea Party cometeram o supremo pecado de contrariar São Obama e, principalmente, a visão progressista segundo a qual quanto mais o governo gasta e se intromete na vida privada das pessoas, melhor para todo mundo. Embora seja muito difícil para qualquer pessoa de bom senso entender como é possível que um endividamento constante e progressivo do governo possa ser algo sadio, o que se viu foi o linchamento sem trégua dos atrevidos que se recusavam, constitucional e democraticamente, a dar carta branca para o executivo gastar a vontade.
Neste ponto, pode ser útil esclarecer exatamente sobre o quê estavam discutindo os dois lados. A questão não era propriamente se o governo federal deveria ou não expandir os seus gastos. Quase ninguém em Washington propôs o encolhimento do leviatã. Ao contrário, no final de dez anos tanto os gastos nominais quanto a dívida total serão bem maiores do que são hoje. Tenha-se em mente ainda que esses aumentos virão após uma das mais rápidas expansões de gastos federais na história dos EUA – desde que Obama tomou posse, houve um aumento de aproximadamente 30% em relação ao último ano de Bush.
Ademais, pouco se falou sobre isso, mas durante a maior parte do tempo o impasse esteve ancorado não no radicalismo do Tea Party, mas na intransigênsia do presidente, que insistia, mesmo contra a opinião majoritária do seu próprio partido, em aprovar limites muito maiores, além de aumentos de impostos.
Finalmente, pode-se discutir o que for, mas não é apropriado dizer que não havia legitimidade do legislativo para debater o tema, afinal eles foram eleitos exatamente para isso. Ao contrário da escatologia do NYT, a verdade é que o Congresso americano deu uma lição de democracia ao mundo, apesar do comportamento malsão de Obama, que, com discursos irresponsáveis, insistia em jogar a opinião pública contra os congressistas. Quisera eu que os nossos políticos discutissem os temas importantes da nação como fizeram os yankes, sem barganhas por cargos, liberação de verbas ou mensalões, mas apenas defendendo o que consideram melhor para o país.
"O fato de que estamos aqui hoje para debater o aumento do limite da dívida americana é um sinal de fracasso das nossas lideranças. É um sinal de que o governo dos Estados Unidos não pode pagar suas próprias contas. É um sinal de que agora dependemos da assistência financeira de países estrangeiros para financiar as políticas fiscais irresponsáveis do nosso governo.... O aumento do limite da dívida da América nos enfraquece nacional e internacionalmente. Liderança significa responsabilidade pelas próprias dicisões. Em vez disso, Washington está jogando o ônus de suas más escolhas de hoje nas costas dos nossos filhos e netos. A América tem um problema com a dívida e uma falha de liderança. Os americanos não merecem isso. Eu, portanto, sou contra o aumento do limite da dívida."
Sabe de quem são essas duras palavras, caro leitor? Acredite, o discurso acima foi proferido pelo então senador Barak Obama, ainda em 2006, quando o Congresso daquele país discutia o limite da dívida federal, durante o mandato de George W. Bush. Na época, o aumento aprovado trouxe o teto da dívida para US$ 9 trilhões. Sob a presidência de Obama, o número já fora elevado para US$ 14,3 trilhões. Antes do recente aumento, portanto, a dívida já estava 60% maior do que quando ele sinalizava um suposto "fracasso de liderança", há cinco anos.
Malgrado a enormidade dos números, os políticos norte americanos chegaram a um acordo, ao apagar das luzes, evitando assim que o governo daquele país ficasse inadimplente perante os seus credores internos e externos. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos – pelo menos por enquanto.
Durante a longa queda de braço, fomos bombardeados por notícias e comentários - ecoados principalmente do notório New York Times, carro-chefe da mídia liberal (esquerdista) americana, à frente o estridente "nobelado" Paul Krugman - acerca do radicalismo e irresponsabilidade dos conservadores, capitaneados pelos fundamentalistas/terroristas do Tea Party, que insistiam numa postura de prudência e parcimônia – oh! Grande heresia! - em relação aos gastos do governo e, consequentemente, em relação à dívida pública. Aliás, os economistas podem discordar sobre o montante da dívida que um governo pode carregar com segurança, mas há certo consenso de que 100% do PIB é demais, especialmente quando se olha para os efeitos sobre a atividade econômica.
Mas os ditos radicais do Tea Party cometeram o supremo pecado de contrariar São Obama e, principalmente, a visão progressista segundo a qual quanto mais o governo gasta e se intromete na vida privada das pessoas, melhor para todo mundo. Embora seja muito difícil para qualquer pessoa de bom senso entender como é possível que um endividamento constante e progressivo do governo possa ser algo sadio, o que se viu foi o linchamento sem trégua dos atrevidos que se recusavam, constitucional e democraticamente, a dar carta branca para o executivo gastar a vontade.
Neste ponto, pode ser útil esclarecer exatamente sobre o quê estavam discutindo os dois lados. A questão não era propriamente se o governo federal deveria ou não expandir os seus gastos. Quase ninguém em Washington propôs o encolhimento do leviatã. Ao contrário, no final de dez anos tanto os gastos nominais quanto a dívida total serão bem maiores do que são hoje. Tenha-se em mente ainda que esses aumentos virão após uma das mais rápidas expansões de gastos federais na história dos EUA – desde que Obama tomou posse, houve um aumento de aproximadamente 30% em relação ao último ano de Bush.
Ademais, pouco se falou sobre isso, mas durante a maior parte do tempo o impasse esteve ancorado não no radicalismo do Tea Party, mas na intransigênsia do presidente, que insistia, mesmo contra a opinião majoritária do seu próprio partido, em aprovar limites muito maiores, além de aumentos de impostos.
Finalmente, pode-se discutir o que for, mas não é apropriado dizer que não havia legitimidade do legislativo para debater o tema, afinal eles foram eleitos exatamente para isso. Ao contrário da escatologia do NYT, a verdade é que o Congresso americano deu uma lição de democracia ao mundo, apesar do comportamento malsão de Obama, que, com discursos irresponsáveis, insistia em jogar a opinião pública contra os congressistas. Quisera eu que os nossos políticos discutissem os temas importantes da nação como fizeram os yankes, sem barganhas por cargos, liberação de verbas ou mensalões, mas apenas defendendo o que consideram melhor para o país.
Published on August 13, 2011 14:17
'Breathtaking in its Expansive Scope'
Editorial do WSJ
'The powers of the legislature are defined and limited; and that those limits may not be mistaken, or forgotten, the Constitution is written."
—Chief Justice John Marshall, writing in Marbury v. Madison (1803).
The 11th Circuit Court of Appeals cites those prophetic words in its decision yesterday finding President Obama's individual health-care mandate unconstitutional, and they do seem more relevant than ever. The 2-1 opinion is another landmark in restoring the government of limited and enumerated powers that the Framers envisioned.
In the exhaustive and rigorous opinion finding for a group of 26 states led by Florida, Judges Frank Hall and Joel Dubina write that the seven words in the Commerce Clause—"to regulate Commerce . . . among the several States"—have "spawned a 200-year debate over the permissible scope of this enumerated power." Even amid this argument, they write, the individual mandate stands out, which starting in 2014 will require everyone to buy health insurance or else pay a penalty.
That is "breathtaking in its expansive scope," the court wrote. "The government's position amounts to an argument that the mere fact of an individual's existence substantially affects interstate commerce, and therefore Congress may regulate them at every point of their life. This theory affords no limiting principles in which to confine Congress's enumerated power."
In other words, if the government can impose this kind of "economic mandate"—if it can force individuals to enter contracts with private companies "from birth to death"—there are no longer limits on what it cannot do. "These types of purchasing decisions are legion," Judges Hall and Dubina write.
"Every day," they continue, "Americans decide what products to buy, where to invest or save, and how to pay for future contingencies such as their retirement, their children's education, and their health care. The government contends that embedded in the Commerce Clause is the power to override these ordinary decisions and redirect those funds to other purposes."
The Supreme Court's Commerce Clause jurisprudence has expanded and contracted over the years, the apogee being the New Deal precedents. Though the commerce power "has since come to dominate federal legislation," as Judges Hall and Dubina note, the Court has always maintained that it "is subject to outer limits," as the 1995 Lopez decision affirmed.
It is a measure of ObamaCare's overreach that throughout this history, the government has never claimed a power like the individual mandate. "Even in the face of a Great Depression, a World War, a Cold War, recessions, oil shocks, inflation, and unemployment, Congress never sought to require the purchase of wheat or war bonds, force a higher savings rate or greater consumption of American goods, or require every American to purchase a more fuel efficient vehicle," the majority writes.
The Obama Administration has attempted to wave off such far-reaching implications by claiming that health care is somehow inherently different from other economic decisions, but the 11th Circuit dismantles those argument as "ad hoc, devoid of constitutional substance, incapable of judicial administration—and, consequently, illusory." They are "not limiting principles, but limiting circumstances" that "imperils our federalist structure."
Judge Hall (a Bill Clinton nominee) and Judge Dubina (a George H.W. Bush nominee) have delivered one of the most persuasive and tightly reasoned deconstructions of the mandate's supposed constitutional logic, though of course the fate of the mandate lies with the Supreme Court. The new split among the appellate circuits ensures that one case or another will land in Washington—perhaps as soon as next spring.
'The powers of the legislature are defined and limited; and that those limits may not be mistaken, or forgotten, the Constitution is written."
—Chief Justice John Marshall, writing in Marbury v. Madison (1803).
The 11th Circuit Court of Appeals cites those prophetic words in its decision yesterday finding President Obama's individual health-care mandate unconstitutional, and they do seem more relevant than ever. The 2-1 opinion is another landmark in restoring the government of limited and enumerated powers that the Framers envisioned.
In the exhaustive and rigorous opinion finding for a group of 26 states led by Florida, Judges Frank Hall and Joel Dubina write that the seven words in the Commerce Clause—"to regulate Commerce . . . among the several States"—have "spawned a 200-year debate over the permissible scope of this enumerated power." Even amid this argument, they write, the individual mandate stands out, which starting in 2014 will require everyone to buy health insurance or else pay a penalty.
That is "breathtaking in its expansive scope," the court wrote. "The government's position amounts to an argument that the mere fact of an individual's existence substantially affects interstate commerce, and therefore Congress may regulate them at every point of their life. This theory affords no limiting principles in which to confine Congress's enumerated power."
In other words, if the government can impose this kind of "economic mandate"—if it can force individuals to enter contracts with private companies "from birth to death"—there are no longer limits on what it cannot do. "These types of purchasing decisions are legion," Judges Hall and Dubina write.
"Every day," they continue, "Americans decide what products to buy, where to invest or save, and how to pay for future contingencies such as their retirement, their children's education, and their health care. The government contends that embedded in the Commerce Clause is the power to override these ordinary decisions and redirect those funds to other purposes."
The Supreme Court's Commerce Clause jurisprudence has expanded and contracted over the years, the apogee being the New Deal precedents. Though the commerce power "has since come to dominate federal legislation," as Judges Hall and Dubina note, the Court has always maintained that it "is subject to outer limits," as the 1995 Lopez decision affirmed.
It is a measure of ObamaCare's overreach that throughout this history, the government has never claimed a power like the individual mandate. "Even in the face of a Great Depression, a World War, a Cold War, recessions, oil shocks, inflation, and unemployment, Congress never sought to require the purchase of wheat or war bonds, force a higher savings rate or greater consumption of American goods, or require every American to purchase a more fuel efficient vehicle," the majority writes.
The Obama Administration has attempted to wave off such far-reaching implications by claiming that health care is somehow inherently different from other economic decisions, but the 11th Circuit dismantles those argument as "ad hoc, devoid of constitutional substance, incapable of judicial administration—and, consequently, illusory." They are "not limiting principles, but limiting circumstances" that "imperils our federalist structure."
Judge Hall (a Bill Clinton nominee) and Judge Dubina (a George H.W. Bush nominee) have delivered one of the most persuasive and tightly reasoned deconstructions of the mandate's supposed constitutional logic, though of course the fate of the mandate lies with the Supreme Court. The new split among the appellate circuits ensures that one case or another will land in Washington—perhaps as soon as next spring.
Published on August 13, 2011 09:46
What happened to Obama? Absolutely nothing
By NORMAN PODHORETZ
It's open season on President Obama. Which is to say that the usual suspects on the right (among whom I include myself) are increasingly being joined in attacking him by erstwhile worshipers on the left. Even before the S&P downgrade, there were reports of Democrats lamenting that Hillary Clinton had lost to him in 2008. Some were comparing him not, as most of them originally had, to Lincoln and Roosevelt but to the hapless Jimmy Carter. There was even talk of finding a candidate to stage a primary run against him. But since the downgrade, more and more liberal pundits have been deserting what they clearly fear is a sinking ship.
Here, for example, from the Washington Post, is Richard Cohen: "He is the very personification of cognitive dissonance—the gap between what we (especially liberals) expected of the first serious African American presidential candidate and the man he in fact is." More amazingly yet Mr. Cohen goes on to say of Mr. Obama, who not long ago was almost universally hailed as the greatest orator since Pericles, that he lacks even "the rhetorical qualities of the old-time black politicians." And to compound the amazement, Mr. Cohen tells us that he cannot even "recall a soaring passage from a speech."
Overseas it is the same refrain. Everywhere in the world, we read in Germany's Der Spiegel, not only are the hopes ignited by Mr. Obama being dashed, but his "weakness is a problem for the entire global economy."
In short, the spell that Mr. Obama once cast—a spell so powerful that instead of ridiculing him when he boasted that he would cause "the oceans to stop rising and the planet to heal," all of liberaldom fell into a delirious swoon—has now been broken by its traumatic realization that he is neither the "god" Newsweek in all seriousness declared him to be nor even a messianic deliverer.
Hence the question on every lip is—as the title of a much quoted article in the New York Times by Drew Westen of Emory University puts it— "What Happened to Obama?" Attacking from the left, Mr. Westin charges that President Obama has been conciliatory when he should have been aggressively pounding away at all the evildoers on the right.
Of course, unlike Mr. Westen, we villainous conservatives do not see Mr. Obama as conciliatory or as "a president who either does not know what he believes or is willing to take whatever position he thinks will lead to his re-election." On the contrary, we see him as a president who knows all too well what he believes. Furthermore, what Mr. Westen regards as an opportunistic appeal to the center we interpret as a tactic calculated to obfuscate his unshakable strategic objective, which is to turn this country into a European-style social democracy while diminishing the leading role it has played in the world since the end of World War II. The Democrats have persistently denied that these are Mr. Obama's goals, but they have only been able to do so by ignoring or dismissing what Mr. Obama himself, in a rare moment of candor, promised at the tail end of his run for the presidency: "We are five days away from fundamentally transforming the United States of America."
This statement, coming on top of his association with radicals like Bill Ayers, Jeremiah Wright and Rashid Khalidi, definitively revealed to all who were not wilfully blinding themselves that Mr. Obama was a genuine product of the political culture that had its birth among a marginal group of leftists in the early 1960s and that by the end of the decade had spread metastatically to the universities, the mainstream media, the mainline churches, and the entertainment industry. Like their communist ancestors of the 1930s, the leftist radicals of the '60s were convinced that the United States was so rotten that only a revolution could save it.
But whereas the communists had in their delusional vision of the Soviet Union a model of the kind of society that would replace the one they were bent on destroying, the new leftists only knew what they were against: America, or Amerika as they spelled it to suggest its kinship to Nazi Germany. Thanks, however, to the unmasking of the Soviet Union as a totalitarian nightmare, they did not know what they were for. Yet once they had pulled off the incredible feat of taking over the Democratic Party behind the presidential candidacy of George McGovern in 1972, they dropped the vain hope of a revolution, and in the social-democratic system most fully developed in Sweden they found an alternative to American capitalism that had a realistic possibility of being achieved through gradual political reform.
Despite Mr. McGovern's defeat by Richard Nixon in a landslide, the leftists remained a powerful force within the Democratic Party, but for the next three decades the electoral exigencies within which they had chosen to operate prevented them from getting their own man nominated. Thus, not one of the six Democratic presidential candidates who followed Mr. McGovern came out of the party's left wing, and when Jimmy Carter and Bill Clinton (the only two of the six who won) tried each in his own way to govern in its spirit, their policies were rejected by the American immune system. It was only with the advent of Barack Obama that the leftists at long last succeeded in nominating one of their own.
To be sure, no white candidate who had close associations with an outspoken hater of America like Jeremiah Wright and an unrepentant terrorist like Bill Ayers would have lasted a single day. But because Mr. Obama was black, and therefore entitled in the eyes of liberaldom to have hung out with protesters against various American injustices, even if they were a bit extreme, he was given a pass. And in any case, what did such ancient history matter when he was also articulate and elegant and (as he himself had said) "non-threatening," all of which gave him a fighting chance to become the first black president and thereby to lay the curse of racism to rest?
And so it came about that a faithful scion of the political culture of the '60s left is now sitting in the White House and doing everything in his power to effect the fundamental transformation of America to which that culture was dedicated and to which he has pledged his own personal allegiance.
I disagree with those of my fellow conservatives who maintain that Mr. Obama is indifferent to "the best interests of the United States" (Thomas Sowell) and is "purposely" out to harm America (Rush Limbaugh). In my opinion, he imagines that he is helping America to repent of its many sins and to become a different and better country.
But I emphatically agree with Messrs. Limbaugh and Sowell about this president's attitude toward America as it exists and as the Founding Fathers intended it. That is why my own answer to the question, "What Happened to Obama?" is that nothing happened to him. He is still the same anti-American leftist he was before becoming our president, and it is this rather than inexperience or incompetence or weakness or stupidity that accounts for the richly deserved failure both at home and abroad of the policies stemming from that reprehensible cast of mind.
Mr. Podhoretz was the editor of Commentary from 1960 to 1995. His most recent book is "Why Are Jews Liberals?" (Doubleday, 2009).

It's open season on President Obama. Which is to say that the usual suspects on the right (among whom I include myself) are increasingly being joined in attacking him by erstwhile worshipers on the left. Even before the S&P downgrade, there were reports of Democrats lamenting that Hillary Clinton had lost to him in 2008. Some were comparing him not, as most of them originally had, to Lincoln and Roosevelt but to the hapless Jimmy Carter. There was even talk of finding a candidate to stage a primary run against him. But since the downgrade, more and more liberal pundits have been deserting what they clearly fear is a sinking ship.
Here, for example, from the Washington Post, is Richard Cohen: "He is the very personification of cognitive dissonance—the gap between what we (especially liberals) expected of the first serious African American presidential candidate and the man he in fact is." More amazingly yet Mr. Cohen goes on to say of Mr. Obama, who not long ago was almost universally hailed as the greatest orator since Pericles, that he lacks even "the rhetorical qualities of the old-time black politicians." And to compound the amazement, Mr. Cohen tells us that he cannot even "recall a soaring passage from a speech."
Overseas it is the same refrain. Everywhere in the world, we read in Germany's Der Spiegel, not only are the hopes ignited by Mr. Obama being dashed, but his "weakness is a problem for the entire global economy."
In short, the spell that Mr. Obama once cast—a spell so powerful that instead of ridiculing him when he boasted that he would cause "the oceans to stop rising and the planet to heal," all of liberaldom fell into a delirious swoon—has now been broken by its traumatic realization that he is neither the "god" Newsweek in all seriousness declared him to be nor even a messianic deliverer.
Hence the question on every lip is—as the title of a much quoted article in the New York Times by Drew Westen of Emory University puts it— "What Happened to Obama?" Attacking from the left, Mr. Westin charges that President Obama has been conciliatory when he should have been aggressively pounding away at all the evildoers on the right.
Of course, unlike Mr. Westen, we villainous conservatives do not see Mr. Obama as conciliatory or as "a president who either does not know what he believes or is willing to take whatever position he thinks will lead to his re-election." On the contrary, we see him as a president who knows all too well what he believes. Furthermore, what Mr. Westen regards as an opportunistic appeal to the center we interpret as a tactic calculated to obfuscate his unshakable strategic objective, which is to turn this country into a European-style social democracy while diminishing the leading role it has played in the world since the end of World War II. The Democrats have persistently denied that these are Mr. Obama's goals, but they have only been able to do so by ignoring or dismissing what Mr. Obama himself, in a rare moment of candor, promised at the tail end of his run for the presidency: "We are five days away from fundamentally transforming the United States of America."
This statement, coming on top of his association with radicals like Bill Ayers, Jeremiah Wright and Rashid Khalidi, definitively revealed to all who were not wilfully blinding themselves that Mr. Obama was a genuine product of the political culture that had its birth among a marginal group of leftists in the early 1960s and that by the end of the decade had spread metastatically to the universities, the mainstream media, the mainline churches, and the entertainment industry. Like their communist ancestors of the 1930s, the leftist radicals of the '60s were convinced that the United States was so rotten that only a revolution could save it.
But whereas the communists had in their delusional vision of the Soviet Union a model of the kind of society that would replace the one they were bent on destroying, the new leftists only knew what they were against: America, or Amerika as they spelled it to suggest its kinship to Nazi Germany. Thanks, however, to the unmasking of the Soviet Union as a totalitarian nightmare, they did not know what they were for. Yet once they had pulled off the incredible feat of taking over the Democratic Party behind the presidential candidacy of George McGovern in 1972, they dropped the vain hope of a revolution, and in the social-democratic system most fully developed in Sweden they found an alternative to American capitalism that had a realistic possibility of being achieved through gradual political reform.
Despite Mr. McGovern's defeat by Richard Nixon in a landslide, the leftists remained a powerful force within the Democratic Party, but for the next three decades the electoral exigencies within which they had chosen to operate prevented them from getting their own man nominated. Thus, not one of the six Democratic presidential candidates who followed Mr. McGovern came out of the party's left wing, and when Jimmy Carter and Bill Clinton (the only two of the six who won) tried each in his own way to govern in its spirit, their policies were rejected by the American immune system. It was only with the advent of Barack Obama that the leftists at long last succeeded in nominating one of their own.
To be sure, no white candidate who had close associations with an outspoken hater of America like Jeremiah Wright and an unrepentant terrorist like Bill Ayers would have lasted a single day. But because Mr. Obama was black, and therefore entitled in the eyes of liberaldom to have hung out with protesters against various American injustices, even if they were a bit extreme, he was given a pass. And in any case, what did such ancient history matter when he was also articulate and elegant and (as he himself had said) "non-threatening," all of which gave him a fighting chance to become the first black president and thereby to lay the curse of racism to rest?
And so it came about that a faithful scion of the political culture of the '60s left is now sitting in the White House and doing everything in his power to effect the fundamental transformation of America to which that culture was dedicated and to which he has pledged his own personal allegiance.
I disagree with those of my fellow conservatives who maintain that Mr. Obama is indifferent to "the best interests of the United States" (Thomas Sowell) and is "purposely" out to harm America (Rush Limbaugh). In my opinion, he imagines that he is helping America to repent of its many sins and to become a different and better country.
But I emphatically agree with Messrs. Limbaugh and Sowell about this president's attitude toward America as it exists and as the Founding Fathers intended it. That is why my own answer to the question, "What Happened to Obama?" is that nothing happened to him. He is still the same anti-American leftist he was before becoming our president, and it is this rather than inexperience or incompetence or weakness or stupidity that accounts for the richly deserved failure both at home and abroad of the policies stemming from that reprehensible cast of mind.
Mr. Podhoretz was the editor of Commentary from 1960 to 1995. His most recent book is "Why Are Jews Liberals?" (Doubleday, 2009).
Published on August 13, 2011 09:26
August 12, 2011
Anomia em Londres

O caos que se instalou nas ruas de Londres nos últimos dias me remeteu ao alerta feito pelo sociólogo Dahrendorf sobre a "anomia". Alguns anarquistas, com instinto de destruição (os psicanalistas talvez falariam em pulsão de morte), conseguem vibrar com a baderna violenta, como se fosse uma luta pela liberdade. Nada mais falso! Segue meu artigo antigo sobre o livro de Dahrendorf.
O Caminho Para a Anomia
Rodrigo Constantino
"As crises de legitimidade sempre têm algo a ver com a incapacidade das sociedades em criar lealdade a seus valores básicos; se esses valores se tornam autodestrutivos, a crise torna-se aparente." (Ralf Dahrendorf)
O sociólogo alemão Ralf Dahrendorf, que acompanhou os terríveis anos nazistas bem de Berlim, escreveu em 1985 um livro chamado A Lei e a Ordem, onde traçou alguns paralelos entre a situação que estavam vivendo os países desenvolvidos nesta época e a era que antecedeu o nazismo. Seu principal alerta era quanto ao caminho para a anomia, que costuma anteceder regimes totalitários. Afinal, os índices de criminalidade estavam em alta nesses países desenvolvidos, ameaçando a paz e a ordem dos cidadãos.
Em primeiro lugar, é interessante definir o que exatamente o autor pretendia com o uso do termo anomia, resgatado na sociologia por Durkheim, em seu estudo sobre o suicídio. Dahrendorf estava preocupado com a incidência crescente da impunidade, cuja conseqüência é a anomia, "quando um número elevado e crescente de violações de normas torna-se conhecido e é relatado, mas não é punido". Com isso, ele não pretende justificar os crimes individuais, mas apenas reconhecer que a "anomia é uma condição social, que pode fazer brotar vários tipos de comportamento, como ocorreu durante a queda de Berlim, em 1945". Logo, a conexão entre anomia e crime não é causal. "A anomia fornece uma condição básica, onde as taxas de crimes tendem a ser elevadas".
No dicionário Aurélio, o termo anomia está definido como "ausência generalizada de respeito a normas sociais, devido a contradições ou divergências entre estas". Isso reforça o que o sociólogo tinha em mente, ao afirmar que "a anomia é então concebida como uma ruptura na estrutura cultural, ocorrendo especialmente quando houver uma aguda disjunção entre, de um lado, as normas e os objetivos culturais e, de outro, as capacidades socialmente estruturadas dos membros do grupo em agirem de acordo com essas normas e objetivos". No estado de anomia, as normas reguladoras do comportamento das pessoas perderam sua validade. As violações de normas simplesmente não são mais punidas.
"Esse é um estado de extrema incerteza, no qual ninguém sabe qual comportamento esperar do outro, sob determinadas situações". As normas são válidas se e quando elas forem tanto eficazes como morais, ou seja, julgadas corretas. A anomia é, pois, "uma condição em que tanto a eficácia social como a moralidade cultural das normas tendem a zero". Todas as sanções parecem ter desaparecido neste quadro social, e isto leva ao desaparecimento do poder legítimo, transformado em poder arbitrário e cruel. O "contrato social", entendido aqui como normas aceitas e mantidas através de sanções impostas pelas autoridades concernentes, é rasgado, restando o vácuo em seu lugar. Tudo passa a ser visto como permitido, já que nada mais parece ser punido.
Uma das causas que levam a esta anomia está na imagem de homem romântica, porém errada, que muitos alimentam desde Rousseau e seu "bom selvagem". Essas pessoas "supunham que bastava as pessoas serem liberadas das restrições impostas a suas ações pela história, pela cultura e pela sociedade, para que pudessem viver, felizes e em paz, para todo o sempre". Para Dahrendorf, "essa imagem do homem é um dos marcos principais no caminho para a anomia". Ainda que bem intencionados, esses românticos teriam buscado Rousseau, mas encontrado Hobbes, com a luta de todos contra todos.
Quando as ligaduras, os "liames culturais associados com certas unidades básicas às quais os indivíduos pertencem, em virtude de forças fora de seu alcance, mais do que escolha própria", estão enfraquecidas, o mundo tende a ser mais desorientador e desconcertante. Não é fácil achar substitutos para tais ligaduras, que sustentam os principais valores de uma sociedade. O enfraquecimento progressivo desses valores morais, assim como a impunidade, o declínio na validade das normas sociais, são ingredientes perigosos que podem levar à anomia. Os costumes e as leis são complementares: quanto mais sólidos os costumes, mais eficientes tendem a ser as leis. O assustador é quando ambos – costumes e leis – perderam o valor.
[...]
Foge ao escopo deste artigo focar nas soluções do problema. Mas não custa, ainda que en passant, apelar para o sucinto resumo do próprio autor. "A resposta para o problema de lei e ordem pode ser colocada numa única expressão: construção das instituições". O autor teria, com certeza, o apoio do prêmio Nobel de economia, Douglas North, que vem batendo incansavelmente nesta tecla. É mais fácil falar que fazer, claro. Mas isso não muda o fato de que compreender o que deve ser feito já é um bom começo. Estamos longe disso ainda, em minha opinião. Nem todos entendem o valor das instituições. E é preciso explicar também que isto não significa que quanto mais instituições, melhor. O outro perigo, além da anomia, é a hipernomia, o crescimento desordenado de normas, sanções e instituições, que gera apenas mais incerteza e desconfiança.
Com isso em mente, podemos concluir nas palavras do próprio Dahrendorf: "Somente através de um esforço consciente para construir e reconstruir as instituições podemos esperar garantir nossa liberdade em face da anomia".
Published on August 12, 2011 08:21
Ayn Rand já alertava...

"Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada; quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores; quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você; quando perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em auto-sacrifício; então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada." (Ayn Rand)
Published on August 12, 2011 07:50
Keynesianismo maneta
Rodrigo Constantino, para o Instituto Liberal
De forma bastante simplificada, o manual keynesiano manda o governo estimular a economia em épocas de recessão, e recolher os estímulos durante a bonança. Trata-se da conhecida política "anticíclica". Não obstante as inúmeras críticas que esta política merece, por seu foco obsessivo em dados agregados e por ignorar o real funcionamento da microeconomia, a coisa fica muito pior quando um "pequeno detalhe" é costumeiramente esquecido pelas autoridades: a parte que fala em recolher os estímulos nos períodos de pujança.
Keynes acabou oferecendo, com embalagens teóricas, uma grande desculpa para a gastança desenfreada dos políticos irresponsáveis. Estes só se lembram das tais "medidas anticíclicas" quando o cenário se deteriora. Foi assim que a crise de 2008 ofereceu a justificativa perfeita para "sentar o pau na máquina" em 2009 e 2010 – "por acaso" um ano eleitoral. O governo Lula liberou geral a gastança com recursos alheios. Foi estímulo fiscal para todo lado, aumento acelerado de crédito público e redução da taxa de juros. A rodada de estímulos surtiu efeito momentâneo, e a economia brasileira cresceu mais de 7% no ano. Dilma foi eleita.
A fatura, entretanto, chegou. A inflação ultrapassou com folga a meta do Banco Central. O país entrou em "pleno emprego". Sinais de superaquecimento surgiram em vários lugares. Era preciso entrar com urgência na fase de recolhimento dos estímulos. Mas o governo, naturalmente, detesta fazer isso. Cortar gastos vai contra a religião deles, ainda mais dos populistas. Foi assim que o BC de Tombini ficou "atrás da curva", sem puxar como deveria a taxa de juros para conter a ameaça inflacionária, e o governo anunciou um "corte de gastos" que representa, na verdade, um aumento em relação a 2010.
Agora que as bolsas despencaram e alguns falam em nova recessão nos EUA, eis que "desenvolvimentistas" (leia-se, aqueles que adoram torrar o dinheiro dos outros) já começam a falar em nova rodada de medidas "anticíclicas". Que raio de anticíclico é esse que só tem uma direção? Se a economia vai mal, então o governo gasta à vontade para estimulá-la; se a economia cresce, então o governo gasta mais porque pode. E assim caminha a insanidade, até o dia em que a farra fica insustentável, como ocorreu na Grécia. São os efeitos de um keynesianismo maneta.
De forma bastante simplificada, o manual keynesiano manda o governo estimular a economia em épocas de recessão, e recolher os estímulos durante a bonança. Trata-se da conhecida política "anticíclica". Não obstante as inúmeras críticas que esta política merece, por seu foco obsessivo em dados agregados e por ignorar o real funcionamento da microeconomia, a coisa fica muito pior quando um "pequeno detalhe" é costumeiramente esquecido pelas autoridades: a parte que fala em recolher os estímulos nos períodos de pujança.
Keynes acabou oferecendo, com embalagens teóricas, uma grande desculpa para a gastança desenfreada dos políticos irresponsáveis. Estes só se lembram das tais "medidas anticíclicas" quando o cenário se deteriora. Foi assim que a crise de 2008 ofereceu a justificativa perfeita para "sentar o pau na máquina" em 2009 e 2010 – "por acaso" um ano eleitoral. O governo Lula liberou geral a gastança com recursos alheios. Foi estímulo fiscal para todo lado, aumento acelerado de crédito público e redução da taxa de juros. A rodada de estímulos surtiu efeito momentâneo, e a economia brasileira cresceu mais de 7% no ano. Dilma foi eleita.
A fatura, entretanto, chegou. A inflação ultrapassou com folga a meta do Banco Central. O país entrou em "pleno emprego". Sinais de superaquecimento surgiram em vários lugares. Era preciso entrar com urgência na fase de recolhimento dos estímulos. Mas o governo, naturalmente, detesta fazer isso. Cortar gastos vai contra a religião deles, ainda mais dos populistas. Foi assim que o BC de Tombini ficou "atrás da curva", sem puxar como deveria a taxa de juros para conter a ameaça inflacionária, e o governo anunciou um "corte de gastos" que representa, na verdade, um aumento em relação a 2010.
Agora que as bolsas despencaram e alguns falam em nova recessão nos EUA, eis que "desenvolvimentistas" (leia-se, aqueles que adoram torrar o dinheiro dos outros) já começam a falar em nova rodada de medidas "anticíclicas". Que raio de anticíclico é esse que só tem uma direção? Se a economia vai mal, então o governo gasta à vontade para estimulá-la; se a economia cresce, então o governo gasta mais porque pode. E assim caminha a insanidade, até o dia em que a farra fica insustentável, como ocorreu na Grécia. São os efeitos de um keynesianismo maneta.
Published on August 12, 2011 07:18
Será que ainda falta emergir alguma baleia nesse mar?
Rodrigo Constantino, Valor Econômico
O pânico se instalou nos mercados nos últimos dias. O Sr. Mercado, sempre bipolar, está na fase em que o medo domina a ganância. E, assim como ocorre nas bolhas, há fundamentos para justificar a elevada aversão ao risco: governos muito endividados, baixo crescimento econômico e lideranças políticas medíocres em todo lugar.
Da mesma forma que comprar na euforia é irresponsabilidade, vender durante o pânico pode ser um tiro no pé. Este espaço tem trazido bons artigos nessa linha, argumentando como os ativos de risco ficaram baratos. Qualquer indicador técnico mostra que a bolsa brasileira, por exemplo, está "oversold". A máxima de mercado manda comprar quando tiver "sangue nas ruas", e este parece ser o caso. Para quem tem estômago para aguentar a volatilidade, esta parece uma oportunidade interessante.
Mas, como não poderia deixar de ser, existem riscos grandes no radar ainda. Pode ser interessante aos investidores buscar algum tipo de "hedge". Com esta volatilidade, comprar seguro não é barato. Um ativo, porém, chama mais a atenção, por parecer fora de preço: a moeda europeia.
As bolsas dos principais países europeus despencaram no ano. O CAC francês já cai mais de 20%, e o Société Générale cai quase 40%. O CDS (Credit Default Swap) da França passou de 170 pontos-base, o nível de risco que a Itália apresentava há poucas semanas. E, talvez o dado mais preocupante, o mercado interbancário na Europa está travando. O spread cobrado entre os bancos para zeragem sobe sem parar, e já está na faixa dos 70 pontos-base. A desconfiança no setor bancário europeu é total.
Não obstante esse cenário sombrio, o euro segue firme acima de US$ 1,40. Já escrevi neste espaço as possíveis explanações, entre elas a intervenção estatal, o diferencial de juros e os riscos do dólar. Mas, se a situação nos EUA é precária, ela parece ainda mais feia na Europa. O rebaixamento dos títulos americanos pela S&P tem foco político se os títulos da França não forem rebaixados também. O quadro fiscal francês é ainda pior.
O país tem déficit nominal de 7% do PIB, uma dívida sobre PIB acima de 80%, desemprego próximo de 10% e o governo já arrecada 55% do PIB em impostos, deixando pouca margem de manobra. Sua economia não tem competitividade para compensar o fortalecimento da moeda. E os bancos apresentam elevada exposição aos títulos de países em situação ainda pior, como a Itália.
O BCE, diante disso tudo, ainda não reduziu a taxa de juros, enquanto o Fed acaba de anunciar juros reais negativos por mais 24 meses. Mas até quando a Europa aguenta nessas condições? O presidente do BCE, Trichet, tem feito concessões à ortodoxia tradicional do Bundesbank, e chegou a anunciar a compra de títulos espanhóis e italianos. Mas é muito pouco para reverter o quadro europeu.
Quanto mais se estuda o cenário da Europa, mais difícil fica encontrar uma solução. A criação da moeda foi uma decisão política, e suas inúmeras falhas agora ficam evidentes. O cabo de guerra entre o Bundesbank e a França nos remete à origem do euro. A França, cansada de ser humilhada pelas constantes desvalorizações de sua moeda frente ao marco alemão, fez de tudo para criar o euro e unificar a política monetária. O que fazer agora?
Já há quem pense que a Alemanha poderá sair do euro, cansada de carregar o peso dos demais nas costas. Se o BCE consumar sua transformação em um banco central "dovish", rasgando seu mandato único de cuidar da inflação, não se pode prever a reação dos alemães. Imprimir moeda e salvar bancos e governos quebrados será a morte definitiva do Bundesbank, e o euro certamente sofreria muito. O BCE seria igual ao Fed de Bernanke.
Mas se o Bundesbank vencer a batalha e o BCE evitar a tentação da "solução americana", então o sistema bancário poderá implodir. Para evitar isso, seria necessário fazer tantas reformas, cortando gastos públicos e flexibilizando as leis trabalhistas, que parece impossível crer nessa saída. Ela seria dolorosa demais no curto prazo, para povos já muito acostumados com as regalias do "welfare state" camarada. Haveria ainda mais tensão social e revolta nas ruas.
Por qualquer ângulo observado, os maiores riscos parecem vir da Europa no momento. Crises financeiras são como pescaria com dinamites: primeiro emergem os peixes menores para depois surgirem as baleias mortas. Creio, então, que ainda falta aparecer alguma baleia boiando. E arriscaria dizer que ela será europeia.
Rodrigo Constantino é sócio da Graphus Capital
O pânico se instalou nos mercados nos últimos dias. O Sr. Mercado, sempre bipolar, está na fase em que o medo domina a ganância. E, assim como ocorre nas bolhas, há fundamentos para justificar a elevada aversão ao risco: governos muito endividados, baixo crescimento econômico e lideranças políticas medíocres em todo lugar.
Da mesma forma que comprar na euforia é irresponsabilidade, vender durante o pânico pode ser um tiro no pé. Este espaço tem trazido bons artigos nessa linha, argumentando como os ativos de risco ficaram baratos. Qualquer indicador técnico mostra que a bolsa brasileira, por exemplo, está "oversold". A máxima de mercado manda comprar quando tiver "sangue nas ruas", e este parece ser o caso. Para quem tem estômago para aguentar a volatilidade, esta parece uma oportunidade interessante.
Mas, como não poderia deixar de ser, existem riscos grandes no radar ainda. Pode ser interessante aos investidores buscar algum tipo de "hedge". Com esta volatilidade, comprar seguro não é barato. Um ativo, porém, chama mais a atenção, por parecer fora de preço: a moeda europeia.
As bolsas dos principais países europeus despencaram no ano. O CAC francês já cai mais de 20%, e o Société Générale cai quase 40%. O CDS (Credit Default Swap) da França passou de 170 pontos-base, o nível de risco que a Itália apresentava há poucas semanas. E, talvez o dado mais preocupante, o mercado interbancário na Europa está travando. O spread cobrado entre os bancos para zeragem sobe sem parar, e já está na faixa dos 70 pontos-base. A desconfiança no setor bancário europeu é total.
Não obstante esse cenário sombrio, o euro segue firme acima de US$ 1,40. Já escrevi neste espaço as possíveis explanações, entre elas a intervenção estatal, o diferencial de juros e os riscos do dólar. Mas, se a situação nos EUA é precária, ela parece ainda mais feia na Europa. O rebaixamento dos títulos americanos pela S&P tem foco político se os títulos da França não forem rebaixados também. O quadro fiscal francês é ainda pior.
O país tem déficit nominal de 7% do PIB, uma dívida sobre PIB acima de 80%, desemprego próximo de 10% e o governo já arrecada 55% do PIB em impostos, deixando pouca margem de manobra. Sua economia não tem competitividade para compensar o fortalecimento da moeda. E os bancos apresentam elevada exposição aos títulos de países em situação ainda pior, como a Itália.
O BCE, diante disso tudo, ainda não reduziu a taxa de juros, enquanto o Fed acaba de anunciar juros reais negativos por mais 24 meses. Mas até quando a Europa aguenta nessas condições? O presidente do BCE, Trichet, tem feito concessões à ortodoxia tradicional do Bundesbank, e chegou a anunciar a compra de títulos espanhóis e italianos. Mas é muito pouco para reverter o quadro europeu.
Quanto mais se estuda o cenário da Europa, mais difícil fica encontrar uma solução. A criação da moeda foi uma decisão política, e suas inúmeras falhas agora ficam evidentes. O cabo de guerra entre o Bundesbank e a França nos remete à origem do euro. A França, cansada de ser humilhada pelas constantes desvalorizações de sua moeda frente ao marco alemão, fez de tudo para criar o euro e unificar a política monetária. O que fazer agora?
Já há quem pense que a Alemanha poderá sair do euro, cansada de carregar o peso dos demais nas costas. Se o BCE consumar sua transformação em um banco central "dovish", rasgando seu mandato único de cuidar da inflação, não se pode prever a reação dos alemães. Imprimir moeda e salvar bancos e governos quebrados será a morte definitiva do Bundesbank, e o euro certamente sofreria muito. O BCE seria igual ao Fed de Bernanke.
Mas se o Bundesbank vencer a batalha e o BCE evitar a tentação da "solução americana", então o sistema bancário poderá implodir. Para evitar isso, seria necessário fazer tantas reformas, cortando gastos públicos e flexibilizando as leis trabalhistas, que parece impossível crer nessa saída. Ela seria dolorosa demais no curto prazo, para povos já muito acostumados com as regalias do "welfare state" camarada. Haveria ainda mais tensão social e revolta nas ruas.
Por qualquer ângulo observado, os maiores riscos parecem vir da Europa no momento. Crises financeiras são como pescaria com dinamites: primeiro emergem os peixes menores para depois surgirem as baleias mortas. Creio, então, que ainda falta aparecer alguma baleia boiando. E arriscaria dizer que ela será europeia.
Rodrigo Constantino é sócio da Graphus Capital
Published on August 12, 2011 04:38
August 11, 2011
Buttonwood: Forty years on

The Economist
FORGET Watergate. For economic historians, Richard Nixon's place in history is secure. He was the president who, 40 years ago, severed the link between global currencies and gold and ended the fixed-exchange-rate system.
Under the Bretton Woods regime, world currencies were pegged to the dollar, which in turn was tied to a set price of gold. Central banks had the right to convert their dollar holdings into bullion. But on August 15th 1971 Nixon, in the face of economic difficulties, closed the gold window, devalued the dollar against bullion and imposed a 10% surcharge on imports. The era of paper money and floating exchange rates had arrived.
However, currency crises didn't go away. In part, that was because the move to floating rates was not complete. The Europeans did not like leaving their currencies to the whims of the markets and made several efforts to limit exchange-rate flexibility within the EU, culminating in the adoption of the euro. The eventual effect was to move financial volatility from the currency to the bond markets, with uncompetitive countries facing higher borrowing costs rather than pressure on their exchange-rate pegs.
The inflexibility of currency pegs has long been cited as a reason for having floating rates. Milton Friedman, a monetarist economist, argued that adjustments were easier in a floating-rate system. In his book, "Essays in Positive Economics", published in 1953, he wrote that: "It is far simpler to allow one price to change, namely the price of foreign exchange, than to rely upon changes in the multitude of prices that together constitute the internal price structure."
The Bretton Woods founders had believed that floating rates would be dangerously unstable. But Friedman argued that, provided sensible policies were followed, speculators would act as a stabilising force, preventing currencies from departing too far from fair value.
In fact, exchange rates have been more volatile than Friedman might have expected. The chart shows the dollar versus the yen; although the overall trend has been one of dollar decline, there have been some sharp swings along the way. Despite a notional commitment to floating rates, there have been several bouts of intervention; the latest came on August 4th, when the Japanese tried to drive down their currency. The impact was spoiled when Standard & Poor's cut America's credit rating, sending the dollar back down.
The move to floating rates has also had some interesting side-effects. The Bretton Woods system had strict capital controls, designed to protect the exchange-rate pegs. But these became unnecessary in an era of floating rates. As they were abandoned in the early 1980s, capital started flowing round the world at an ever faster rate, with the finance sector taking a cut at every stage. It is surely no coincidence that the rise in the relative wages of financial professionals began at that point.
In addition, the central banks of free-floating currencies no longer had to raise interest rates to defend their exchange rates. Indeed, markets were more tolerant of countries with trade deficits than they were under Bretton Woods. Without the trade constraint, the way was made clear for "the Greenspan put": the use of interest-rate cuts to rescue financial markets, in effect underwriting asset prices.
By contrast, there were no asset bubbles to speak of in the Bretton Woods era and (not coincidentally) scarcely any financial crises. Between 1945 and 1971, the worst calendar-year loss suffered on Wall Street was a 14.1% decline in 1957.
Perhaps the lesson of the past 40 years is that neither a fixed nor a floating-rate system is a panacea. Many governments have used currency pegs as a shortcut towards economic credibility without the structural reforms needed to ensure their economies remained competitive. Floating rates create the temptation for governments to drive down their currencies and grab a bigger share of world trade. That temptation is very strong at the moment and could lead to further political tensions if America opts for another round of quantitative easing. In a world of competing devaluations, gold keeps driving higher. It surged above $1,800 an ounce on August 11th. In terms of the old gold measure, the dollar has devalued by 98% since the end of the Bretton Woods era.
Published on August 11, 2011 18:56
Viciados em estímulos monetários
Perfeita a charge de uma matéria da The Economist desta semana, com o título "Hit me baby one more time". É o "bull market" capenga, quase morto, à espera de mais uma dose de heroína do Fed. Bernanke, não podemos negar, é um fornecedor animado de droga pesada para o touro machucado. E com os aplausos da esquerda keynesiana, não custa lembrar.



Published on August 11, 2011 18:49
Um governo em dieta
por Dom Armentano (dezembro de 2010)
Podem os gastos de um governo federal, e consequentemente seu déficit orçamentário, serem de fato reduzidos substancialmente sem fazer com que o PIB entre em uma espiral descendente e o desemprego aumente a níveis extraordinários?
Social-democratas e economistas com simpatias keynesianas sempre argumentaram que reduções substanciais no gasto federal quando a atividade econômica está fraca (como atualmente nos países desenvolvidos) são medidas desastrosas. Será mesmo? Vejamos o que realmente aconteceu na última vez em que o governo de um país desenvolvido realmente reduziu seus gastos de maneira substancial.
O país é os EUA e o período é de 1945-1950. Tal período é (praticamente) um teste científico de uma hipótese keynesiana. Não obstante os repetidos alertas de vários economistas convencionais de que cortar gastos ao fim da Segunda Guerra Mundial traria de volta a Grande Depressão, o Congresso americano reduziu dramaticamente os gastos governamentais entre 1945 e 1950.
Os gastos do governo federal caíram de US$ 106.9 bilhões em 1945 para US$ 44,8 bilhões em 1950. Os gastos com defesa sofreram o maior corte de todos, caindo de US$ 93,7 bilhões em 1945 para apenas US$ 24,2 bilhões em 1950. Em apenas 5 anos, os gastos do governo caíram (em porcentagem do PIB) de 45% em 1945 para apenas 15% em 1950, e o déficit orçamentário anual do governo federal caiu de US$ 53,7 bilhões em 1945 para apenas US$ 1,3 bilhão em 1950.
Porém, o que aconteceu com a produção econômica e o desemprego? Não obstante as maciças transições econômicas por que passava a economia, que rearranjava sua estrutura até então voltada para o esforço de guerra para a produção doméstica, o PIB na verdade aumentou (confundindo todos os keynesianos) de US$ 223 bilhões em 1945 para US$ 244,2 bilhões em 1947 e então para US$ 293,8 bilhões em 1950. E mesmo com os milhões de soldados voltando para casa após a guerra, a taxa de desemprego ficou na média extremamente baixa de 4,5% entre 1945 e 1950. Desastre econômico? Dificilmente.
A história, obviamente, nunca se repete da mesma maneira, e 2010 não é 1945. Porém, uma coisa é clara: cortar os gastos e os déficits do governo federal americano no período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial não foi nenhuma obstrução à economia; longe disso. Com efeito, à medida que os gastos do governo e os controles de preço da época da guerra recuaram, a economia do setor privado expandiu-se robustamente e o desemprego permaneceu sensivelmente baixo. Os keynesianos, completamente errados na teoria, estavam completamente errados na prática também.
Podem os gastos de um governo federal, e consequentemente seu déficit orçamentário, serem de fato reduzidos substancialmente sem fazer com que o PIB entre em uma espiral descendente e o desemprego aumente a níveis extraordinários?
Social-democratas e economistas com simpatias keynesianas sempre argumentaram que reduções substanciais no gasto federal quando a atividade econômica está fraca (como atualmente nos países desenvolvidos) são medidas desastrosas. Será mesmo? Vejamos o que realmente aconteceu na última vez em que o governo de um país desenvolvido realmente reduziu seus gastos de maneira substancial.
O país é os EUA e o período é de 1945-1950. Tal período é (praticamente) um teste científico de uma hipótese keynesiana. Não obstante os repetidos alertas de vários economistas convencionais de que cortar gastos ao fim da Segunda Guerra Mundial traria de volta a Grande Depressão, o Congresso americano reduziu dramaticamente os gastos governamentais entre 1945 e 1950.
Os gastos do governo federal caíram de US$ 106.9 bilhões em 1945 para US$ 44,8 bilhões em 1950. Os gastos com defesa sofreram o maior corte de todos, caindo de US$ 93,7 bilhões em 1945 para apenas US$ 24,2 bilhões em 1950. Em apenas 5 anos, os gastos do governo caíram (em porcentagem do PIB) de 45% em 1945 para apenas 15% em 1950, e o déficit orçamentário anual do governo federal caiu de US$ 53,7 bilhões em 1945 para apenas US$ 1,3 bilhão em 1950.
Porém, o que aconteceu com a produção econômica e o desemprego? Não obstante as maciças transições econômicas por que passava a economia, que rearranjava sua estrutura até então voltada para o esforço de guerra para a produção doméstica, o PIB na verdade aumentou (confundindo todos os keynesianos) de US$ 223 bilhões em 1945 para US$ 244,2 bilhões em 1947 e então para US$ 293,8 bilhões em 1950. E mesmo com os milhões de soldados voltando para casa após a guerra, a taxa de desemprego ficou na média extremamente baixa de 4,5% entre 1945 e 1950. Desastre econômico? Dificilmente.
A história, obviamente, nunca se repete da mesma maneira, e 2010 não é 1945. Porém, uma coisa é clara: cortar os gastos e os déficits do governo federal americano no período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial não foi nenhuma obstrução à economia; longe disso. Com efeito, à medida que os gastos do governo e os controles de preço da época da guerra recuaram, a economia do setor privado expandiu-se robustamente e o desemprego permaneceu sensivelmente baixo. Os keynesianos, completamente errados na teoria, estavam completamente errados na prática também.
Published on August 11, 2011 08:00
Rodrigo Constantino's Blog
- Rodrigo Constantino's profile
- 32 followers
Rodrigo Constantino isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.