Rodrigo Constantino's Blog, page 382
March 29, 2012
The Dangers of an Interventionist Fed

By JOHN B. TAYLOR, WSJ
America has now had nearly a century of decision-making experience under the Federal Reserve Act, first passed in 1913. Thanks to careful empirical research by Milton Friedman, Anna Schwartz and Allan Meltzer, we have plenty of evidence that rules-based monetary policies work and unpredictable discretionary policies don't. Now is the time to act on that evidence.
The Fed's mistake of slowing money growth at the onset of the Great Depression is well-known. And from the mid-1960s through the '70s, the Fed intervened with discretionary go-stop changes in money growth that led to frequent recessions, high unemployment, low economic growth, and high inflation.
In contrast, through much of the 1980s and '90s and into the past decade the Fed ran a more predictable, rules-based policy with a clear price-stability goal. This eventually led to lower unemployment, lower interest rates, longer expansions, and stronger economic growth.
Unfortunately the Fed has returned to its discretionary, unpredictable ways, and the results are not good. Starting in 2003-05, it held interest rates too low for too long and thereby encouraged excessive risk-taking and the housing boom. It then overshot the needed increase in interest rates, which worsened the bust. Now, with inflation and the economy picking up, the Fed is again veering into "too low for too long" territory. Policy indicators suggest the need for higher interest rates, while the Fed signals a zero rate through 2014.
It is difficult to overstate the extraordinary nature of the recent interventions, even if you ignore actions during the 2008 panic, including the Bear Stearns and AIG bailouts, and consider only the subsequent two rounds of "quantitative easing" (QE1 and QE2)—the large-scale purchases of mortgage-backed securities and longer-term Treasurys.
The Fed's discretion is now virtually unlimited. To pay for mortgages and other large-scale securities purchases, all it has to do is credit banks with electronic deposits—called reserve balances or bank money. The result is the explosion of bank money (as shown in the nearby chart), which now dwarfs the Fed's emergency response to the 9/11 attacks.
Before the 2008 panic, reserve balances were about $10 billion. By the end of 2011 they were about $1,600 billion. If the Fed had stopped with the emergency responses of the 2008 panic, instead of embarking on QE1 and QE2, reserve balances would now be normal.
This large expansion of bank money creates risks. If it is not undone, then the bank money will eventually pour out into the economy, causing inflation. If it is undone too quickly, banks may find it hard to adjust and pull back on loans.
The very existence of quantitative easing as a policy tool creates unpredictability, as traders speculate whether and when the Fed will intervene again. That the Fed can, if it chooses, intervene without limit in any credit market—not only mortgage-backed securities but also securities backed by automobile loans or student loans—creates more uncertainty and raises questions about why an independent agency of government should have such power.
The combination of the prolonged zero interest rate and the bloated supply of bank money is potentially lethal. The Fed has effectively replaced the entire interbank money market and large segments of other markets with itself—i.e., the Fed determines the interest rate by declaring what it will pay on bank deposits at the Fed without regard for the supply and demand for money. By replacing large decentralized markets with centralized control by a few government officials, the Fed is distorting incentives and interfering with price discovery with unintended consequences throughout the economy.
For all these reasons, the Federal Reserve should move to a less interventionist and more rules-based policy of the kind that has worked in the past. With due deliberation, it should make plans to raise the interest rate and develop a credible strategy to reduce its outsized portfolio of Treasurys and mortgage-backed securities.
History shows that reform of the Federal Reserve Act is also needed to incentivize rules-based policy and prevent a return to excessive discretion. The Sound Dollar Act of 2012, a subject of hearings at the Joint Economic Committee this week, has a number of useful provisions. It removes the confusing dual mandate of "maximum employment" and "stable prices," which was put into the Federal Reserve Act during the interventionist wave of the 1970s. Instead it gives the Federal Reserve a single goal of "long-run price stability."
The term "long-run" clarifies that the goal does not require the Fed to overreact to the short-run ups and downs in inflation. The single goal wouldn't stop the Fed from providing liquidity when money markets freeze up, or serving as lender of last resort to banks during a panic, or reducing the interest rate in a recession.
Some worry that a focus on the goal of price stability would lead to more unemployment. History shows the opposite.
One reason the Fed kept its interest rate too low for too long in 2003-05 was concern that raising the interest rate would increase unemployment in the short run. However, an unintended effect was the great recession and very high unemployment. A single mandate would help the Fed avoid such mistakes. Since 2008, the Fed has explicitly cited the dual mandate to justify its extraordinary interventions, including quantitative easing. Removing the dual mandate will remove that excuse.
A single goal of long-run price stability should be supplemented with a requirement that the Fed establish and report its strategy for setting the interest rate or the money supply to achieve that goal. If the Fed deviates from its strategy, it should provide a written explanation and testify in Congress. To further limit discretion, restraints on the composition of the Federal Reserve's portfolio are also appropriate, as called for in the Sound Dollar Act.
Giving all Federal Reserve district bank presidents—not only the New York Fed president—voting rights at every Federal Open Market Committee meeting, as does the Sound Dollar Act, would ensure that the entire Federal Reserve system is involved in designing and implementing the strategy. It would offset any tendency for decisions to favor certain sectors or groups in the economy.
Such reforms would lead to a more predictable policy centered on maintaining the purchasing power of the dollar. They would provide an appropriate degree of oversight by the political authorities without interfering in the Fed's day-to-day operations.
Mr. Taylor is a professor of economics at Stanford and a senior fellow at the Hoover Institution. This op-ed is adapted from his testimony this week before the Joint Economic Committee, which drew on his book "First Principles: Five Keys to Restoring America's Prosperity." (W.W. Norton, 2012).
Published on March 29, 2012 04:09
March 28, 2012
Demanda agregada
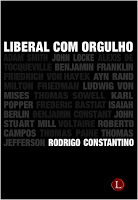
Rodrigo Constantino*
"As estatísticas são como o biquíni: o que revelam é interessante, mas o que ocultam é essencial." (Roberto Campos)
Não sei quanto ao leitor, mas eu demandaria um iate, um helicóptero e um jatinho se eu tivesse bilhões de dólares sobrando. Minha demanda tende ao infinito. Se não desfruto de tais bens materiais, isso se deve à falta de recursos, não de demanda. Esta conclusão pode parecer extremamente óbvia, e deveria. Infelizmente, a obviedade é algo em escassez quando se trata da economia keynesiana.
O foco obsessivo dos keynesianos em dados agregados acabou deturpando sua visão de mundo. Em vez de compreenderem que tais agregados servem, no máximo, como modelos simplificadores imperfeitos, esses economistas acabaram aceitando que a abstração era a realidade, gerando muita confusão teórica. O exemplo mais claro desta inversão é o tratamento dado ao PIB. A fórmula conhecida, Y = C + I + G + (X – M), produziu na cabeça dos mais desatentos uma crença absurda, qual seja, a de que o aumento dos gastos públicos é algo positivo para o crescimento econômico.
Como o governo não pode dar nada sem tirar do setor privado, pois suas fontes de recursos são os impostos, a inflação (que não passa de um imposto disfarçado) e o endividamento (que terá de ser pago eventualmente), claro que o aumento dos gastos públicos terá como contrapartida, inevitavelmente, a redução ou dos investimentos privados ou do consumo privado. Mas o foco demasiado no curto prazo, fruto de uma visão míope, faz com que os keynesianos negligenciem esses impactos negativos ao longo do tempo. Se o governo quer estimular o crescimento econômico e, portanto, a criação de empregos, basta ele expandir seus gastos.
Em Os pecados do capital, Robert Murphy dá um exemplo politicamente incorreto de falha no cálculo do PIB. Ele cita o caso de um homem que se casa com sua governanta, e explica: "Antes do casamento, os serviços dela (lavar, aspirar e cozinhar) eram comprados no mercado aberto e, portanto, contribuíam para o PIB oficial. Mas, depois do casamento, a nova dona-de-casa realiza essas mesmas tarefas 'de graça', fazendo o PIB oficial diminuir em função de seu salário anual anterior". Da mesma forma, as operações no mercado negro, enormes em um país burocrático como o Brasil, não são computadas nos números oficiais do PIB. Ao excluir os gastos "intermediários" do cálculo, para evitar dupla contagem, o PIB "minimiza a importância dos capitalistas e exagera o papel dos consumidores finais e os gastos do governo".
O economista Mark Skousen aponta outro exemplo dessas falhas:
Especialmente durante as festas natalinas, a mídia informa quase diariamente sobre as perspectivas das vendas a varejo, sugerindo que, se as vendas do Natal subirem, a economia está saudável e sólida. Por trás desses relatórios está a noção de que, se as festas natalinas durassem o ano inteiro, a economia poderia se expandir ainda mais
Entre vários problemas no cálculo do PIB, talvez o mais importante seja esse foco excessivo nos gastos, tanto dos consumidores como do governo. Isso passa a ideia de que são os gastos que geram a produção e, portanto, o crescimento econômico.
Keynes argumentava que, em períodos de insuficiente demanda agregada, caberia ao governo compensar esta queda com o aumento dos gastos. É a famosa política anticíclica. Foi a justificativa teórica perfeita para políticos ansiosos para torrar o dinheiro da "viúva" e conquistar votos pelas vias populistas. Claro que, na época da bonança e do forte crescimento econômico, o termo "anticíclico" era ignorado. A política acabava unidirecional, como se feita por economistas manetas. Mas o próprio conceito de demanda agregada insuficiente é falacioso. Parece que o rabo é que balança o cachorro, e não o contrário.
A lógica, de forma simplificada, funciona assim: a crise econômica ocorre como reação a uma queda da demanda agregada, sabe-se lá por qual motivo. Os empreendedores perderam seu "espírito animal" de repente. E cabe ao governo estimular a economia com aumento de gastos. Isso fará a demanda agregada subir, empregos serão criados e o consumo poderá retomar sua trajetória. Com mais consumo, as empresas produzem mais, empregando mais gente. Os salários podem aumentar, gerando um ciclo virtuoso. Parece tão simples que toda a miséria do mundo fica parecendo apenas resultado da falta de "vontade política".
Claro que isso tudo não passa de uma grande falácia econômica. Os keynesianos trocam a ordem dos fatores, alterando o produto final. Basta pensar em Robinson Crusoé e Sexta-Feira em uma ilha. Seria absurdo supor que é a demanda de algum deles que produz o crescimento econômico. Robinson Crusoé pode demandar uma enorme casa, mas esta só será produzida se houver recursos disponíveis. E estes dependem da poupança e da produtividade. Logo, é a poupança efetiva que permite o investimento produtivo, que, por sua vez, possibilita mais consumo depois. É preciso fazer o bolo para depois comê-lo. Keynesianos pensam que podem ter e comer o bolo ao mesmo tempo.
Se alguém questiona quais fatores permitem o aumento da "renda nacional", a resposta deverá ser: a melhoria dos equipamentos, das ferramentas e máquinas empregadas na produção, por um lado, e o avanço na utilização dos equipamentos disponíveis para a melhor satisfação possível das demandas individuais, por outro lado. O primeiro caso depende da poupança e da acumulação de capital; o segundo, das habilidades tecnológicas e das atividades empresariais. Se o aumento da renda nacional em termos reais é chamado de progresso, devemos aceitar que este é fruto das conquistas dos poupadores, investidores e empreendedores.
Os gastos do governo costumam desviar recursos destes fins mais produtivos. Keynes chegou no ponto absurdo de defender que seria justificável o governo, durante uma crise, contratar gente para cavar buracos e mais gente para tampá-los. Evidentemente que o fantástico desta proposta não passou despercebido na época. Questionado sobre o efeito de tais medidas no longo prazo, Keynes cunhou sua famosa frase: "No longo prazo estaremos todos mortos". O longo prazo, porém, inexoravelmente chega, por razões cronológicas. Hoje, nada mais é que o longo prazo de algum tempo atrás. E, para aqueles vivos, o custo desta mentalidade keynesiana costuma ser bastante elevado.
Com esta ferramenta equivocada, os keynesianos conseguiram até mesmo creditar guerras pela recuperação econômica. Paul Krugman, laureado com o Prêmio Nobel de Economia e um dos maiores ícones do keynesianismo moderno, repete o tempo todo que foi a Segunda Guerra Mundial que salvou os Estados Unidos da Grande Depressão. Mais recentemente, ele chegou a defender que gastos públicos para criar um mecanismo de defesa contra a hipotética invasão alienígena seria uma medida sensata para conter a crise. Eis o grau de absurdo que chega à lógica keynesiana. Qualquer reflexão mais atenta mostraria que jamais pode ser favorável para a economia desviar recursos escassos para fins inúteis. Qual o ganho social em utilizar aço e trabalho escasso para produzir navios que serão afundados na guerra? Como dizia Mises, a prosperidade que a guerra traz para a economia é a mesma dos furacões e terremotos.
Na verdade, esta falácia é bem antiga, e já tinha sido refutada por Bastiat em seu exemplo da janela quebrada. Algum vândalo joga uma pedra que estilhaça a janela de uma loja. Em seguida, algumas pessoas tentam consolar o dono da loja alegando que, ao menos, ele estará gerando emprego ao consertar a janela. Afinal, se janelas nunca fossem quebradas, de que iriam viver os reparadores de janelas? Esta linha de raciocínio cai justamente na falácia anteriormente citada, pois ignora aquilo que não se vê de imediato. Sim, o conserto da janela iria propiciar um ganho para o vidraceiro. Mas o que seria feito desse dinheiro gasto caso a janela não tivesse sido quebrada? Eis a pergunta que nem todos fazem, porém crucial para o entendimento da economia.
Existem várias alternativas de uso que o dono da loja poderia dar ao dinheiro. Ele poderia investi-lo para aumentar a produção, poderia poupá-lo ou poderia gastar com qualquer outra coisa. Supondo que ele gastasse a mesma quantia na compra de um terno, o alfaiate teria sido beneficiado, mas agora que o dinheiro foi usado para consertar a janela, esse terno deixou de ser vendido. Isso é aquilo que não se vê, ao menos de imediato. O alfaiate do exemplo é ignorado, é o homem esquecido na análise superficial da coisa. Parece ridículo de tão óbvio este caso, mas o leitor mais leigo ficaria chocado com os demais casos, que são apenas variações dessa mesma falácia.
Como espero ter deixado claro, as recessões econômicas não são resultado de ausência de demanda agregada, pois esta nada mais é que o somatório da demanda de todos os agentes econômicos, que tende ao infinito. O buraco é bem mais embaixo. E quando o governo tenta estimular a economia gastando mais, endividando-se e contratando trabalhadores para tarefas improdutivas, isso apenas agrava o problema estrutural. Os consumidores e empresários sabem que terão de pagar a conta mais cedo ou mais tarde, e isso afeta suas decisões. Consumo estimulado artificialmente produz apenas inflação, se financiado pela emissão de moeda sem lastro. E o tiro keynesiano sai pela culatra, pois os investidores ficam receosos com o futuro aumento de impostos, necessário para honrar os gastos mais elevados do governo.
A hiperatividade do governo durante as crises costuma afetar negativamente a economia, ao contrário do que pensam os keynesianos. Manipular a "demanda agregada" jamais foi ou será uma política sensata de crescimento econômico sustentável. Os keynesianos são como alquimistas modernos, que acreditam poder transformar chumbo em ouro por meio da magia. Como os alquimistas antigos, estão fadados ao fracasso, sempre. Infelizmente, aprendemos com a história que poucos aprendem com a história.
A despeito dos inúmeros fracassos das políticas keynesianas no passado, eles sempre dão um jeito de ignorar as lições históricas e reinterpretar os fatos de forma a jogar a culpa dos erros em ombros alheios. O governo gastou trilhões em estímulos e, ainda assim, a economia ameaça nova recessão? Então, claro que o problema só pode ter sido falta de estímulo! Insanidade, já alertava Einstein, é fazer tudo igual novamente e esperar resultados diferentes. Os insanos estão no poder.
* Artigo inédito do livro "Liberal com orgulho" (Ed. Lacre, 2011)
Published on March 28, 2012 09:27
March 27, 2012
Brasil: um país emergente?
Published on March 27, 2012 11:31
The Great Escape: Delivering in a Delevering World
Bill Gross, PIMCO
• When interest rates cannot be dramatically lowered further or risk spreads significantly compressed, the momentum begins to shift, not necessarily suddenly, but gradually – yields moving mildly higher and spreads stabilizing or moving slightly wider.
• In such a mildly reflating world, unless you want to earn an inflation-adjusted return of minus 2%-3% as offered by Treasury bills, then you must take risk in some form.
• We favor high quality, shorter duration and inflation-protected bonds; dividend paying stocks with a preference for developing over developed markets; and inflation-sensitive, supply-constrained commodity products.
About six months ago, I only half in jest told Mohamed that my tombstone would read, "Bill Gross, RIP, He didn't own 'Treasuries'." Now, of course, the days are getting longer and as they say in golf, it is better to be above – as opposed to below – the grass. And it is better as well, to be delivering alpha as opposed to delevering in the bond market or global economy. The best way to visualize successful delivering is to recognize that investors are locked up in a financially repressive environment that reduces future returns for all financial assets. Breaking out of that "jail" is what I call the Great Escape, and what I hope to explain in the next few pages.
The term delevering implies a period of prior leverage, and leverage there has been. Whether you date it from the beginning of fractional reserve and central banking in the early 20th century, the debasement of gold in the 1930s, or the initiation of Bretton Woods and the coordinated dollar and gold standard that followed for nearly three decades after WWII, the trend towards financial leverage has been ever upward. The abandonment of gold and embracement of dollar based credit by Nixon in the early 1970s was certainly a leveraging landmark as was the deregulation of Glass-Steagall by a Democratic Clinton administration in the late 1990s, and elsewhere globally. And almost always, the private sector was more than willing to play the game, inventing new forms of credit, loosely known as derivatives, which avoided the concept of conservative reserve banking altogether. Although there were accidents along the way such as the S&L crisis, Continental Bank, LTCM, Mexico, Asia in the late 1990s, the Dot-coms, and ultimately global subprime ownership, financial institutions and market participants learned that policymakers would support the system, and most individual participants, by extending credit, lowering interest rates, expanding deficits, and deregulating in order to keep economies ticking. Importantly, this combined fiscal and monetary leverage produced outsized returns that exceeded the ability of real economies to create wealth. Stocks for the Long Run was the almost universally accepted mantra, but it was really a period – for most of the last half century – of "Financial Assets for the Long Run" – and your house was included by the way in that category of financial assets even though it was just a pile of sticks and stones. If it always went up in price and you could borrow against it, it was a financial asset. Securitization ruled supreme, if not subprime.
As nominal and real interest rates came down, down, down and credit spreads were compressed through policy support and securitization, then asset prices magically ascended. PE ratios rose, bond prices for 30-year Treasuries doubled, real estate thrived, and anything that could be levered did well because the global economy and its financial markets were being levered and levered consistently.
And then suddenly in 2008, it stopped and reversed. Leverage appeared to reach its limits with subprimes, and then with banks and investment banks, and then with countries themselves. The game as we all have known it appears to be over, or at least substantially changed – moving for the moment from private to public balance sheets, but even there facing investor and political limits. Actually global financial markets are only selectively delevering. What delevering there is, is most visible with household balance sheets in the U.S. and Euroland peripheral sovereigns like Greece. The delevering is also relatively hidden in the recapitalization of banks and their lookalikes. Increasing capital, in addition to haircutting and defaults are a form of deleveraging that is long term healthy, if short term growth restrictive. On the whole, however, because of massive QEs and LTROS in the trillions of dollars, our credit based, leverage dependent financial system is actually leverage expanding, although only mildly and systemically less threatening than before, at least from the standpoint of a growth rate. The total amount of debt however is daunting and continued credit expansion will produce accelerating global inflation and slower growth in PIMCO's most likely outcome.
How do we deliver in this New Normal world that levers much more slowly in total, and can delever sharply in selective sectors and countries? Look at it this way rather simplistically. During the Great Leveraging of the past 30 years, it was financial assets with their expected future cash flows that did the best. The longer the stream of future cash flows and the riskier/more levered those flows, then the better they did. That is because, as I've just historically outlined, future cash flows are discounted by an interest rate and a risk spread, and as yields came down and spreads compressed, the greater return came from the longest and most levered assets. This was a world not of yield, but of total return, where price and yield formed the returns that exceeded the ability of global economies to consistently replicate them. Financial assets relative to real assets outperform in such a world as wealth is brought forward and stolen from future years if real growth cannot replicate historical total returns.
To put it even more simply, financial assets with long interest rate and spread durations were winners: long maturity bonds, stocks, real estate with rental streams and cap rates that could be compressed. Commodities were on the relative losing end although inflation took them up as well. That's not to say that an oil company with reserves in the ground didn't do well, but the oil for immediate delivery that couldn't benefit from an expansion of P/Es and a compression of risk spreads – well, not so well. And so commodities lagged financial asset returns. Our numbers show 1, 5 and 20-year histories of financial assets outperforming commodities by 15% for the most recent 12 months and 2% annually for the past 20 years.
This outperformance by financial as opposed to real assets is a result of the long journey and ultimate destination of credit expansion that I've just outlined, resulting in negative real interest rates and narrow credit and equity risk premiums; a state of financial repression as it has come to be known, that promises to be with us for years to come. It reminds me of an old movie staring Steve McQueen called The Great Escape where American prisoners of war were confined to a POW camp inside Germany in 1943. The living conditions were OK, much like today's financial markets, but certainly not what they were used to on the other side of the lines so to speak. Yet it was their duty as British and American officers to try to escape and get back to the old normal. They ingeniously dug escape tunnels and eventually escaped. It was a real life story in addition to its Hollywood flavor. Similarly though it is your duty to try to escape today's repression. Your living conditions are OK for now – the food and in this case the returns are good – but they aren't enough to get you what you need to cover liabilities. You need to think of an escape route that gets you back home yet at the same time doesn't get you killed in the process. You need a Great Escape to deliver in this financial repressive world.
What happens when we flip the scenario or perhaps reach the point at which interest rates cannot be dramatically lowered further or risk spreads significantly compressed? The momentum we would suggest begins to shift: not necessarily suddenly or swiftly as fatter tail bimodal distributions might warn, but gradually – yields moving mildly higher, spreads stabilizing or moving slightly wider. In such a mildly reflating world where inflation itself remains above 2% and in most cases moves higher, delivering double-digit or even 7-8% total returns from bonds, stocks and real estate becomes problematic and certainly much more difficult. Real growth as opposed to financial wizardry becomes predominant, yet that growth is stressed by excessive fiscal deficits and high debt/GDP levels. Commodities and real assets become ascendant, certainly in relative terms, as we by necessity delever or lever less. As well, financial assets cannot be elevated by zero based interest rate or other tried but now tired policy maneuvers that bring future wealth forward. Current prices in other words have squeezed all of the risk and interest rate premiums from future cash flows, and now financial markets are left with real growth, which itself experiences a slower new normal because of less financial leverage.
That is not to say that inflation cannot continue to elevate financial assets which can adjust to inflation over time – stocks being the prime example. They can, and there will be relative winners in this context, but the ability of an investor to earn returns well in excess of inflation or well in excess of nominal GDP is limited. Total return as a supercharged bond strategy is fading. Stocks with a 6.6% real Jeremy Siegel constant are fading. Levered hedge strategies based on spread and yield compression are fading. As we delever, it will be hard to deliver what you have been used to.
Still there is a place for all standard asset classes even though betas will be lower. Should you desert bonds simply because they may return 4% as opposed to 10%? I hope not. PIMCO's potential alpha generation and the stability of bonds remain critical components of an investment portfolio.
In summary, what has the potential to deliver the most return with the least amount of risk and highest information ratios? Logically, (1) Real as opposed to financial assets – commodities, land, buildings, machines, and knowledge inherent in an educated labor force. (2) Financial assets with shorter spread and interest rate durations because they are more defensive. (3) Financial assets for entities with relatively strong balance sheets that are exposed to higher real growth, for which developing vs. developed nations should dominate. (4) Financial or real assets that benefit from favorable policy thrusts from both monetary and fiscal authorities. (5) Financial or real assets which are not burdened by excessive debt and subject to future haircuts.
In plain speak –
For bond markets: favor higher quality, shorter duration and inflation protected assets.
For stocks: favor developing vs. developed. Favor shorter durations here too, which means consistent dividend paying as opposed to growth stocks.
For commodities: favor inflation sensitive, supply constrained products.
And for all asset categories, be wary of levered hedge strategies that promise double-digit returns that are difficult in a delevering world.
With regard to all of these broad asset categories, an investor in financial markets should not go too far on this defensive, as opposed to offensively oriented scenario. Unless you want to earn an inflation adjusted return of minus 2-3% as offered by Treasury bills, then you must take risk in some form. You must try to maximize risk adjusted carry – what we call "safe spread."
"Safe carry" is an essential element of capitalism – that is investors earning something more than a Treasury bill. If and when we cannot, then the system implodes – especially one with excessive leverage. Paul Volcker successfully redirected the U.S. economy from 1979-1981 during which investors earned less return than a Treasury bill, but that could only go on for several years and occurred in a much less levered financial system. Volcker had it easier than Bernanke/King/Draghi have it today. Is a systemic implosion still possible in 2012 as opposed to 2008? It is, but we will likely face much more monetary and credit inflation before the balloon pops. Until then, you should budget for "safe carry" to help pay your bills. The bunker portfolio lies further ahead.
Two additional considerations. In a highly levered world, gradual reversals are not necessarily the high probable outcome that a normal bell-shaped curve would suggest. Policy mistakes – too much money creation, too much fiscal belt-tightening, geopolitical conflicts and war, geopolitical disagreements and disintegration of monetary and fiscal unions – all of these and more lead to potential bimodal distributions – fat left and right tail outcomes that can inflate or deflate asset markets and real economic growth. If you are a rational investor you should consider hedging our most probable inflationary/low growth outcome – what we call a "C-" scenario – by buying hedges for fatter tailed possibilities. It will cost you something – and hedging in a low return world is harder to buy than when the cotton is high and the living is easy. But you should do it in amounts that hedge against principal downsides and allow for principal upsides in bimodal outcomes, the latter perhaps being epitomized by equity markets 10-15% returns in the first 80 days of 2012.
And secondly, be mindful of investment management expenses. Whoops, I'm not supposed to say that, but I will. Be sure you're getting value for your expense dollars. We of course – perhaps like many other firms would say, "We're Number One." Not always, not for me in the summer of 2011, but over the past 1, 5, 10, 25 years? Yes, we are certainly a #1 seed – with aspirations as always to be your #1 Champion.
• When interest rates cannot be dramatically lowered further or risk spreads significantly compressed, the momentum begins to shift, not necessarily suddenly, but gradually – yields moving mildly higher and spreads stabilizing or moving slightly wider.
• In such a mildly reflating world, unless you want to earn an inflation-adjusted return of minus 2%-3% as offered by Treasury bills, then you must take risk in some form.
• We favor high quality, shorter duration and inflation-protected bonds; dividend paying stocks with a preference for developing over developed markets; and inflation-sensitive, supply-constrained commodity products.
About six months ago, I only half in jest told Mohamed that my tombstone would read, "Bill Gross, RIP, He didn't own 'Treasuries'." Now, of course, the days are getting longer and as they say in golf, it is better to be above – as opposed to below – the grass. And it is better as well, to be delivering alpha as opposed to delevering in the bond market or global economy. The best way to visualize successful delivering is to recognize that investors are locked up in a financially repressive environment that reduces future returns for all financial assets. Breaking out of that "jail" is what I call the Great Escape, and what I hope to explain in the next few pages.
The term delevering implies a period of prior leverage, and leverage there has been. Whether you date it from the beginning of fractional reserve and central banking in the early 20th century, the debasement of gold in the 1930s, or the initiation of Bretton Woods and the coordinated dollar and gold standard that followed for nearly three decades after WWII, the trend towards financial leverage has been ever upward. The abandonment of gold and embracement of dollar based credit by Nixon in the early 1970s was certainly a leveraging landmark as was the deregulation of Glass-Steagall by a Democratic Clinton administration in the late 1990s, and elsewhere globally. And almost always, the private sector was more than willing to play the game, inventing new forms of credit, loosely known as derivatives, which avoided the concept of conservative reserve banking altogether. Although there were accidents along the way such as the S&L crisis, Continental Bank, LTCM, Mexico, Asia in the late 1990s, the Dot-coms, and ultimately global subprime ownership, financial institutions and market participants learned that policymakers would support the system, and most individual participants, by extending credit, lowering interest rates, expanding deficits, and deregulating in order to keep economies ticking. Importantly, this combined fiscal and monetary leverage produced outsized returns that exceeded the ability of real economies to create wealth. Stocks for the Long Run was the almost universally accepted mantra, but it was really a period – for most of the last half century – of "Financial Assets for the Long Run" – and your house was included by the way in that category of financial assets even though it was just a pile of sticks and stones. If it always went up in price and you could borrow against it, it was a financial asset. Securitization ruled supreme, if not subprime.
As nominal and real interest rates came down, down, down and credit spreads were compressed through policy support and securitization, then asset prices magically ascended. PE ratios rose, bond prices for 30-year Treasuries doubled, real estate thrived, and anything that could be levered did well because the global economy and its financial markets were being levered and levered consistently.
And then suddenly in 2008, it stopped and reversed. Leverage appeared to reach its limits with subprimes, and then with banks and investment banks, and then with countries themselves. The game as we all have known it appears to be over, or at least substantially changed – moving for the moment from private to public balance sheets, but even there facing investor and political limits. Actually global financial markets are only selectively delevering. What delevering there is, is most visible with household balance sheets in the U.S. and Euroland peripheral sovereigns like Greece. The delevering is also relatively hidden in the recapitalization of banks and their lookalikes. Increasing capital, in addition to haircutting and defaults are a form of deleveraging that is long term healthy, if short term growth restrictive. On the whole, however, because of massive QEs and LTROS in the trillions of dollars, our credit based, leverage dependent financial system is actually leverage expanding, although only mildly and systemically less threatening than before, at least from the standpoint of a growth rate. The total amount of debt however is daunting and continued credit expansion will produce accelerating global inflation and slower growth in PIMCO's most likely outcome.
How do we deliver in this New Normal world that levers much more slowly in total, and can delever sharply in selective sectors and countries? Look at it this way rather simplistically. During the Great Leveraging of the past 30 years, it was financial assets with their expected future cash flows that did the best. The longer the stream of future cash flows and the riskier/more levered those flows, then the better they did. That is because, as I've just historically outlined, future cash flows are discounted by an interest rate and a risk spread, and as yields came down and spreads compressed, the greater return came from the longest and most levered assets. This was a world not of yield, but of total return, where price and yield formed the returns that exceeded the ability of global economies to consistently replicate them. Financial assets relative to real assets outperform in such a world as wealth is brought forward and stolen from future years if real growth cannot replicate historical total returns.
To put it even more simply, financial assets with long interest rate and spread durations were winners: long maturity bonds, stocks, real estate with rental streams and cap rates that could be compressed. Commodities were on the relative losing end although inflation took them up as well. That's not to say that an oil company with reserves in the ground didn't do well, but the oil for immediate delivery that couldn't benefit from an expansion of P/Es and a compression of risk spreads – well, not so well. And so commodities lagged financial asset returns. Our numbers show 1, 5 and 20-year histories of financial assets outperforming commodities by 15% for the most recent 12 months and 2% annually for the past 20 years.
This outperformance by financial as opposed to real assets is a result of the long journey and ultimate destination of credit expansion that I've just outlined, resulting in negative real interest rates and narrow credit and equity risk premiums; a state of financial repression as it has come to be known, that promises to be with us for years to come. It reminds me of an old movie staring Steve McQueen called The Great Escape where American prisoners of war were confined to a POW camp inside Germany in 1943. The living conditions were OK, much like today's financial markets, but certainly not what they were used to on the other side of the lines so to speak. Yet it was their duty as British and American officers to try to escape and get back to the old normal. They ingeniously dug escape tunnels and eventually escaped. It was a real life story in addition to its Hollywood flavor. Similarly though it is your duty to try to escape today's repression. Your living conditions are OK for now – the food and in this case the returns are good – but they aren't enough to get you what you need to cover liabilities. You need to think of an escape route that gets you back home yet at the same time doesn't get you killed in the process. You need a Great Escape to deliver in this financial repressive world.
What happens when we flip the scenario or perhaps reach the point at which interest rates cannot be dramatically lowered further or risk spreads significantly compressed? The momentum we would suggest begins to shift: not necessarily suddenly or swiftly as fatter tail bimodal distributions might warn, but gradually – yields moving mildly higher, spreads stabilizing or moving slightly wider. In such a mildly reflating world where inflation itself remains above 2% and in most cases moves higher, delivering double-digit or even 7-8% total returns from bonds, stocks and real estate becomes problematic and certainly much more difficult. Real growth as opposed to financial wizardry becomes predominant, yet that growth is stressed by excessive fiscal deficits and high debt/GDP levels. Commodities and real assets become ascendant, certainly in relative terms, as we by necessity delever or lever less. As well, financial assets cannot be elevated by zero based interest rate or other tried but now tired policy maneuvers that bring future wealth forward. Current prices in other words have squeezed all of the risk and interest rate premiums from future cash flows, and now financial markets are left with real growth, which itself experiences a slower new normal because of less financial leverage.
That is not to say that inflation cannot continue to elevate financial assets which can adjust to inflation over time – stocks being the prime example. They can, and there will be relative winners in this context, but the ability of an investor to earn returns well in excess of inflation or well in excess of nominal GDP is limited. Total return as a supercharged bond strategy is fading. Stocks with a 6.6% real Jeremy Siegel constant are fading. Levered hedge strategies based on spread and yield compression are fading. As we delever, it will be hard to deliver what you have been used to.
Still there is a place for all standard asset classes even though betas will be lower. Should you desert bonds simply because they may return 4% as opposed to 10%? I hope not. PIMCO's potential alpha generation and the stability of bonds remain critical components of an investment portfolio.
In summary, what has the potential to deliver the most return with the least amount of risk and highest information ratios? Logically, (1) Real as opposed to financial assets – commodities, land, buildings, machines, and knowledge inherent in an educated labor force. (2) Financial assets with shorter spread and interest rate durations because they are more defensive. (3) Financial assets for entities with relatively strong balance sheets that are exposed to higher real growth, for which developing vs. developed nations should dominate. (4) Financial or real assets that benefit from favorable policy thrusts from both monetary and fiscal authorities. (5) Financial or real assets which are not burdened by excessive debt and subject to future haircuts.
In plain speak –
For bond markets: favor higher quality, shorter duration and inflation protected assets.
For stocks: favor developing vs. developed. Favor shorter durations here too, which means consistent dividend paying as opposed to growth stocks.
For commodities: favor inflation sensitive, supply constrained products.
And for all asset categories, be wary of levered hedge strategies that promise double-digit returns that are difficult in a delevering world.
With regard to all of these broad asset categories, an investor in financial markets should not go too far on this defensive, as opposed to offensively oriented scenario. Unless you want to earn an inflation adjusted return of minus 2-3% as offered by Treasury bills, then you must take risk in some form. You must try to maximize risk adjusted carry – what we call "safe spread."
"Safe carry" is an essential element of capitalism – that is investors earning something more than a Treasury bill. If and when we cannot, then the system implodes – especially one with excessive leverage. Paul Volcker successfully redirected the U.S. economy from 1979-1981 during which investors earned less return than a Treasury bill, but that could only go on for several years and occurred in a much less levered financial system. Volcker had it easier than Bernanke/King/Draghi have it today. Is a systemic implosion still possible in 2012 as opposed to 2008? It is, but we will likely face much more monetary and credit inflation before the balloon pops. Until then, you should budget for "safe carry" to help pay your bills. The bunker portfolio lies further ahead.
Two additional considerations. In a highly levered world, gradual reversals are not necessarily the high probable outcome that a normal bell-shaped curve would suggest. Policy mistakes – too much money creation, too much fiscal belt-tightening, geopolitical conflicts and war, geopolitical disagreements and disintegration of monetary and fiscal unions – all of these and more lead to potential bimodal distributions – fat left and right tail outcomes that can inflate or deflate asset markets and real economic growth. If you are a rational investor you should consider hedging our most probable inflationary/low growth outcome – what we call a "C-" scenario – by buying hedges for fatter tailed possibilities. It will cost you something – and hedging in a low return world is harder to buy than when the cotton is high and the living is easy. But you should do it in amounts that hedge against principal downsides and allow for principal upsides in bimodal outcomes, the latter perhaps being epitomized by equity markets 10-15% returns in the first 80 days of 2012.
And secondly, be mindful of investment management expenses. Whoops, I'm not supposed to say that, but I will. Be sure you're getting value for your expense dollars. We of course – perhaps like many other firms would say, "We're Number One." Not always, not for me in the summer of 2011, but over the past 1, 5, 10, 25 years? Yes, we are certainly a #1 seed – with aspirations as always to be your #1 Champion.
Published on March 27, 2012 11:03
E o aquecimento global, hein?
Rodrigo Constantino
Deu no WSJ: Global Warming Models Are Wrong Again
Diz um trecho do artigo, cujo autor é professor de física em Princeton:
What is happening to global temperatures in reality? The answer is: almost nothing for more than 10 years. [...] The lack of any statistically significant warming for over a decade has made it more difficult for the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and its supporters to demonize the atmospheric gas CO2 which is released when fossil fuels are burned. [...] Frustrated by the lack of computer-predicted warming over the past decade, some IPCC supporters have been claiming that "extreme weather" has become more common because of more CO2. But there is no hard evidence this is true.
Não sou especialista no tema, naturalmente. Mas algumas coisas sempre me incomodaram muito quando o assunto era aquecimento global. Em primeiro lugar, a histeria, que não combina com ciência séria. Em segundo lugar, o oportunismo político de gente como Al Gore, que usa o tema como desculpa para concentrar mais poder no governo. Em terceiro lugar, o refúgio ideológico que muitos comunistas encontraram para atacar o capitalismo, desta vez por sua criação de riqueza insustentável. São os "melancias", verdes por fora, mas vermelhos por dentro.
Por fim, o fato de o IPCC ser ligado ao governo, a ONU, e a postura contra os "dissidentes" ser radical, fanática, denotando linguagem de seita religiosa, e não da ciência. Tentaram encerrar o debate calando na marra aqueles que ousavam questionar. Isso é a morte da ciência propriamente dita. Como sou cético sempre, fiquei com a pulga atrás da orelha, li livros sobre o assunto, e fiquei cada vez mais convencido de que havia mentira demais naquilo vendido ao grande público. Quando mudaram a acusação de "aquecimento global" para "mudanças climáticas", deram a senha de que provavelmente se tratava de embuste mesmo. Mudanças climáticas é termo vago o suficiente para englobar qualquer coisa! E assim eles podem manter a histeria, independente dos FATOS.
Escrevi vários artigos sobre o assunto. Segue um desses artigos, com base no livro de Bjorn Lomborg.
Deu no WSJ: Global Warming Models Are Wrong Again
Diz um trecho do artigo, cujo autor é professor de física em Princeton:
What is happening to global temperatures in reality? The answer is: almost nothing for more than 10 years. [...] The lack of any statistically significant warming for over a decade has made it more difficult for the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and its supporters to demonize the atmospheric gas CO2 which is released when fossil fuels are burned. [...] Frustrated by the lack of computer-predicted warming over the past decade, some IPCC supporters have been claiming that "extreme weather" has become more common because of more CO2. But there is no hard evidence this is true.
Não sou especialista no tema, naturalmente. Mas algumas coisas sempre me incomodaram muito quando o assunto era aquecimento global. Em primeiro lugar, a histeria, que não combina com ciência séria. Em segundo lugar, o oportunismo político de gente como Al Gore, que usa o tema como desculpa para concentrar mais poder no governo. Em terceiro lugar, o refúgio ideológico que muitos comunistas encontraram para atacar o capitalismo, desta vez por sua criação de riqueza insustentável. São os "melancias", verdes por fora, mas vermelhos por dentro.
Por fim, o fato de o IPCC ser ligado ao governo, a ONU, e a postura contra os "dissidentes" ser radical, fanática, denotando linguagem de seita religiosa, e não da ciência. Tentaram encerrar o debate calando na marra aqueles que ousavam questionar. Isso é a morte da ciência propriamente dita. Como sou cético sempre, fiquei com a pulga atrás da orelha, li livros sobre o assunto, e fiquei cada vez mais convencido de que havia mentira demais naquilo vendido ao grande público. Quando mudaram a acusação de "aquecimento global" para "mudanças climáticas", deram a senha de que provavelmente se tratava de embuste mesmo. Mudanças climáticas é termo vago o suficiente para englobar qualquer coisa! E assim eles podem manter a histeria, independente dos FATOS.
Escrevi vários artigos sobre o assunto. Segue um desses artigos, com base no livro de Bjorn Lomborg.
Published on March 27, 2012 07:59
Máfias sindicais italianas
Rodrigo Constantino
Deu no Financial Times: OECD urges 'ambitious' eurozone reform
Diz um trecho da reportagem:
The OECD indirectly backed Mr Monti's reform agenda, and called on Italy among others to reduce restrictions on labour mobility, ease job protection and reform the wage bargaining system.
Qualquer economista sabe que é preciso flexibilizar as leis trabalhistas na Europa e reduzir a enorme quantidade de regalias artificiais que impedem maior dinamismo no mercado de trabalho. O desemprego está em patamares elevados, especialmente para os mais jovens, menos produtivos na média. O welfare state cobra seu pesado custo!
Mas politicamente é muito difícil reformar o mercado de trabalho, pois uma máfia sindical tomou conta da situação. Na Inglaterra, uma líder corajosa como Thatcher conseguiu dobrar a espinha dos mafiosos. Mas faltam lideranças na Europa hoje! E um governo tecnocrata como o de Mario Monti não tem o respaldo popular para enfrentar este desafio. Monti já começa a perder apoio.
Há dez anos, Marco Biagi, um economista reformador, tentava implementar na Itália mudanças nas leis trabalhistas, nos moldes propostos por Monti hoje. Seu destino: foi baleado e morto! É assim que a máfia sindical costuma agir quando enxerga risco aos seus privilégios, obtidos sempre à custa dos trabalhadores e pagadores de impostos.
Será que Monti dessa vez consegue levar adiante as reformas? Espero que sim, mas é cedo para dizer. Os obstáculos são enormes, e acho difícil ele ter força suficiente para mexer nesse vespeiro. O mais provável é mudar pouca coisa, e as máfias sindicais preservarem seu poder.
Roberto Saviano sabe como é mexer com a máfia italiana. E os sindicatos podem não ser a Camorra, mas não estão muito longe disso. Apenas mais uma coisa que faz a Itália parecer o Brasil da Europa...
Deu no Financial Times: OECD urges 'ambitious' eurozone reform
Diz um trecho da reportagem:
The OECD indirectly backed Mr Monti's reform agenda, and called on Italy among others to reduce restrictions on labour mobility, ease job protection and reform the wage bargaining system.
Qualquer economista sabe que é preciso flexibilizar as leis trabalhistas na Europa e reduzir a enorme quantidade de regalias artificiais que impedem maior dinamismo no mercado de trabalho. O desemprego está em patamares elevados, especialmente para os mais jovens, menos produtivos na média. O welfare state cobra seu pesado custo!
Mas politicamente é muito difícil reformar o mercado de trabalho, pois uma máfia sindical tomou conta da situação. Na Inglaterra, uma líder corajosa como Thatcher conseguiu dobrar a espinha dos mafiosos. Mas faltam lideranças na Europa hoje! E um governo tecnocrata como o de Mario Monti não tem o respaldo popular para enfrentar este desafio. Monti já começa a perder apoio.
Há dez anos, Marco Biagi, um economista reformador, tentava implementar na Itália mudanças nas leis trabalhistas, nos moldes propostos por Monti hoje. Seu destino: foi baleado e morto! É assim que a máfia sindical costuma agir quando enxerga risco aos seus privilégios, obtidos sempre à custa dos trabalhadores e pagadores de impostos.
Será que Monti dessa vez consegue levar adiante as reformas? Espero que sim, mas é cedo para dizer. Os obstáculos são enormes, e acho difícil ele ter força suficiente para mexer nesse vespeiro. O mais provável é mudar pouca coisa, e as máfias sindicais preservarem seu poder.
Roberto Saviano sabe como é mexer com a máfia italiana. E os sindicatos podem não ser a Camorra, mas não estão muito longe disso. Apenas mais uma coisa que faz a Itália parecer o Brasil da Europa...
Published on March 27, 2012 07:38
Filmes de Páscoa
João Pereira Coutinho, Folha de SP
1. Brandon é um viciado. Não em drogas, não em bebida, nem sequer em pastilhas socialmente aceitáveis. O negócio dele é sexo.
O leitor sorriu com essa possibilidade: sexo é vício que não mata ninguém. E a ciência médica tem dúvidas sobre isso. "Dependência sexual" será uma compulsão patológica ou a melhor forma de aliviar a consciência da mulher traída?
Deixemos de lado essas discussões. Voltemos a Brandon. No início de "Shame", filme de Steve McQueen, ele está deitado sobre uma cama. Tronco despido. Pele branca. Rosto pálido, magro, seco. Lençóis muito azuis.
McQueen, o diretor, é também artista plástico. O plano não é inocente: uma evocação perfeita de um Cristo nas suas mortalhas, como os maneiristas o pintaram repetidamente. Aquele homem está morto. Difícil saber se haverá ressurreição.
Existe uma sequência do filme que exprime esse óbito -e peço desculpa aos leitores por revelá-la aqui (os interessados podem sempre saltar alguns parágrafos): acontece quando Brandon, o supremo predador sexual, não consegue ter relações com uma colega de escritório.
A sequência vale o filme porque é, no duplo sentido da expressão, um "turn off". Os dias de Brandon são o avesso desse fracasso: prostitutas, orgias, encontros casuais em bares -o homem é um garfo insaciável. Tão insaciável que a pornografia e a masturbação servem de aperitivo e sobremesa para os pratos principais.
Só que Brandon falha naquele prato. A razão é tão simples e trágica que qualquer admiração adolescente por ele morre ali, na cama: a moça era a única mulher com quem Brandon tivera uma sombra de envolvimento emocional.
Jantaram antes. Conversaram trivialidades. Beijaram-se, acariciaram-se. E, quando finalmente chegam aos finalmentes, há um olhar trocado entre os dois -um olhar de desejo, sim, mas sobretudo de vulnerabilidade- que acaba com o nosso garanhão.
Ele se afasta, cobre o rosto e sente vergonha, a vergonha de que fala o título. Não a vergonha de ter brochado -Brandon encarrega-se, logo a seguir, de contratar uma profissional para mostrar que ainda é homem.
Mas nós, testemunhas de tudo, sabemos que ele não é. E que a vergonha maior é esta mesma: a vergonha de ser incapaz de estabelecer com qualquer ser humano uma ligação substancial.
Essa incapacidade será amplificada pela irmã de Brandon, que chega a Nova York e instala-se no seu apartamento por uns dias. Sissy é o avesso do irmão: envolve-se muito, sente muito, magoa-se muito.
Brandon não gosta do estilo. Não por se preocupar com a irmã -isso é pedir muito para quem deixou atrofiar a linguagem básica da afeição. Mas porque a irmã devolve-lhe o reflexo da seu incomensurável vazio. "Você me encurrala", grita, na noite em que a expulsa do apartamento. Brandon precisa do seu espaço imaculadamente vazio.
"Shame" é um dos filmes do ano. Porque há muitos anos o cinema não mostrava, de forma tão sem piedade e adulta, a intransponível solidão de um homem.
2. Michael Fassbender, em "Shame", é um prodígio de representação dramática que Hollywood, na sua temporada de prêmios, não foi capaz de suportar. Mas existe um lugar "ex aequo" para Michel Piccoli em "Habemus Papam".
Sou espectador de Piccoli há vários anos e só ele me faria assistir a um filme de Manoel de Oliveira (no caso, "Vou Para Casa", em 2001).
Em "Habemus Papam", Piccoli é o cardeal Melville, eleito papa no conclave, que, na hora de apresentação aos fiéis, é acometido por um pânico paralisante.
Piccoli é magistral nessa combinação de medo, tristeza e doçura infantil. E o filme de Nanni Moretti, contrariamente ao que foi escrito na Europa, não é um ataque à igreja -ou, mais amplamente, ao cristianismo.
Arrisco mesmo dizer que, ao filmar a fragilidade de um homem sobre quem os seus pares (ou o Espírito Santo?) colocaram tão ciclópica tarefa, Moretti realizou uma obra cristã por excelência.
"Pai, por que me abandonaste?", teria suspirado Cristo nos momentos finais da sua agonia na cruz.
Se ao filho de Deus foi permitido um tal momento de fraqueza, por que não a um mero filho de homens?
1. Brandon é um viciado. Não em drogas, não em bebida, nem sequer em pastilhas socialmente aceitáveis. O negócio dele é sexo.
O leitor sorriu com essa possibilidade: sexo é vício que não mata ninguém. E a ciência médica tem dúvidas sobre isso. "Dependência sexual" será uma compulsão patológica ou a melhor forma de aliviar a consciência da mulher traída?
Deixemos de lado essas discussões. Voltemos a Brandon. No início de "Shame", filme de Steve McQueen, ele está deitado sobre uma cama. Tronco despido. Pele branca. Rosto pálido, magro, seco. Lençóis muito azuis.
McQueen, o diretor, é também artista plástico. O plano não é inocente: uma evocação perfeita de um Cristo nas suas mortalhas, como os maneiristas o pintaram repetidamente. Aquele homem está morto. Difícil saber se haverá ressurreição.
Existe uma sequência do filme que exprime esse óbito -e peço desculpa aos leitores por revelá-la aqui (os interessados podem sempre saltar alguns parágrafos): acontece quando Brandon, o supremo predador sexual, não consegue ter relações com uma colega de escritório.
A sequência vale o filme porque é, no duplo sentido da expressão, um "turn off". Os dias de Brandon são o avesso desse fracasso: prostitutas, orgias, encontros casuais em bares -o homem é um garfo insaciável. Tão insaciável que a pornografia e a masturbação servem de aperitivo e sobremesa para os pratos principais.
Só que Brandon falha naquele prato. A razão é tão simples e trágica que qualquer admiração adolescente por ele morre ali, na cama: a moça era a única mulher com quem Brandon tivera uma sombra de envolvimento emocional.
Jantaram antes. Conversaram trivialidades. Beijaram-se, acariciaram-se. E, quando finalmente chegam aos finalmentes, há um olhar trocado entre os dois -um olhar de desejo, sim, mas sobretudo de vulnerabilidade- que acaba com o nosso garanhão.
Ele se afasta, cobre o rosto e sente vergonha, a vergonha de que fala o título. Não a vergonha de ter brochado -Brandon encarrega-se, logo a seguir, de contratar uma profissional para mostrar que ainda é homem.
Mas nós, testemunhas de tudo, sabemos que ele não é. E que a vergonha maior é esta mesma: a vergonha de ser incapaz de estabelecer com qualquer ser humano uma ligação substancial.
Essa incapacidade será amplificada pela irmã de Brandon, que chega a Nova York e instala-se no seu apartamento por uns dias. Sissy é o avesso do irmão: envolve-se muito, sente muito, magoa-se muito.
Brandon não gosta do estilo. Não por se preocupar com a irmã -isso é pedir muito para quem deixou atrofiar a linguagem básica da afeição. Mas porque a irmã devolve-lhe o reflexo da seu incomensurável vazio. "Você me encurrala", grita, na noite em que a expulsa do apartamento. Brandon precisa do seu espaço imaculadamente vazio.
"Shame" é um dos filmes do ano. Porque há muitos anos o cinema não mostrava, de forma tão sem piedade e adulta, a intransponível solidão de um homem.
2. Michael Fassbender, em "Shame", é um prodígio de representação dramática que Hollywood, na sua temporada de prêmios, não foi capaz de suportar. Mas existe um lugar "ex aequo" para Michel Piccoli em "Habemus Papam".
Sou espectador de Piccoli há vários anos e só ele me faria assistir a um filme de Manoel de Oliveira (no caso, "Vou Para Casa", em 2001).
Em "Habemus Papam", Piccoli é o cardeal Melville, eleito papa no conclave, que, na hora de apresentação aos fiéis, é acometido por um pânico paralisante.
Piccoli é magistral nessa combinação de medo, tristeza e doçura infantil. E o filme de Nanni Moretti, contrariamente ao que foi escrito na Europa, não é um ataque à igreja -ou, mais amplamente, ao cristianismo.
Arrisco mesmo dizer que, ao filmar a fragilidade de um homem sobre quem os seus pares (ou o Espírito Santo?) colocaram tão ciclópica tarefa, Moretti realizou uma obra cristã por excelência.
"Pai, por que me abandonaste?", teria suspirado Cristo nos momentos finais da sua agonia na cruz.
Se ao filho de Deus foi permitido um tal momento de fraqueza, por que não a um mero filho de homens?
Published on March 27, 2012 07:05
A incompetência virou elogio
Marco Antonio Villa, O GLOBO
O governo Dilma Rousseff lembra o petroleiro João Cândido. Foi inaugurado com festa, mas não pôde navegar. De longe, até que tem um bom aspecto. Mas não resiste ao teste. Se for lançado ao mar, afunda. Não há discurso, por mais empolgante que seja, que consiga impedir o naufrágio. A presidente apresenta um ar de uma política bem-intencionada, de uma tia severa e até parece acreditar no que diz. Imagina que seu governo vai bem, que as metas estão cumpridas, que formou uma boa equipe de auxiliares e que sua relação com a base de sustentação política é estritamente republicana. Contudo, os seus primeiros 15 meses de governo foram marcados por escândalos de corrupção, pela subserviência aos tradicionais oligarcas que controlam o Legislativo em Brasília e por uma irritante paralisia administrativa.
Inicialmente, a presidente vendeu a ideia que o Ministério não era dela, mas de Lula. E que era o preço que teria pagado por ser uma neófita na política nacional. Alguns chegaram até a acreditar que ela estaria se afastando do seu tutor político, o que demonstra como é amplo o campo do engodo no Brasil. Foi passando o tempo e nada mudou. Se ocorreram algumas mudanças no Ministério, nenhuma foi por sua iniciativa. Além do que, foi mantida a mesma lógica na designação dos novos ministros.
Confundindo cara feia com energia, a presidente continuou representando o papel de hábil executiva e que via a política com certo desprezo, como se os seus ideais de juventude não estivessem superados. Como sua base não é flor que se cheire, acabou até ganhando a simpatia popular. Contudo, não se afastou deste jardim, numa curiosa relação de amor e ódio. Manteve o método herdado do seu padrinho político, de transformar a ocupação do Estado em instrumento permanente de negociação política. E ainda diz, sem ficar ruborizada, que não é partidária do toma lá dá ca. Dá para acreditar?
O Ministério é notabilizado pela inoperância administrativa. Bom ministro é aquele que não aparece nos jornais com alguma acusação de corrupção. Para este governo, isto basta. Sem ser enfadonho, basta destacar dois casos. Aloizio Mercadante teve passagem pífia pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Se fosse demitido na reforma ministerial - aquela que a presidente anunciou no último trimestre do ano passado e até hoje não realizou -, poucos reclamariam, pois nada fez durante mais de um ano na função. Porém, como um bom exemplo do tempo em que vivemos, acabou promovido para o Ministério da Educação. Ou seja, a incapacidade foi premiada. O mesmo, parece, ocorrerá com Edison Lobão, que deve sair do Ministério de Minas e Energia para a presidência do Senado, com o beneplácito da presidente. O que fez de positivo no seu ministério?
Numa caricata representação de participação política, Dilma patrocinou uma reunião com o empresariado nacional para ouvir o já sabido. Todas as reclamações ou concordâncias já eram conhecidas antes do encontro. Então, para que a reunião? Para manter a aura da Presidência-espetáculo? Para garantir uma fugaz manchete no dia seguinte? Será que ela não sabe que não tem o poder de comunicação do seu tutor político e que tudo será esquecido rapidamente?
Uma das maiores obras da atualidade serve como referência para analisar como o governo trata a coisa pública. Desde quando foi anunciada a transposição de parte das águas do Rio São Francisco, inúmeras vozes sensatas se levantaram para demonstrar o absurdo da proposta. Nada demoveu o governo. Além do que estava próxima a eleição presidencial de 2010. Dilma ganhou de goleada na região por onde a obra passaria - em algumas cidades teve 92% dos votos. Passaria porque, apesar dos bilhões gastos, os canteiros estão abandonados e o pouco que foi realizado está sendo destruído pela falta de conservação. Enquanto isso, estados como a Bahia estão sofrendo com a maior seca dos últimos 30 anos. E, em vez de incentivar a agricultura seca, a formação de cooperativas, a construção de estradas vicinais e os projetos de conservação da água desenvolvidos por diversas entidades, a presidente optou por derramar bilhões de reais nos cofres das grandes empreiteiras.
A falta de uma boa equipe ministerial, a ausência de projetos e o descompromisso com o futuro do país são evidentes. O pouco - muito pouco - que funciona na máquina estatal é produto de mudanças que tiveram início no final do século XX. A ausência de novas iniciativas é patente. Sem condições de pensar o novo, resta ao governo maldizer os países que estão dando certo em vez de aprender as razões do êxito, reforçando um certo amargor nacional com o sucesso alheio. No passado a culpa era imputada aos Estados Unidos; hoje este papel está reservado à China.
Como em um conto de fadas, a presidente acredita que tudo terá um final feliz. Mas, até agora, o lobo mau está reinando absoluto na floresta. Basta observar os péssimos resultados econômicos do ano passado quando o Brasil foi o país que menos cresceu na América do Sul. E a comparação é com o Paraguai e o Equador e não com a Índia e a China.
Não é descabido imaginar que a presidente foi contaminada pelo "virus brasilienses". Esta "espécie", que prolifera com muita facilidade em Brasília, tem uma variante mais perigosa, o "petismus". A vacina é a democracia combinada com outra forma de governar, buscando a competência, os melhores quadros e alianças programáticas. Mas em um país marcado pela subserviência, a incompetência governamental se transformou em elogio.
MARÇO ANTONIO VILLA é historiador
O governo Dilma Rousseff lembra o petroleiro João Cândido. Foi inaugurado com festa, mas não pôde navegar. De longe, até que tem um bom aspecto. Mas não resiste ao teste. Se for lançado ao mar, afunda. Não há discurso, por mais empolgante que seja, que consiga impedir o naufrágio. A presidente apresenta um ar de uma política bem-intencionada, de uma tia severa e até parece acreditar no que diz. Imagina que seu governo vai bem, que as metas estão cumpridas, que formou uma boa equipe de auxiliares e que sua relação com a base de sustentação política é estritamente republicana. Contudo, os seus primeiros 15 meses de governo foram marcados por escândalos de corrupção, pela subserviência aos tradicionais oligarcas que controlam o Legislativo em Brasília e por uma irritante paralisia administrativa.
Inicialmente, a presidente vendeu a ideia que o Ministério não era dela, mas de Lula. E que era o preço que teria pagado por ser uma neófita na política nacional. Alguns chegaram até a acreditar que ela estaria se afastando do seu tutor político, o que demonstra como é amplo o campo do engodo no Brasil. Foi passando o tempo e nada mudou. Se ocorreram algumas mudanças no Ministério, nenhuma foi por sua iniciativa. Além do que, foi mantida a mesma lógica na designação dos novos ministros.
Confundindo cara feia com energia, a presidente continuou representando o papel de hábil executiva e que via a política com certo desprezo, como se os seus ideais de juventude não estivessem superados. Como sua base não é flor que se cheire, acabou até ganhando a simpatia popular. Contudo, não se afastou deste jardim, numa curiosa relação de amor e ódio. Manteve o método herdado do seu padrinho político, de transformar a ocupação do Estado em instrumento permanente de negociação política. E ainda diz, sem ficar ruborizada, que não é partidária do toma lá dá ca. Dá para acreditar?
O Ministério é notabilizado pela inoperância administrativa. Bom ministro é aquele que não aparece nos jornais com alguma acusação de corrupção. Para este governo, isto basta. Sem ser enfadonho, basta destacar dois casos. Aloizio Mercadante teve passagem pífia pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Se fosse demitido na reforma ministerial - aquela que a presidente anunciou no último trimestre do ano passado e até hoje não realizou -, poucos reclamariam, pois nada fez durante mais de um ano na função. Porém, como um bom exemplo do tempo em que vivemos, acabou promovido para o Ministério da Educação. Ou seja, a incapacidade foi premiada. O mesmo, parece, ocorrerá com Edison Lobão, que deve sair do Ministério de Minas e Energia para a presidência do Senado, com o beneplácito da presidente. O que fez de positivo no seu ministério?
Numa caricata representação de participação política, Dilma patrocinou uma reunião com o empresariado nacional para ouvir o já sabido. Todas as reclamações ou concordâncias já eram conhecidas antes do encontro. Então, para que a reunião? Para manter a aura da Presidência-espetáculo? Para garantir uma fugaz manchete no dia seguinte? Será que ela não sabe que não tem o poder de comunicação do seu tutor político e que tudo será esquecido rapidamente?
Uma das maiores obras da atualidade serve como referência para analisar como o governo trata a coisa pública. Desde quando foi anunciada a transposição de parte das águas do Rio São Francisco, inúmeras vozes sensatas se levantaram para demonstrar o absurdo da proposta. Nada demoveu o governo. Além do que estava próxima a eleição presidencial de 2010. Dilma ganhou de goleada na região por onde a obra passaria - em algumas cidades teve 92% dos votos. Passaria porque, apesar dos bilhões gastos, os canteiros estão abandonados e o pouco que foi realizado está sendo destruído pela falta de conservação. Enquanto isso, estados como a Bahia estão sofrendo com a maior seca dos últimos 30 anos. E, em vez de incentivar a agricultura seca, a formação de cooperativas, a construção de estradas vicinais e os projetos de conservação da água desenvolvidos por diversas entidades, a presidente optou por derramar bilhões de reais nos cofres das grandes empreiteiras.
A falta de uma boa equipe ministerial, a ausência de projetos e o descompromisso com o futuro do país são evidentes. O pouco - muito pouco - que funciona na máquina estatal é produto de mudanças que tiveram início no final do século XX. A ausência de novas iniciativas é patente. Sem condições de pensar o novo, resta ao governo maldizer os países que estão dando certo em vez de aprender as razões do êxito, reforçando um certo amargor nacional com o sucesso alheio. No passado a culpa era imputada aos Estados Unidos; hoje este papel está reservado à China.
Como em um conto de fadas, a presidente acredita que tudo terá um final feliz. Mas, até agora, o lobo mau está reinando absoluto na floresta. Basta observar os péssimos resultados econômicos do ano passado quando o Brasil foi o país que menos cresceu na América do Sul. E a comparação é com o Paraguai e o Equador e não com a Índia e a China.
Não é descabido imaginar que a presidente foi contaminada pelo "virus brasilienses". Esta "espécie", que prolifera com muita facilidade em Brasília, tem uma variante mais perigosa, o "petismus". A vacina é a democracia combinada com outra forma de governar, buscando a competência, os melhores quadros e alianças programáticas. Mas em um país marcado pela subserviência, a incompetência governamental se transformou em elogio.
MARÇO ANTONIO VILLA é historiador
Published on March 27, 2012 06:15
March 26, 2012
Ouch! It's a Hard Landing
By ALAN ABELSON, Barron's
Spring seems to have come a little early this year, and we're pleased, of course, to greet it warmly. Still: What happened to winter? In these parts, anyway, it made a brief and frosty appearance way back in October and then…vanished! More, we suspect, the result of meteorological mischief than mishap. It must be that whoever is in charge of the weather up there is bored to tears, hungry for diversion and intent on turning the world upside down.
We're not complaining, understand; for who can argue that this pockmarked planet with its bloody bouts of suppression and mayhem couldn't use a bit of straightening out?
For openers, we'd urge those devilish deities to engage in a little spring cleaning of the Middle East, concentrating on Iran and Syria. We're not suggesting biblical plagues or anything of that nature. Just a judicious culling of the ne'er-do-wells that have a foot on the necks of the populace. Not only would that miraculously relieve the oppressed natives, but, equally important, it would also sharply cut the price of a gallon of gasoline.
And the fix-it impulse might well be extended to Europe, subject, as it is, to recurring economic hemorrhaging inflicted largely by the populace's imprudence and aggravated by the stubborn insistence of the powers that be that austerity is a credible tourniquet.
As it happens, moreover, from all indications, China, which has become the biggest shopper for everything ever known to acquisitive man, has begun to show unmistakable signs of economic fatigue. Here, those prankish heavenly beings apparently have already started messing with the command economy.
For example, the China Banking Regulatory Commission owned up to the fact that the country's banks had underestimated the risk of some 20% of their outstanding loans—a cool $286 billion worth—to local governments. Reclassifying such loans, moreover, will take more than a stroke of the pen. The sinning banks may have to kick in a heap of yuan to build up their kitties against loan losses and scare up more collateral. The worry is that, if the local governments come up shy and banks fail to be repaid, Beijing will have to engineer its third bank bailout in not quite two decades.
China's trade numbers have turned disappointing as the dread combo of deleveraging in Europe and the U.S. and the deepening recession on the Continent are taking a toll. Increasingly, too, it strikes us that it's no longer a question of whether the Chinese economy will have a hard or soft landing, but how hard a landing.
Indeed, a fortnight ago, according to a report by Bloomberg News, at a conference in Singapore, JPMorgan Chase's chief Asian and emerging-market strategist, Adrian Mowat, declared that—no ifs, ands, or buts—"China is in a hard landing." He proceeded to reel off the negatives: "Car sales are down, cement production is down, steel production is down, construction stocks are down. It's not a debate anymore, it's a fact."
Mowat went on to stress that "One should be concerned about what's happening in the China property market. People are too complacent that the government can turn what's going on in this market."
It all sounds very much like the bursting of the bubble here, when only a lonely few thought it was for real. Mowat said that a pickup in property demand seems unlikely, and he can't find "any evidence of a policy move that will cause the economy to reaccelerate."
We've saved the best for last. Undeniably, as our quirky stock market gives evidence, our own proud nation is by no means immune to those offshore troubles enumerated above or the whimsy of the gods. Indeed, it may be that, as Messrs. Obama, Romney and Santorum agree, the U.S. is exceptional for all its spasms of fiscal imprudence.
While the rest of humanity struggles to regain its economic balance, we manage to amble along keeping our economy in a recovery mode, nipping away at unemployment and actually adding jobs. We may not be out of the woods yet, but at least we're not lost deep inside them.
And now comes Goldman Sachs, heralding the outlook for equities, calling it as good as it has been in a generation. That was the gist of a 40-page report, which at first sight seems like you would need a generation to digest it. It's called "The Long Good Buy," and, while it's nicely put together and even mostly comprehensible, a quick but attentive leaf-through left us unpersuaded.
In short, we hadn't even a flicker of interest in rushing out to buy a stock. But then, hey, what's the hurry, we've got a generation to think it over.
Spring seems to have come a little early this year, and we're pleased, of course, to greet it warmly. Still: What happened to winter? In these parts, anyway, it made a brief and frosty appearance way back in October and then…vanished! More, we suspect, the result of meteorological mischief than mishap. It must be that whoever is in charge of the weather up there is bored to tears, hungry for diversion and intent on turning the world upside down.
We're not complaining, understand; for who can argue that this pockmarked planet with its bloody bouts of suppression and mayhem couldn't use a bit of straightening out?
For openers, we'd urge those devilish deities to engage in a little spring cleaning of the Middle East, concentrating on Iran and Syria. We're not suggesting biblical plagues or anything of that nature. Just a judicious culling of the ne'er-do-wells that have a foot on the necks of the populace. Not only would that miraculously relieve the oppressed natives, but, equally important, it would also sharply cut the price of a gallon of gasoline.
And the fix-it impulse might well be extended to Europe, subject, as it is, to recurring economic hemorrhaging inflicted largely by the populace's imprudence and aggravated by the stubborn insistence of the powers that be that austerity is a credible tourniquet.
As it happens, moreover, from all indications, China, which has become the biggest shopper for everything ever known to acquisitive man, has begun to show unmistakable signs of economic fatigue. Here, those prankish heavenly beings apparently have already started messing with the command economy.
For example, the China Banking Regulatory Commission owned up to the fact that the country's banks had underestimated the risk of some 20% of their outstanding loans—a cool $286 billion worth—to local governments. Reclassifying such loans, moreover, will take more than a stroke of the pen. The sinning banks may have to kick in a heap of yuan to build up their kitties against loan losses and scare up more collateral. The worry is that, if the local governments come up shy and banks fail to be repaid, Beijing will have to engineer its third bank bailout in not quite two decades.
China's trade numbers have turned disappointing as the dread combo of deleveraging in Europe and the U.S. and the deepening recession on the Continent are taking a toll. Increasingly, too, it strikes us that it's no longer a question of whether the Chinese economy will have a hard or soft landing, but how hard a landing.
Indeed, a fortnight ago, according to a report by Bloomberg News, at a conference in Singapore, JPMorgan Chase's chief Asian and emerging-market strategist, Adrian Mowat, declared that—no ifs, ands, or buts—"China is in a hard landing." He proceeded to reel off the negatives: "Car sales are down, cement production is down, steel production is down, construction stocks are down. It's not a debate anymore, it's a fact."
Mowat went on to stress that "One should be concerned about what's happening in the China property market. People are too complacent that the government can turn what's going on in this market."
It all sounds very much like the bursting of the bubble here, when only a lonely few thought it was for real. Mowat said that a pickup in property demand seems unlikely, and he can't find "any evidence of a policy move that will cause the economy to reaccelerate."
We've saved the best for last. Undeniably, as our quirky stock market gives evidence, our own proud nation is by no means immune to those offshore troubles enumerated above or the whimsy of the gods. Indeed, it may be that, as Messrs. Obama, Romney and Santorum agree, the U.S. is exceptional for all its spasms of fiscal imprudence.
While the rest of humanity struggles to regain its economic balance, we manage to amble along keeping our economy in a recovery mode, nipping away at unemployment and actually adding jobs. We may not be out of the woods yet, but at least we're not lost deep inside them.
And now comes Goldman Sachs, heralding the outlook for equities, calling it as good as it has been in a generation. That was the gist of a 40-page report, which at first sight seems like you would need a generation to digest it. It's called "The Long Good Buy," and, while it's nicely put together and even mostly comprehensible, a quick but attentive leaf-through left us unpersuaded.
In short, we hadn't even a flicker of interest in rushing out to buy a stock. But then, hey, what's the hurry, we've got a generation to think it over.
Published on March 26, 2012 12:54
Desindustrialização ou lobby?
João Luiz Mauad, O GLOBO
Alguém já disse: torture os números e eles confessarão qualquer coisa. De fato, as estatísticas são, hoje em dia, as grandes aliadas dos mistificadores, que as utilizam de forma indiscriminada para dar aparencia científica às falácias e mentiras em prol de suas causas. Você pode desenvolver rígida argumentação lógica a respeito de um assunto sem convencer muita gente, mas basta acrescentar alguns números, tabelas e gráficos para respaldá-la e as pessoas passam a olhar os seus argumentos com outros olhos.
Um exemplo gritante disso apareceu no jornal Folha de São Paulo, de 09 de março. Nesse dia, uma matéria naquele diário informava - sob o título "Participação da indústria no PIB recua aos anos JK" - que "a participação da indústria no PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro recuou aos níveis de 1956, quando a indústria respondeu por 13,8% do PIB. De lá para cá, a indústria se diversificou, mas seu peso relativo diminuiu. O auge da contribuição da indústria para a geração de riquezas no país ocorreu em 1985: 27,2% do PIB. Desde então, tem caído."
Malgrado o título bombástico, até aqui a matéria é meramente informativa e apenas noticia um fato que as estatísticas a respeito desvendam. Seu uso oportunista só fica claro a partir do ponto em que se começa a apontar eventuais causas para um suposto problema. Assim, depois da introdução, entra em cena o senhor Paulo Skaf, que vem a ser o presidente da FIESP. Eis o que diz o valente: "Temos energia cara, spreads bancários dos maiores do mundo, câmbio valorizado, custo tributário enorme e uma importação maciça. A queda da indústria no PIB é a prova do processo de desindustrialização".
Exceto pelo exagero de afirmar que há no Brasil - um dos países mais protecionistas do mundo - volumes de importação maciços, quase tudo o que ele diz, fora a conclusão, é a mais pura verdade. O problema é que temos ali várias verdades sendo ditas com o propósito de retirar delas conclusões absolutamente falsas.
Primeiro, a maioria dos entraves listados por Skaf, além de outros tantos integrantes daquilo que se convencionou chamar de "custo Brasil, não prejudicam somente a indústria, mas todos os setores da economia. Segundo, se a queda da participação relativa do setor manufatureiro no PIB é prova da famigerada desindustrialização, então o que temos hoje é uma desindustrialização mundial.
De acordo com dados compilados pelas Nações Unidas, a queda da participação do setor de manufaturas no PIB é um fenômeno global, a exemplo do que já ocorrera anteriormente com a agricultura. Assim, de 1970 a 2010 esta queda foi de 24,5% para 13,5% no Brasil, de 22% para 13% nos EUA, de 19% para 10,5% no Canadá, de 31,5% para 18,7% na Alemanha e de 27% para 16% no mundo inteiro.
A causa dessa queda generalizada não está, evidentemente, numa suposta desindustrialização, mas no aumento da participação de outros setores, antes irrisórios, como serviços em geral, comércio, finanças, saúde, educação, ciência e tecnologia, etc. A verdade é que a produção total da indústria no mundo, se não está no seu pico está muito perto dele. Já a produção industrial brasileira é certamente muito maior hoje, em termos absolutos, do que era em 1985, ano em que, segundo a matéria, o setor manufatureiro alcançou a sua maior participação relativa no PIB.
Desindustrialização e Doença Holandesa são duas expressões caras aos lobbistas da indústria local. Uma rápida pesquisa com essas palavras no Google mostra diversos estudos e trabalhos "científicos" a respeito, repletos de gráficos e tabelas, a maioria deles patrocinada por entidades como FIESP, CNI e congêneres. Esse é também um importante nicho do pensamento nacionalista e intervencionista, utilizado amiúde para defender interesses, vantagens e privilégios diversos junto ao governo. Os pleitos desse pessoal não costumam variar muito. Seus alvos prioritários são as ditas políticas industriais (geralmente baseadas em subsídios e isenções fiscais) e protecionistas, leia-se: controles cambiais e barreiras alfandegárias / tarifárias.
O argumento aparente é quase sempre a criação e manutenção de empregos domésticos, mas a real intenção é a transferência de renda de consumidores para produtores ineficientes. Para que a estratégia seja 100% eficaz, a manipulação da opinião pública e o consequente respaldo político são essenciais, é claro.
Alguém já disse: torture os números e eles confessarão qualquer coisa. De fato, as estatísticas são, hoje em dia, as grandes aliadas dos mistificadores, que as utilizam de forma indiscriminada para dar aparencia científica às falácias e mentiras em prol de suas causas. Você pode desenvolver rígida argumentação lógica a respeito de um assunto sem convencer muita gente, mas basta acrescentar alguns números, tabelas e gráficos para respaldá-la e as pessoas passam a olhar os seus argumentos com outros olhos.
Um exemplo gritante disso apareceu no jornal Folha de São Paulo, de 09 de março. Nesse dia, uma matéria naquele diário informava - sob o título "Participação da indústria no PIB recua aos anos JK" - que "a participação da indústria no PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro recuou aos níveis de 1956, quando a indústria respondeu por 13,8% do PIB. De lá para cá, a indústria se diversificou, mas seu peso relativo diminuiu. O auge da contribuição da indústria para a geração de riquezas no país ocorreu em 1985: 27,2% do PIB. Desde então, tem caído."
Malgrado o título bombástico, até aqui a matéria é meramente informativa e apenas noticia um fato que as estatísticas a respeito desvendam. Seu uso oportunista só fica claro a partir do ponto em que se começa a apontar eventuais causas para um suposto problema. Assim, depois da introdução, entra em cena o senhor Paulo Skaf, que vem a ser o presidente da FIESP. Eis o que diz o valente: "Temos energia cara, spreads bancários dos maiores do mundo, câmbio valorizado, custo tributário enorme e uma importação maciça. A queda da indústria no PIB é a prova do processo de desindustrialização".
Exceto pelo exagero de afirmar que há no Brasil - um dos países mais protecionistas do mundo - volumes de importação maciços, quase tudo o que ele diz, fora a conclusão, é a mais pura verdade. O problema é que temos ali várias verdades sendo ditas com o propósito de retirar delas conclusões absolutamente falsas.
Primeiro, a maioria dos entraves listados por Skaf, além de outros tantos integrantes daquilo que se convencionou chamar de "custo Brasil, não prejudicam somente a indústria, mas todos os setores da economia. Segundo, se a queda da participação relativa do setor manufatureiro no PIB é prova da famigerada desindustrialização, então o que temos hoje é uma desindustrialização mundial.
De acordo com dados compilados pelas Nações Unidas, a queda da participação do setor de manufaturas no PIB é um fenômeno global, a exemplo do que já ocorrera anteriormente com a agricultura. Assim, de 1970 a 2010 esta queda foi de 24,5% para 13,5% no Brasil, de 22% para 13% nos EUA, de 19% para 10,5% no Canadá, de 31,5% para 18,7% na Alemanha e de 27% para 16% no mundo inteiro.
A causa dessa queda generalizada não está, evidentemente, numa suposta desindustrialização, mas no aumento da participação de outros setores, antes irrisórios, como serviços em geral, comércio, finanças, saúde, educação, ciência e tecnologia, etc. A verdade é que a produção total da indústria no mundo, se não está no seu pico está muito perto dele. Já a produção industrial brasileira é certamente muito maior hoje, em termos absolutos, do que era em 1985, ano em que, segundo a matéria, o setor manufatureiro alcançou a sua maior participação relativa no PIB.
Desindustrialização e Doença Holandesa são duas expressões caras aos lobbistas da indústria local. Uma rápida pesquisa com essas palavras no Google mostra diversos estudos e trabalhos "científicos" a respeito, repletos de gráficos e tabelas, a maioria deles patrocinada por entidades como FIESP, CNI e congêneres. Esse é também um importante nicho do pensamento nacionalista e intervencionista, utilizado amiúde para defender interesses, vantagens e privilégios diversos junto ao governo. Os pleitos desse pessoal não costumam variar muito. Seus alvos prioritários são as ditas políticas industriais (geralmente baseadas em subsídios e isenções fiscais) e protecionistas, leia-se: controles cambiais e barreiras alfandegárias / tarifárias.
O argumento aparente é quase sempre a criação e manutenção de empregos domésticos, mas a real intenção é a transferência de renda de consumidores para produtores ineficientes. Para que a estratégia seja 100% eficaz, a manipulação da opinião pública e o consequente respaldo político são essenciais, é claro.
Published on March 26, 2012 07:00
Rodrigo Constantino's Blog
- Rodrigo Constantino's profile
- 32 followers
Rodrigo Constantino isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.




