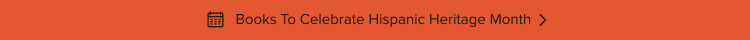Rodrigo Constantino's Blog, page 366
June 28, 2012
Sorria!
Contardo Calligaris, Folha de SP
Na frente da câmara fotográfica, ninguém precisa nos dizer "Sorria!"; espontaneamente, simulamos grandes alegrias, sorrindo de boca aberta. Em regra, hoje, os retratos são propaganda de pasta de dentes -se você não acredita, passeie pelo Facebook, onde muitos compartilham seus álbuns, rivalizando para ver quem parece melhor aproveitar a vida.
O hábito de sorrir nos retratos é muito recente. Angus Trumble, autor de "A Brief History of the Smile" (uma breve história do sorriso, Basic Books), assinala que esse costume não poderia ter se formado antes que os dentistas tornassem nossos dentes apresentáveis.
Além disso, os retratos pintados pediam poses longas e repetidas, para as quais era mais fácil adotar uma expressão "natural". O mesmo vale para os daguerreótipos e as primeiras fotos: os tempos de exposição eram longos demais. Já pensou manter um sorriso por minutos?
Outra explicação é que o retrato, até a terceira década do século 20, era uma ocasião rara e, por isso, um pouco solene.
Mas resta que nossos antepassados recentes, na hora de serem imortalizados, queriam deixar à posteridade uma imagem de seriedade e compostura; enquanto nós, na mesma hora, sentimos a necessidade de sorrir -e nada do sorriso enigmático do Buda ou de Mona Lisa: sorrimos escancaradamente.
Certo, o hábito de sorrir na foto se estabeleceu quando as câmaras fotográficas portáteis banalizaram o retrato. Mas é duvidoso que nossos sorrisos tenham sido inventados para essas câmaras. É mais provável que as câmaras tenham surgido para satisfazer a dupla necessidade de registrar (e mostrar aos outros) nossa suposta "felicidade" em duas circunstâncias que eram novas ou quase: a vida da família nuclear e o tempo de férias.
De fato, o álbum de fotos das crianças e o das férias são os grandes repertórios do sorriso. No primeiro, ao risco de parecerem idiotas de tanto sorrir, as crianças devem mostrar a nós e ao mundo que elas preenchem sua missão: a de realizar (ou parecer realizar) nossos sonhos frustrados de felicidade. Nas fotos das férias, trata-se de provar que nós também (além das crianças) sabemos ser "felizes".
Em suma, estampado na cara das crianças ou na nossa, o sorriso é, hoje, o grande sinal exterior da capacidade de aproveitar a vida. É ele que deveria nos valer a admiração (e a inveja) dos outros.
De uma longa época em que nossa maneira e talvez nossa capacidade de enfrentar a vida eram resumidas por uma espécie de seriedade intensa, passamos a uma época em que saber viver coincidiria com saber sorrir e rir. Nessa passagem, não há só uma mudança de expressão: o passado parece valorizar uma atenção focada e reflexiva, enquanto nós parecemos valorizar a diversão. Ou seja, no passado, saber viver era focar na vida; hoje, saber viver é se distrair dela.
Ao longo do século 19, antes que o sorriso deturpasse os retratos, a "felicidade" e a alegria excessivas eram, aliás, sinais de que o retratado estava dilapidando seu tempo, incapaz de encarar a complexidade e a finitude da vida.
Alguém dirá que tudo isso seria uma nostalgia sem relevância, se, valorizando o sorriso e o riso, conseguíssemos tornar a dita felicidade prioritária em nossas vidas. Se o bom humor da diversão afastasse as dores do dia a dia, quem se queixaria disso?
Pois é, acabo de ler uma pesquisa de Iris Mauss e outros, "Can Seeking Happiness Make People Happy? Paradoxical Effects of Valuing Happiness", em Emotion on-line, em abril de 2011 (http://migre.me/9CT8e).
Em tese, a valorização ajuda a alcançar o que é valorizado -por exemplo, se valorizo as boas notas, estudo mais etc. Mas eis que duas experiências complementares mostram que, no caso da felicidade (mesmo que ninguém saiba o que ela é exatamente -ou talvez por isso), acontece o contrário: valorizar a felicidade produz insatisfação e mesmo depressão. De que se trata? Decepção? Sentimento de inadequação?
Um pouco disso tudo e, mais radicalmente, trata-se da sensação de que a gente não tem competência para viver -apenas para se divertir ou, pior ainda, para fazer de conta. Como chegamos a isso?
Pouco tempo atrás, na minha frente, uma mãe conversava pelo telefone com o filho (que a preocupa um pouco pelo excesso de atividade e pela dispersão). O menino estava passando um dia agitado, brincando com amigos; a mãe quis saber se estava tudo bem e perguntou: "Filho, está se divertindo bem?".
Na frente da câmara fotográfica, ninguém precisa nos dizer "Sorria!"; espontaneamente, simulamos grandes alegrias, sorrindo de boca aberta. Em regra, hoje, os retratos são propaganda de pasta de dentes -se você não acredita, passeie pelo Facebook, onde muitos compartilham seus álbuns, rivalizando para ver quem parece melhor aproveitar a vida.
O hábito de sorrir nos retratos é muito recente. Angus Trumble, autor de "A Brief History of the Smile" (uma breve história do sorriso, Basic Books), assinala que esse costume não poderia ter se formado antes que os dentistas tornassem nossos dentes apresentáveis.
Além disso, os retratos pintados pediam poses longas e repetidas, para as quais era mais fácil adotar uma expressão "natural". O mesmo vale para os daguerreótipos e as primeiras fotos: os tempos de exposição eram longos demais. Já pensou manter um sorriso por minutos?
Outra explicação é que o retrato, até a terceira década do século 20, era uma ocasião rara e, por isso, um pouco solene.
Mas resta que nossos antepassados recentes, na hora de serem imortalizados, queriam deixar à posteridade uma imagem de seriedade e compostura; enquanto nós, na mesma hora, sentimos a necessidade de sorrir -e nada do sorriso enigmático do Buda ou de Mona Lisa: sorrimos escancaradamente.
Certo, o hábito de sorrir na foto se estabeleceu quando as câmaras fotográficas portáteis banalizaram o retrato. Mas é duvidoso que nossos sorrisos tenham sido inventados para essas câmaras. É mais provável que as câmaras tenham surgido para satisfazer a dupla necessidade de registrar (e mostrar aos outros) nossa suposta "felicidade" em duas circunstâncias que eram novas ou quase: a vida da família nuclear e o tempo de férias.
De fato, o álbum de fotos das crianças e o das férias são os grandes repertórios do sorriso. No primeiro, ao risco de parecerem idiotas de tanto sorrir, as crianças devem mostrar a nós e ao mundo que elas preenchem sua missão: a de realizar (ou parecer realizar) nossos sonhos frustrados de felicidade. Nas fotos das férias, trata-se de provar que nós também (além das crianças) sabemos ser "felizes".
Em suma, estampado na cara das crianças ou na nossa, o sorriso é, hoje, o grande sinal exterior da capacidade de aproveitar a vida. É ele que deveria nos valer a admiração (e a inveja) dos outros.
De uma longa época em que nossa maneira e talvez nossa capacidade de enfrentar a vida eram resumidas por uma espécie de seriedade intensa, passamos a uma época em que saber viver coincidiria com saber sorrir e rir. Nessa passagem, não há só uma mudança de expressão: o passado parece valorizar uma atenção focada e reflexiva, enquanto nós parecemos valorizar a diversão. Ou seja, no passado, saber viver era focar na vida; hoje, saber viver é se distrair dela.
Ao longo do século 19, antes que o sorriso deturpasse os retratos, a "felicidade" e a alegria excessivas eram, aliás, sinais de que o retratado estava dilapidando seu tempo, incapaz de encarar a complexidade e a finitude da vida.
Alguém dirá que tudo isso seria uma nostalgia sem relevância, se, valorizando o sorriso e o riso, conseguíssemos tornar a dita felicidade prioritária em nossas vidas. Se o bom humor da diversão afastasse as dores do dia a dia, quem se queixaria disso?
Pois é, acabo de ler uma pesquisa de Iris Mauss e outros, "Can Seeking Happiness Make People Happy? Paradoxical Effects of Valuing Happiness", em Emotion on-line, em abril de 2011 (http://migre.me/9CT8e).
Em tese, a valorização ajuda a alcançar o que é valorizado -por exemplo, se valorizo as boas notas, estudo mais etc. Mas eis que duas experiências complementares mostram que, no caso da felicidade (mesmo que ninguém saiba o que ela é exatamente -ou talvez por isso), acontece o contrário: valorizar a felicidade produz insatisfação e mesmo depressão. De que se trata? Decepção? Sentimento de inadequação?
Um pouco disso tudo e, mais radicalmente, trata-se da sensação de que a gente não tem competência para viver -apenas para se divertir ou, pior ainda, para fazer de conta. Como chegamos a isso?
Pouco tempo atrás, na minha frente, uma mãe conversava pelo telefone com o filho (que a preocupa um pouco pelo excesso de atividade e pela dispersão). O menino estava passando um dia agitado, brincando com amigos; a mãe quis saber se estava tudo bem e perguntou: "Filho, está se divertindo bem?".
Published on June 28, 2012 07:05
June 27, 2012
O país do sofá
Rodrigo Constantino
Povo engraçado é o nosso brasileiro
Que não faz elo entre causa e efeito
Deve ser na fabricação algum defeito
Falta razão pra tornar parte em inteiro
Se há algum doente muito febril
Quebra o termômetro e a febre se vai
Toma-se o sintoma pela causa, ai!
Povo sem lógica é povo servil
Se a inflação galopante corrói o salário
A culpa só pode ser do pulha empresário
Cuja ganância é maior do que o mar
Se a esposa foi pega em pleno adultério
Repete-se sempre o mesmo critério
Basta jogar fora o maldito sofá!
Povo engraçado é o nosso brasileiro
Que não faz elo entre causa e efeito
Deve ser na fabricação algum defeito
Falta razão pra tornar parte em inteiro
Se há algum doente muito febril
Quebra o termômetro e a febre se vai
Toma-se o sintoma pela causa, ai!
Povo sem lógica é povo servil
Se a inflação galopante corrói o salário
A culpa só pode ser do pulha empresário
Cuja ganância é maior do que o mar
Se a esposa foi pega em pleno adultério
Repete-se sempre o mesmo critério
Basta jogar fora o maldito sofá!
Published on June 27, 2012 16:36
Ceticismo saudável
 Rodrigo Constantino, para a revista Banco de Ideias do IL
Rodrigo Constantino, para a revista Banco de Ideias do IL Rótulos como “direita” e “esquerda” são sempre limitados e perigosos. Não é possível enquadrar todo o arcabouço de idéias políticas, sociais e econômicas em um único termo. Feita esta ressalva, há uma direita que eu considero digna de todo meu apreço e respeito. Ela está (muito bem) representada por pensadores como João Pereira Coutinho, Luiz Felipe Pondé e Denis Rosenfield.
Por isso recomendo a leitura do novo livro que os três lançaram em conjunto, explicando em curtos ensaios porque viraram à direita. A marca característica desta direita seria o ceticismo diante de toda utopia racionalista, de todo projeto revolucionário que oferece “um mundo melhor”, um sistema “justo” e acabado. Ser conservador, para eles, significa adotar postura cautelosa frente a esta arrogância.
Rousseau seria o pai do totalitarismo moderno de esquerda, ao adotar postura canalha e sentimentalista que falsifica a realidade. Incapaz de amar o próximo, incluindo seus filhos que foram abandonados, Rousseau se declarou um amante da Humanidade, abstração que não nos obriga a encarar as imperfeições e desencontros em qualquer relacionamento com outro ser humano de carne e osso. Com base nesta farsa, Rousseau passou a pregar um estado totalitário, retirando a responsabilidade dos indivíduos.
Coutinho lembra que há direitas e direitas, ou seja, uma ala da dita direita pretende igualmente desqualificar o presente imperfeito em prol de um passado idealizado. Conservador, para ele, não pode ser o mesmo que reacionário. Se este quer fugir da realidade, aquele aceita o mundo como ele é, de forma realista frente a toda complexidade que o define. Mentalidades radicais, de direita ou esquerda, preferem modelos simplistas e dogmáticos como rota de fuga.
A linhagem de céticos vem de longa data, com pensadores como Edmund Burke, David Hume, Michael Oakeshott, Isaiah Berlin, entre outros. O principal alerta deles seria contra modelos que pretendem redesenhar o mundo de uma hora para outra. Normalmente paridos em torres de marfim acadêmicas, tais modelos ignoram toda a complexidade da realidade, mascaram a natureza humana e depositam fé onipotente na razão.
Já os conservadores preferiam o caminho da cautela, do respeito às tradições sobreviventes por tentativa e erro em um processo muito maior do que cada um de nós pode compreender com sua limitada inteligência. Criticar os hábitos e costumes dos antigos que chegaram até nós, sim, mas com humildade, com ímpeto reformista e não revolucionário.
A vida em sociedade pressupõe limites, um convívio civilizado com pessoas que possuem valores diferentes dos nossos, muitas vezes incomensuráveis. Há que se ter o cuidado de não cair no extremo oposto, qual seja, o relativismo moral e cultural exacerbado, incapaz de julgar com qualquer objetividade os costumes de um povo. A esquerda que faz vista grossa aos atos bárbaros de regimes totalitários islâmicos cai nesta armadilha, por exemplo.
Mas adotar postura de tolerância diante da pluralidade de valores, eis uma bandeira conservadora respeitável. O ser humano é frágil perante um mundo muitas vezes sem sentido, e esta visão trágica da vida, presente em Pondé, por exemplo, faz com que devamos ficar alertas contra utopias que nada mais são do que máscaras para nossa vaidade e nosso orgulho.
Denis Rosenfield resgata sua experiência com o PT em Porto Alegre, para nos lembrar como estes impulsos totalitários podem vir embalados por nomes nobres e mentirosos. Quando o estado se torna o ente que vai realizar a busca desta perfeição terrena, o indivíduo sempre acaba sacrificado no altar da causa impossível.
O livrinho, que tem 110 páginas apenas, merece ser lido por todos. O investimento de alguns minutos será altamente recompensado.
Published on June 27, 2012 13:28
June 26, 2012
Crime contra São Paulo
João Pereira Coutinho, Folha de SP
Viajo para São Paulo em breve. Mas hoje, domingo, dia em que escrevo essas linhas, já recebi da minha tia paulistana o conselho habitual: "Meu querido, se eles pedirem, você dá tudo".
Abençoada tia. Quando a viagem é para Roma ou Paris, há sempre a sugestão de um restaurante, de um museu, de uma loja ou de um parque. São Paulo é outra história: se "eles" pedem, eu dou tudo.
E eu já dei: anos atrás, no lobby de um hotel a dois passos da avenida Paulista, fui assaltado à mão armada. "É só o laptop", disse-me o rapaz, uma cara amedrontada e imberbe que tremia com a pistola na mão. Nesse milésimo de segundo, lembrei da minha tia e virei o cachorro de Pavlov: ele pediu, eu dei o laptop. Sem pestanejar. Prejuízos?
Nenhuns: nem físicos, nem psicológicos. O hotel pagou um novo laptop e eu ainda ganhei uma história para contar. Nos dias seguintes, em conversas com amigos, relatava o episódio com a estupefação própria de um europeu.
Eles também estavam espantados: não pelo roubo, uma das atrações turísticas da cidade; mas pela ousadia do assaltante, que arriscou a vida para entrar no hotel. Raciocínio dos meus amigos: se o roubo fosse no carro ou na rua, tudo bem. Mas no hotel? Onde podem existir seguranças?
Relembro hoje as minhas aventuras passadas. Não apenas porque retornarei a São Paulo na próxima semana, mas porque os assaltos em estabelecimentos deixaram de ser privilégio meu.
Todos os dias leio na imprensa que um restaurante ou um bar sofreram mais um arrastão. O "modus operandi" é sempre o mesmo: entra o bando, alguém armado ameaça os presentes e depois é só fazer a limpeza. E a polícia?
Segundo o site da revista "Veja", nos primeiros 20 dias de junho houve 26 casos registrados. E a polícia não parece estar demasiado preocupada com "acontecimentos menores", sem a grandeza de matanças ou sequestros.
"Acontecimentos menores"? Lamento. Se a história do crime ensina alguma coisa é que "acontecimentos menores" são terreno fértil para "acontecimentos maiores".
Que o digam James Q. Wilson e George Kelling, que há precisamente 30 anos escreveram sobre o assunto na revista "The Atlantic Monthly". O ensaio, intitulado "Broken Windows" ("janelas quebradas", março de 1982), virou um clássico da criminologia e influenciou profundamente a luta contra o crime em Nova York nos anos 1990.
Durante as duas décadas anteriores, a "Big Apple" era considerada um caso perdido -em homicídios, estupros, assaltos e tráfico de droga. Como, então, se inverteu esse cenário?
O prefeito Rudolph Giuliani e o comissário da polícia William Bratton apostaram em estratégias pesadas -mais policiais nas ruas, responsabilização direta das chefias por incidentes ou delitos em suas áreas urbanas.
Mas Giuliani e Bratton aprenderam algo de mais sutil com o ensaio de Wilson e Kelling: condições de desordem só geram mais desordem. Exemplo: um bairro onde os edifícios estão degradados; as janelas quebradas; os muros cobertos de pichação são ninhos potenciais de marginalidade e crime.
A primeira coisa a fazer é consertar o bairro; é não tolerar que ele seja vandalizado novamente; é punir a pequena delinquência para evitar que ela se transforme em grande delinquência.
O ensaio de Wilson e Kelling, e a ação posterior de Giuliani e Bratton, revolucionou o combate ao crime. Não apenas em Nova York, mas em todas as cidades americanas onde a estratégia foi seguida.
Mais: a experiência da "tolerância zero" não se limitou a cidades americanas. Na Europa, essa intransigência com os pequenos delitos acabou por ser recompensada na Holanda, na Inglaterra, na Itália. O pequeno crime e o grande crime são disruptores da vida social. E o primeiro é a antecâmara do segundo.
Se as autoridades paulistanas consideram os arrastões em bares ou restaurantes "acontecimentos menores", elas deveriam ler James Wilson e George Kelling.
Sobretudo estas palavras: "As estatísticas do crime medem perdas individuais, mas não medem as perdas comunitárias". E as perdas comunitárias, acrescento eu, são mais difíceis de regenerar.
Moral da história? Eu até posso dar tudo quando "eles" pedem. Mas esse crime sobre mim é, na verdade, um crime contra São Paulo.
Viajo para São Paulo em breve. Mas hoje, domingo, dia em que escrevo essas linhas, já recebi da minha tia paulistana o conselho habitual: "Meu querido, se eles pedirem, você dá tudo".
Abençoada tia. Quando a viagem é para Roma ou Paris, há sempre a sugestão de um restaurante, de um museu, de uma loja ou de um parque. São Paulo é outra história: se "eles" pedem, eu dou tudo.
E eu já dei: anos atrás, no lobby de um hotel a dois passos da avenida Paulista, fui assaltado à mão armada. "É só o laptop", disse-me o rapaz, uma cara amedrontada e imberbe que tremia com a pistola na mão. Nesse milésimo de segundo, lembrei da minha tia e virei o cachorro de Pavlov: ele pediu, eu dei o laptop. Sem pestanejar. Prejuízos?
Nenhuns: nem físicos, nem psicológicos. O hotel pagou um novo laptop e eu ainda ganhei uma história para contar. Nos dias seguintes, em conversas com amigos, relatava o episódio com a estupefação própria de um europeu.
Eles também estavam espantados: não pelo roubo, uma das atrações turísticas da cidade; mas pela ousadia do assaltante, que arriscou a vida para entrar no hotel. Raciocínio dos meus amigos: se o roubo fosse no carro ou na rua, tudo bem. Mas no hotel? Onde podem existir seguranças?
Relembro hoje as minhas aventuras passadas. Não apenas porque retornarei a São Paulo na próxima semana, mas porque os assaltos em estabelecimentos deixaram de ser privilégio meu.
Todos os dias leio na imprensa que um restaurante ou um bar sofreram mais um arrastão. O "modus operandi" é sempre o mesmo: entra o bando, alguém armado ameaça os presentes e depois é só fazer a limpeza. E a polícia?
Segundo o site da revista "Veja", nos primeiros 20 dias de junho houve 26 casos registrados. E a polícia não parece estar demasiado preocupada com "acontecimentos menores", sem a grandeza de matanças ou sequestros.
"Acontecimentos menores"? Lamento. Se a história do crime ensina alguma coisa é que "acontecimentos menores" são terreno fértil para "acontecimentos maiores".
Que o digam James Q. Wilson e George Kelling, que há precisamente 30 anos escreveram sobre o assunto na revista "The Atlantic Monthly". O ensaio, intitulado "Broken Windows" ("janelas quebradas", março de 1982), virou um clássico da criminologia e influenciou profundamente a luta contra o crime em Nova York nos anos 1990.
Durante as duas décadas anteriores, a "Big Apple" era considerada um caso perdido -em homicídios, estupros, assaltos e tráfico de droga. Como, então, se inverteu esse cenário?
O prefeito Rudolph Giuliani e o comissário da polícia William Bratton apostaram em estratégias pesadas -mais policiais nas ruas, responsabilização direta das chefias por incidentes ou delitos em suas áreas urbanas.
Mas Giuliani e Bratton aprenderam algo de mais sutil com o ensaio de Wilson e Kelling: condições de desordem só geram mais desordem. Exemplo: um bairro onde os edifícios estão degradados; as janelas quebradas; os muros cobertos de pichação são ninhos potenciais de marginalidade e crime.
A primeira coisa a fazer é consertar o bairro; é não tolerar que ele seja vandalizado novamente; é punir a pequena delinquência para evitar que ela se transforme em grande delinquência.
O ensaio de Wilson e Kelling, e a ação posterior de Giuliani e Bratton, revolucionou o combate ao crime. Não apenas em Nova York, mas em todas as cidades americanas onde a estratégia foi seguida.
Mais: a experiência da "tolerância zero" não se limitou a cidades americanas. Na Europa, essa intransigência com os pequenos delitos acabou por ser recompensada na Holanda, na Inglaterra, na Itália. O pequeno crime e o grande crime são disruptores da vida social. E o primeiro é a antecâmara do segundo.
Se as autoridades paulistanas consideram os arrastões em bares ou restaurantes "acontecimentos menores", elas deveriam ler James Wilson e George Kelling.
Sobretudo estas palavras: "As estatísticas do crime medem perdas individuais, mas não medem as perdas comunitárias". E as perdas comunitárias, acrescento eu, são mais difíceis de regenerar.
Moral da história? Eu até posso dar tudo quando "eles" pedem. Mas esse crime sobre mim é, na verdade, um crime contra São Paulo.
Published on June 26, 2012 11:25
Uma nova política
Rodrigo Constantino, O GLOBO
Eu queria escrever sobre Rousseau. Nesta quinta completam-se três séculos de seu nascimento. Atacaria o coletivismo do filósofo, que jurava falar em nome da “vontade geral”, na prática, a tirania de poucos. Condenaria ainda o seu romantismo ingênuo, com a visão idílica do “bom selvagem”, que transforma em vítima a escória da humanidade.
Mas os acontecimentos da política nacional atropelaram minha intenção. As novas peripécias de Lula, melhor dizendo. Aquela foto do ex-presidente sorrindo enquanto aperta a mão de Paulo Maluf é tão sintomática que não pode passar em branco. Rousseau pode esperar.
Ao contrário de alguns, eu não padeço de romantismo. Política é a “arte do possível”. Concessões serão inevitáveis. Quem almeja pureza moral deve se ater ao campo das idéias. Meter as mãos no jogo sujo da política e sair totalmente limpo é utopia.
Concordo com tudo isso. Mas não posso conceber que exista somente esta forma de se fazer política! Se é ingenuidade cobrar pureza dos políticos, também é abjeto pensar que todos estarão sempre dispostos a tudo pelo poder. É fundamental separar o joio do trigo. Não podemos aceitar bovinamente que tudo isso é parte inevitável da política, e ponto final.
O melhor argumento de defesa dos petistas é que seu partido é “apenas” tão ruim quanto os outros. Mesmo se isso fosse verdade, seria patético para quem já tentou monopolizar a bandeira da ética no passado. Mas é mentira: o PT é pior!
Nunca antes na história deste país vimos um partido com tanta sede pelo poder, disposto aos mais nefastos meios para tanto. Aloprados, “mensalão”, dinheiro na cueca, amizade com os piores ditadores, isso é o PT. Quem acompanhou sua trajetória não pode ficar surpreso com a aliança entre Lula e Maluf. Este já tinha até apoiado Marta Suplicy em 2008.
O único “princípio” de Lula é o vale-tudo pelo poder. Todos os seus velhos desafetos da política, antes atacados com virulência, tornaram-se aliados. Jader Barbalho teve direito até a um beija-mão, uma “aula” de política, segundo o próprio Lula. Sarney, o eterno, virou um dos mais fiéis aliados. Collor foi outro que mereceu a aproximação de Lula.
Podemos não esperar a moralidade plena na política. Mas Lula vai muito além: ele representa o que há de mais imoral na vida pública brasileira. Para conseguir mais um minuto de TV na campanha pela prefeitura paulista, sua obsessão do momento, Lula seria capaz até de beijar Carlinhos Cachoeira. Ou alguém duvida disso?
Quando se trata de Lula, não há limites morais, não há um freio que diz “basta”. Fosse ele somente mais um político na cena nacional, isso mereceria uma atenção menor. O problema é que Lula não é apenas mais um, e sim o ex-presidente da República, com grande popularidade. Sua conduta deplorável tem efeitos secundários em toda a política. O fato de ele ter sido reeleito mesmo com o “mensalão” representou um duro golpe nas frágeis instituições republicanas. Foi aberta a caixa de Pandora.
Uma das conseqüências disso é o desprezo cada vez maior pela política das pessoas decentes. O círculo vicioso vai tomando proporções assustadoras, e boa parte da população já aceita de forma negligente que as coisas são assim mesmo. Só que, como alertava Platão, a punição que os bons sofrem, quando se recusam a agir, é viver sob o governo dos maus.
Longe de mim responsabilizar um único indivíduo por toda a podridão em nossa política. O modelo é ruim, as instituições são capengas, a mentalidade predominante é autoritária e antiliberal, dezenas de partidos não passam de legendas de aluguel, e a enorme concentração de poder e recursos no governo federal cria incentivos para esta pouca vergonha.
Mas é inegável que a postura de Lula serve para piorar o que já era ruim, para jogar mais lenha na fogueira da imoralidade de nossa política. Para agravar o quadro, temos uma oposição medíocre, acovardada, sem um programa alternativo de governo.
Luiz Felipe D’Ávila, em “Os Virtuosos”, mostra como o nascimento de nossa República dependeu de estadistas, indivíduos que entraram na vida pública “por uma questão de princípio, por um senso de missão e por um sentimento de dever”. Será que ainda somos capazes de produzir estadistas como Prudente de Moraes? Ou estaria nossa política condenada a abrigar tipos como Lula e Maluf, este procurado pela Interpol?
Volto a Rousseau para fechar. Ele dizia amar a Humanidade, esta linda abstração, mas abandonou todos os cinco filhos no orfanato. Voltaire o considerava um “poço de vileza”. O que ele diria sobre Lula?
Eu queria escrever sobre Rousseau. Nesta quinta completam-se três séculos de seu nascimento. Atacaria o coletivismo do filósofo, que jurava falar em nome da “vontade geral”, na prática, a tirania de poucos. Condenaria ainda o seu romantismo ingênuo, com a visão idílica do “bom selvagem”, que transforma em vítima a escória da humanidade.
Mas os acontecimentos da política nacional atropelaram minha intenção. As novas peripécias de Lula, melhor dizendo. Aquela foto do ex-presidente sorrindo enquanto aperta a mão de Paulo Maluf é tão sintomática que não pode passar em branco. Rousseau pode esperar.
Ao contrário de alguns, eu não padeço de romantismo. Política é a “arte do possível”. Concessões serão inevitáveis. Quem almeja pureza moral deve se ater ao campo das idéias. Meter as mãos no jogo sujo da política e sair totalmente limpo é utopia.
Concordo com tudo isso. Mas não posso conceber que exista somente esta forma de se fazer política! Se é ingenuidade cobrar pureza dos políticos, também é abjeto pensar que todos estarão sempre dispostos a tudo pelo poder. É fundamental separar o joio do trigo. Não podemos aceitar bovinamente que tudo isso é parte inevitável da política, e ponto final.
O melhor argumento de defesa dos petistas é que seu partido é “apenas” tão ruim quanto os outros. Mesmo se isso fosse verdade, seria patético para quem já tentou monopolizar a bandeira da ética no passado. Mas é mentira: o PT é pior!
Nunca antes na história deste país vimos um partido com tanta sede pelo poder, disposto aos mais nefastos meios para tanto. Aloprados, “mensalão”, dinheiro na cueca, amizade com os piores ditadores, isso é o PT. Quem acompanhou sua trajetória não pode ficar surpreso com a aliança entre Lula e Maluf. Este já tinha até apoiado Marta Suplicy em 2008.
O único “princípio” de Lula é o vale-tudo pelo poder. Todos os seus velhos desafetos da política, antes atacados com virulência, tornaram-se aliados. Jader Barbalho teve direito até a um beija-mão, uma “aula” de política, segundo o próprio Lula. Sarney, o eterno, virou um dos mais fiéis aliados. Collor foi outro que mereceu a aproximação de Lula.
Podemos não esperar a moralidade plena na política. Mas Lula vai muito além: ele representa o que há de mais imoral na vida pública brasileira. Para conseguir mais um minuto de TV na campanha pela prefeitura paulista, sua obsessão do momento, Lula seria capaz até de beijar Carlinhos Cachoeira. Ou alguém duvida disso?
Quando se trata de Lula, não há limites morais, não há um freio que diz “basta”. Fosse ele somente mais um político na cena nacional, isso mereceria uma atenção menor. O problema é que Lula não é apenas mais um, e sim o ex-presidente da República, com grande popularidade. Sua conduta deplorável tem efeitos secundários em toda a política. O fato de ele ter sido reeleito mesmo com o “mensalão” representou um duro golpe nas frágeis instituições republicanas. Foi aberta a caixa de Pandora.
Uma das conseqüências disso é o desprezo cada vez maior pela política das pessoas decentes. O círculo vicioso vai tomando proporções assustadoras, e boa parte da população já aceita de forma negligente que as coisas são assim mesmo. Só que, como alertava Platão, a punição que os bons sofrem, quando se recusam a agir, é viver sob o governo dos maus.
Longe de mim responsabilizar um único indivíduo por toda a podridão em nossa política. O modelo é ruim, as instituições são capengas, a mentalidade predominante é autoritária e antiliberal, dezenas de partidos não passam de legendas de aluguel, e a enorme concentração de poder e recursos no governo federal cria incentivos para esta pouca vergonha.
Mas é inegável que a postura de Lula serve para piorar o que já era ruim, para jogar mais lenha na fogueira da imoralidade de nossa política. Para agravar o quadro, temos uma oposição medíocre, acovardada, sem um programa alternativo de governo.
Luiz Felipe D’Ávila, em “Os Virtuosos”, mostra como o nascimento de nossa República dependeu de estadistas, indivíduos que entraram na vida pública “por uma questão de princípio, por um senso de missão e por um sentimento de dever”. Será que ainda somos capazes de produzir estadistas como Prudente de Moraes? Ou estaria nossa política condenada a abrigar tipos como Lula e Maluf, este procurado pela Interpol?
Volto a Rousseau para fechar. Ele dizia amar a Humanidade, esta linda abstração, mas abandonou todos os cinco filhos no orfanato. Voltaire o considerava um “poço de vileza”. O que ele diria sobre Lula?
Published on June 26, 2012 10:17
June 25, 2012
Dois blocos distintos
[image error]
Rodrigo Constantino, Revista Voto
A América Latina caminha para ficar dividida em dois blocos muito distintos. De um lado, o Mercosul, com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, sendo que a Venezuela aguarda aprovação do Parlamento paraguaio. Do outro, a Aliança do Pacífico, que foi assinada recentemente entre México, Colômbia, Peru e Chile, com Costa Rica e Panamá na fila de espera.
A intenção da Aliança do Pacífico é criar uma zona de livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas. Os quatro países membros representam 40% do PIB da América Latina e 55% das exportações da região ao resto do mundo. O bloco pretende buscar formas mais rápidas e pragmáticas de avançar nos temas comerciais e de integração, sem impedimentos ideológicos.
Se o Mercosul sofre cada vez mais influência do “socialismo bolivariano”, encabeçado por Hugo Chávez, a Aliança do Pacífico promete ser uma alternativa bem mais interessante. O Chile, afinal, representa o país latino-americano mais desenvolvido em termos econômicos e políticos, com uma renda per capita bem acima da média e a primeira colocação no ranking de IDH na vizinhança.
O grupo que o Brasil faz parte aponta para Cuba com crescente admiração. O grupo do Chile prefere apontar na direção do livre comércio, incluindo acordo bilateral com o próprio “Satã”, os Estados Unidos. A Argentina tem ignorado inúmeras cláusulas comerciais. Até mesmo confiscar propriedade estrangeira o governo Kirchner fez recentemente. O Brasil é um dos países que mais tem apelado para medidas protecionistas nos últimos meses.
Se a Venezuela finalmente entrar no Mercosul, isso será sua pá de cal definitiva, rasgando a cláusula que exige instituições democráticas para ser membro. Brasil, Argentina e Uruguai já ratificaram a adesão, restando apenas a aprovação final do Paraguai. Talvez isso explique a reação dos líderes da Unasul e Mercosul, sob a liderança de Hugo Chávez, ao impeachment do presidente Fernando Lugo nos últimos dias.
Não resta dúvida de que o processo foi acelerado demais, mas tudo leva a crer que foi feito dentro das regras constitucionais. Ou seja, não faz sentido falar em golpe. Além disso, a forma com a qual o presidente Lugo lidou com a questão agrária mostrou extrema incompetência, para dizer o mínimo. Há claros indícios de que ele foi até conivente com o bando de criminosos invasores de terra, que matou seis policiais em confronto sangrento.
Sempre que figuras como Chávez, Evo Morales e Rafael Correa falam em democracia, pode estar certo de que planejam alguma ação autoritária. É lamentável ver o Brasil liderando este tipo de movimento. O Paraguai foi suspenso do Mercosul, o que acende sinais de alerta quanto ao respeito do bloco às leis internas dos países-membros.
A postura do Itamaraty desde o governo Lula tem se mostrado invariavelmente incorreta, sempre mergulhada em ranço ideológico. A subserviência ao ditador iraniano é prova disso, assim como a negligência no caso da Síria. A aproximação aos ditadores africanos foi outra bola fora, sempre com a meta de conseguir o assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. O então presidente Lula até chegou a perdoar a dívida destes países em busca deste objetivo, sacrificando os pagadores de impostos brasileiros.
Um estudo feito pelo Instituto Acende Brasil, examinando 11 incidentes em que intervenções ou pleitos de nossos parceiros alteraram as condições originalmente pactuadas em contratos ou tratados, calculou em R$ 6,7 bilhões as perdas para o Brasil só no setor energético. Olhando para o futuro, as intervenções já realizadas poderiam elevar esta cifra para mais de R$ 21 bilhões.
Bolívia, Argentina, Venezuela e Paraguai, todos com governantes aliados ideologicamente ao PT, tomaram decisões unilaterais que representaram, de alguma forma, quebra de contrato com empresas brasileiras do setor de energia. Conforme diz o relatório do instituto:
“O Brasil tem sistematicamente ignorado ou menosprezado – com base numa postura de baixa transparência – os prejuízos ocasionados pelos seus acordos para os próprios brasileiros. Tais prejuízos têm sido causados pelo rompimento ou alteração de contratos por ações voluntaristas de governos.”
Traduzindo: o populismo dos camaradas tem sido pago pelos brasileiros. O ex-presidente Lula expressou a mentalidade por trás desta atitude passiva e negligente: “O Brasil é a maior economia e tem que ser generoso, aquele que ajuda o avanço dos outros”. É o PT usando o governo, ou seja, o dinheiro da “viúva”, para fazer “caridade” aos companheiros de ideologia.
Ao julgar pela tendência até aqui, a América Latina acabará dividida em dois blocos muito diferentes. Um deles será pragmático e deverá contribuir para o progresso de seus membros. O outro acabará como um palco para discursos populistas e demagógicos dos governantes mais autoritários da região. É uma pena que o governo brasileiro, sob a liderança do PT, tenha optado pelo lado fracassado.
A América Latina caminha para ficar dividida em dois blocos muito distintos. De um lado, o Mercosul, com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, sendo que a Venezuela aguarda aprovação do Parlamento paraguaio. Do outro, a Aliança do Pacífico, que foi assinada recentemente entre México, Colômbia, Peru e Chile, com Costa Rica e Panamá na fila de espera.
A intenção da Aliança do Pacífico é criar uma zona de livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas. Os quatro países membros representam 40% do PIB da América Latina e 55% das exportações da região ao resto do mundo. O bloco pretende buscar formas mais rápidas e pragmáticas de avançar nos temas comerciais e de integração, sem impedimentos ideológicos.
Se o Mercosul sofre cada vez mais influência do “socialismo bolivariano”, encabeçado por Hugo Chávez, a Aliança do Pacífico promete ser uma alternativa bem mais interessante. O Chile, afinal, representa o país latino-americano mais desenvolvido em termos econômicos e políticos, com uma renda per capita bem acima da média e a primeira colocação no ranking de IDH na vizinhança.
O grupo que o Brasil faz parte aponta para Cuba com crescente admiração. O grupo do Chile prefere apontar na direção do livre comércio, incluindo acordo bilateral com o próprio “Satã”, os Estados Unidos. A Argentina tem ignorado inúmeras cláusulas comerciais. Até mesmo confiscar propriedade estrangeira o governo Kirchner fez recentemente. O Brasil é um dos países que mais tem apelado para medidas protecionistas nos últimos meses.
Se a Venezuela finalmente entrar no Mercosul, isso será sua pá de cal definitiva, rasgando a cláusula que exige instituições democráticas para ser membro. Brasil, Argentina e Uruguai já ratificaram a adesão, restando apenas a aprovação final do Paraguai. Talvez isso explique a reação dos líderes da Unasul e Mercosul, sob a liderança de Hugo Chávez, ao impeachment do presidente Fernando Lugo nos últimos dias.
Não resta dúvida de que o processo foi acelerado demais, mas tudo leva a crer que foi feito dentro das regras constitucionais. Ou seja, não faz sentido falar em golpe. Além disso, a forma com a qual o presidente Lugo lidou com a questão agrária mostrou extrema incompetência, para dizer o mínimo. Há claros indícios de que ele foi até conivente com o bando de criminosos invasores de terra, que matou seis policiais em confronto sangrento.
Sempre que figuras como Chávez, Evo Morales e Rafael Correa falam em democracia, pode estar certo de que planejam alguma ação autoritária. É lamentável ver o Brasil liderando este tipo de movimento. O Paraguai foi suspenso do Mercosul, o que acende sinais de alerta quanto ao respeito do bloco às leis internas dos países-membros.
A postura do Itamaraty desde o governo Lula tem se mostrado invariavelmente incorreta, sempre mergulhada em ranço ideológico. A subserviência ao ditador iraniano é prova disso, assim como a negligência no caso da Síria. A aproximação aos ditadores africanos foi outra bola fora, sempre com a meta de conseguir o assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. O então presidente Lula até chegou a perdoar a dívida destes países em busca deste objetivo, sacrificando os pagadores de impostos brasileiros.
Um estudo feito pelo Instituto Acende Brasil, examinando 11 incidentes em que intervenções ou pleitos de nossos parceiros alteraram as condições originalmente pactuadas em contratos ou tratados, calculou em R$ 6,7 bilhões as perdas para o Brasil só no setor energético. Olhando para o futuro, as intervenções já realizadas poderiam elevar esta cifra para mais de R$ 21 bilhões.
Bolívia, Argentina, Venezuela e Paraguai, todos com governantes aliados ideologicamente ao PT, tomaram decisões unilaterais que representaram, de alguma forma, quebra de contrato com empresas brasileiras do setor de energia. Conforme diz o relatório do instituto:
“O Brasil tem sistematicamente ignorado ou menosprezado – com base numa postura de baixa transparência – os prejuízos ocasionados pelos seus acordos para os próprios brasileiros. Tais prejuízos têm sido causados pelo rompimento ou alteração de contratos por ações voluntaristas de governos.”
Traduzindo: o populismo dos camaradas tem sido pago pelos brasileiros. O ex-presidente Lula expressou a mentalidade por trás desta atitude passiva e negligente: “O Brasil é a maior economia e tem que ser generoso, aquele que ajuda o avanço dos outros”. É o PT usando o governo, ou seja, o dinheiro da “viúva”, para fazer “caridade” aos companheiros de ideologia.
Ao julgar pela tendência até aqui, a América Latina acabará dividida em dois blocos muito diferentes. Um deles será pragmático e deverá contribuir para o progresso de seus membros. O outro acabará como um palco para discursos populistas e demagógicos dos governantes mais autoritários da região. É uma pena que o governo brasileiro, sob a liderança do PT, tenha optado pelo lado fracassado.
Published on June 25, 2012 11:22
A ciência triste
Luiz Felipe Pondé, Folha de SP
Proponho que a próxima conferência para economia sustentável seja em alguma reserva dos povos da floresta. Deixem que eles organizem o evento e paguem por ele, já que são sacerdotes da sustentabilidade.
Todos os chefes de Estado dormindo em tendas, comendo comida da floresta, logo, muito mais sagrada e saudável. Além do fato que esses povos são imaculados e não desejam em hipótese alguma ganhar dinheiro com sua condição de "vítima social", por isso podemos confiar neles mais do que na Hillary Clinton.
Os que mais atrapalham são os gurus da ecologia profunda ou contracultura verde. Gente que afirma que o que precisamos é de uma "inovação social e psicológica" e não apenas de uma economia que assimile o fato de que os recursos naturais são limitados e que as demandas humanas de bem-estar e conforto são infinitas.
Não levar essa contradição estrutural a sério cria a insustentabilidade a médio e longo prazo.
Essa gente acha que o mundo inteiro pode ser a Dinamarca e seus mil habitantes. Eu concordo mais com os setores que buscam soluções tecnológicas e de mercado para enfrentar esta contradição entre demanda humana infinita e recursos naturais finitos.
Claro que isso implica educação e um trabalho gigantesco, mas nada disso virá de mudarmos nosso estilo de vida para o paradigma dos povos da floresta que viviam até ontem no neolítico. Ou reprimir o consumo via um estilo misto de "gestão" entre Stálin e hippies velhos.
Gente assim, os defensores de "inovações sociais", crê em "soluções" como as elencadas no relatório da UNEP 2011 da ONU "Visions for Change - Recommandations for Effective Policies on Sustainable Lifestyles".
Soluções no mínimo complicadas se pensarmos em sociedades complexas como as nossas com populações crescentes. Imagine nós vivermos num mundo em que cultivássemos nossa horta e criássemos nossas cabeças de gado (comer carne já é uma concessão ao "pecado da carne dos carnívoros", gente que deve desaparecer ao longo do tempo)... Se você quiser uma geladeira ou um iPad, faça em casa...
É fácil pensar na Noruega assim (estou exagerando...), mas e a Somália? Claro, estes já vivem no neolítico mesmo...
Outra marca da ecologia profunda que atrapalha a discussão séria sobre a contradição de nossa condição insustentável é a mistura entre sustentabilidade e demanda por erradicação da pobreza e justiça social (seja lá o que isso queira dizer...) como parte de uma economia sustentável.
O problema é que a ideia da erradicação da pobreza é em si insustentável, se pensarmos para além do horizonte intelectual "teenager". Isso pode ser triste, mas é por isso que a economia é conhecida por ser uma ciência triste ("dismal science", como dizia o historiador britânico do século 19 Thomas Carlyle).
Vejamos. Para erradicar a pobreza numa população crescente e ansiosa por uma vida confortável deve-se produzir riqueza contínua. Para isso, deve-se explorar recursos continuamente (o que é chamado de economia não sustentável) e aumentar o consumo, porque se as pessoas param de comprar o dinheiro para de circular.
Mas os gurus da economia "teenager" falam de diminuir o consumo como quem fala "as pessoas deveriam ser mais generosas", quando eles mesmos estão prontos a brigar com os irmãos por um apê minúsculo na Praia Grande.
A única solução para esses gurus (mas eles não confessam porque ficariam mal na fita) seria um regime totalitário global, o que chamo de fascismo verde, criar economias planejadas à la Lênin. O óbvio é que isso geraria pobreza em larga escala, como gerou antes.
Outra solução é erradicar o crescimento populacional matando 2/3 da população ou proibir a reprodução por alguns séculos. Ou matar idosos. Puro horror, não?
Enfim, problemas reais existem, mas as soluções não existem à mão de uma "cúpula dos povos".
Por isso, a angústia ambiental resvala na espiritualidade verde, sempre infantil e autoritária, que acha que comendo comida orgânica os seres humanos deixarão de ser o que são: seres que buscam diminuir a dor e otimizar o bem-estar a qualquer custo.
Proponho que a próxima conferência para economia sustentável seja em alguma reserva dos povos da floresta. Deixem que eles organizem o evento e paguem por ele, já que são sacerdotes da sustentabilidade.
Todos os chefes de Estado dormindo em tendas, comendo comida da floresta, logo, muito mais sagrada e saudável. Além do fato que esses povos são imaculados e não desejam em hipótese alguma ganhar dinheiro com sua condição de "vítima social", por isso podemos confiar neles mais do que na Hillary Clinton.
Os que mais atrapalham são os gurus da ecologia profunda ou contracultura verde. Gente que afirma que o que precisamos é de uma "inovação social e psicológica" e não apenas de uma economia que assimile o fato de que os recursos naturais são limitados e que as demandas humanas de bem-estar e conforto são infinitas.
Não levar essa contradição estrutural a sério cria a insustentabilidade a médio e longo prazo.
Essa gente acha que o mundo inteiro pode ser a Dinamarca e seus mil habitantes. Eu concordo mais com os setores que buscam soluções tecnológicas e de mercado para enfrentar esta contradição entre demanda humana infinita e recursos naturais finitos.
Claro que isso implica educação e um trabalho gigantesco, mas nada disso virá de mudarmos nosso estilo de vida para o paradigma dos povos da floresta que viviam até ontem no neolítico. Ou reprimir o consumo via um estilo misto de "gestão" entre Stálin e hippies velhos.
Gente assim, os defensores de "inovações sociais", crê em "soluções" como as elencadas no relatório da UNEP 2011 da ONU "Visions for Change - Recommandations for Effective Policies on Sustainable Lifestyles".
Soluções no mínimo complicadas se pensarmos em sociedades complexas como as nossas com populações crescentes. Imagine nós vivermos num mundo em que cultivássemos nossa horta e criássemos nossas cabeças de gado (comer carne já é uma concessão ao "pecado da carne dos carnívoros", gente que deve desaparecer ao longo do tempo)... Se você quiser uma geladeira ou um iPad, faça em casa...
É fácil pensar na Noruega assim (estou exagerando...), mas e a Somália? Claro, estes já vivem no neolítico mesmo...
Outra marca da ecologia profunda que atrapalha a discussão séria sobre a contradição de nossa condição insustentável é a mistura entre sustentabilidade e demanda por erradicação da pobreza e justiça social (seja lá o que isso queira dizer...) como parte de uma economia sustentável.
O problema é que a ideia da erradicação da pobreza é em si insustentável, se pensarmos para além do horizonte intelectual "teenager". Isso pode ser triste, mas é por isso que a economia é conhecida por ser uma ciência triste ("dismal science", como dizia o historiador britânico do século 19 Thomas Carlyle).
Vejamos. Para erradicar a pobreza numa população crescente e ansiosa por uma vida confortável deve-se produzir riqueza contínua. Para isso, deve-se explorar recursos continuamente (o que é chamado de economia não sustentável) e aumentar o consumo, porque se as pessoas param de comprar o dinheiro para de circular.
Mas os gurus da economia "teenager" falam de diminuir o consumo como quem fala "as pessoas deveriam ser mais generosas", quando eles mesmos estão prontos a brigar com os irmãos por um apê minúsculo na Praia Grande.
A única solução para esses gurus (mas eles não confessam porque ficariam mal na fita) seria um regime totalitário global, o que chamo de fascismo verde, criar economias planejadas à la Lênin. O óbvio é que isso geraria pobreza em larga escala, como gerou antes.
Outra solução é erradicar o crescimento populacional matando 2/3 da população ou proibir a reprodução por alguns séculos. Ou matar idosos. Puro horror, não?
Enfim, problemas reais existem, mas as soluções não existem à mão de uma "cúpula dos povos".
Por isso, a angústia ambiental resvala na espiritualidade verde, sempre infantil e autoritária, que acha que comendo comida orgânica os seres humanos deixarão de ser o que são: seres que buscam diminuir a dor e otimizar o bem-estar a qualquer custo.
Published on June 25, 2012 06:27
June 23, 2012
Arcaicas, ideias de Safatle deveriam estar em um museu
João Pereira Coutinho, Folha de SP
Vladimir Safatle deveria estar num museu. Digo isso com todo o respeito.
Lendo "A Esquerda que Não Teme Dizer Seu Nome", lembrei de imediato a peça "O Percevejo", de Maiakóvski, história de um antigo bolchevique, Prissípkin, que, depois de um acidente, acorda para o mundo futuro vindo diretamente de um passado irreconhecível.
Safatle é uma espécie de Prissípkin intelectual: o século 20 pode ter sido o grande cemitério de cada uma das suas ideias coletivistas. Mas Safatle, como o anti-herói de Maiakóvski, esteve mergulhado numa tina de água gelada em hibernação ideológica. Não viu nada, não aprendeu nada. E não esqueceu nada.
Ser de esquerda é, para Safatle, estar com aqueles que mais sofrem. É o primeiro clichê. Mas depois vêm outros: a defesa radical do igualitarismo é um valor inegociável para os camaradas.
Infelizmente, ele não explica em que consiste esse igualitarismo, para além das piedades habituais sobre a importância de redistribuir riqueza. Nenhuma palavra sobre a necessidade de a criar.
Criar? Para Safatle, o mundo divide-se em ricos e pobres; os ricos roubam os pobres; a função do Estado é roubar os ricos. "The end".
Igualitarismo é parte da história. Mas a esquerda que não teme dizer seu nome também é, para Vladimir Safatle, "indiferente às diferenças". Não sei se isso significa que o autor, com apreciável coragem intelectual, se opõe às cotas raciais instituídas por universidades brasileiras.
Sei apenas que, para Safatle, cultivar as diferenças (e, por arrastamento, demonizar o outro) é vício judaico-cristão, praticado pela Europa branca e xenófoba.
Curiosamente, não passa pela cabeça do filósofo que esse "culto da diferença" é também prerrogativa de comunidades imigrantes, leia-se "muçulmanas", que habitam a Europa, mas repudiam os seus valores multiculturais e resistem a integrar-se.
SOBERANIA POPULAR
De resto, as melhores páginas deste curto ensaio estão na apaixonada defesa do conceito arcaico de "soberania popular".
Na minha inocência, eu julgava que esta herança rousseauniana, uma metáfora para a total rendição do indivíduo aos ditames da comunidade, tinha ficado enterrada com as "democracias populares" do século 20.
Ilusão minha: as utopias revolucionárias da última centúria foram apenas uma ideia que não deu certo, diz Vladimir Safatle.
E acrescenta: "quantas vezes uma ideia precisa fracassar para poder se realizar?".
Não é fácil ler a pergunta e imaginar os 100 milhões de seres humanos (estimativa conservadora) que o comunismo destruiu nas suas "experiências" de criação do "homem novo".
E volto a Maiakósvki, porque são dele as palavras que abrem o livro de Safatle: "Melhor morrer de vodca que de tédio". Admito que sim.
Mas alguém deveria informar Safatle de que não foi a vodca (nem o tédio) que matou o seu herói. Ironicamente, foi o clima de repressão e intolerância do regime soviético que o conduziu à aniquilação pessoal.
Vladimir Safatle deveria estar num museu. Digo isso com todo o respeito.
Lendo "A Esquerda que Não Teme Dizer Seu Nome", lembrei de imediato a peça "O Percevejo", de Maiakóvski, história de um antigo bolchevique, Prissípkin, que, depois de um acidente, acorda para o mundo futuro vindo diretamente de um passado irreconhecível.
Safatle é uma espécie de Prissípkin intelectual: o século 20 pode ter sido o grande cemitério de cada uma das suas ideias coletivistas. Mas Safatle, como o anti-herói de Maiakóvski, esteve mergulhado numa tina de água gelada em hibernação ideológica. Não viu nada, não aprendeu nada. E não esqueceu nada.
Ser de esquerda é, para Safatle, estar com aqueles que mais sofrem. É o primeiro clichê. Mas depois vêm outros: a defesa radical do igualitarismo é um valor inegociável para os camaradas.
Infelizmente, ele não explica em que consiste esse igualitarismo, para além das piedades habituais sobre a importância de redistribuir riqueza. Nenhuma palavra sobre a necessidade de a criar.
Criar? Para Safatle, o mundo divide-se em ricos e pobres; os ricos roubam os pobres; a função do Estado é roubar os ricos. "The end".
Igualitarismo é parte da história. Mas a esquerda que não teme dizer seu nome também é, para Vladimir Safatle, "indiferente às diferenças". Não sei se isso significa que o autor, com apreciável coragem intelectual, se opõe às cotas raciais instituídas por universidades brasileiras.
Sei apenas que, para Safatle, cultivar as diferenças (e, por arrastamento, demonizar o outro) é vício judaico-cristão, praticado pela Europa branca e xenófoba.
Curiosamente, não passa pela cabeça do filósofo que esse "culto da diferença" é também prerrogativa de comunidades imigrantes, leia-se "muçulmanas", que habitam a Europa, mas repudiam os seus valores multiculturais e resistem a integrar-se.
SOBERANIA POPULAR
De resto, as melhores páginas deste curto ensaio estão na apaixonada defesa do conceito arcaico de "soberania popular".
Na minha inocência, eu julgava que esta herança rousseauniana, uma metáfora para a total rendição do indivíduo aos ditames da comunidade, tinha ficado enterrada com as "democracias populares" do século 20.
Ilusão minha: as utopias revolucionárias da última centúria foram apenas uma ideia que não deu certo, diz Vladimir Safatle.
E acrescenta: "quantas vezes uma ideia precisa fracassar para poder se realizar?".
Não é fácil ler a pergunta e imaginar os 100 milhões de seres humanos (estimativa conservadora) que o comunismo destruiu nas suas "experiências" de criação do "homem novo".
E volto a Maiakósvki, porque são dele as palavras que abrem o livro de Safatle: "Melhor morrer de vodca que de tédio". Admito que sim.
Mas alguém deveria informar Safatle de que não foi a vodca (nem o tédio) que matou o seu herói. Ironicamente, foi o clima de repressão e intolerância do regime soviético que o conduziu à aniquilação pessoal.
Published on June 23, 2012 06:12
June 22, 2012
Rodrigo Constantino's Blog
- Rodrigo Constantino's profile
- 32 followers
Rodrigo Constantino isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.