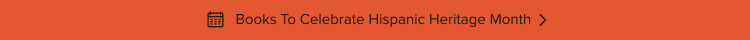Rodrigo Constantino's Blog, page 417
September 18, 2011
Obama to Propose Tougher Tax Regime for Wealthy

By DAMIAN PALETTA and CAROL E. LEE, WSJ
WASHINGTON -- The White House on Monday plans to launch an effort to prevent millionaires from paying lower tax rates than middle-class Americans as part of its package of ideas to reduce the federal deficit, two people familiar with the plan said.
The White House will likely try to use the plan, which aides call the "Buffett Rule" after billionaire Warren Buffett, to create a populist frame for the debate over deficit reduction that is likely to again consume Washington for the next few months. Democrats have pushed the White House in recent weeks to assert itself in the debt-ceiling talks in an effort to steal momentum away from Republicans.
The idea, which has been raised before by Democrats, is likely to be a non-starter with Republicans who had consistently opposed raising tax revenue as a way to tackle America's debt. The move is also evidence of how the work of the Congressional supercommittee, which is charged with devising a plan to cut the deficit, has become inextricably linked with the 2012 election season.
Few details about how such a plan would work could be learned, including whether there would be a new tax bracket at this elevated level. The White House is likely to urge congressional negotiators to use the concept as part of their talks, but isn't expected to go into great detail about how the new tax rule might work, people familiar with the plan said.
The general goal would be to prevent people earning more than a million dollars to pay taxes at a lower effective rate than people who earn under $250,000. That's often the case because investment income, or capital gains, is taxed at a lower rate than regular wages.
The plan will come as part of the White House's recommendations to a joint congressional panel that is charged with reducing the deficit by at least $1.2 trillion.
President Barack Obama is expected to call for a steeper reduction in the deficit. To reach that goal, Mr. Obama is expected to call for $300 billion in savings from changes to Medicare and Medicaid, a person familiar with the proposal said. He won't, though, call for changes to Social Security as a way of reducing the deficit.
On taxes, he'll call for lower, flatter tax rates, while also pushing for some tax increases. The White House has already proposed limits on the amount of tax deductions wealthy Americans can claim, and administration officials want tax rates to increase for families making more than $250,000 a year.
Recent White House plans have outlined between $1 trillion and $1.2 trillion in new taxes over 10 years. It's not clear how much money the new millionaire proposal would raise.
Top Obama administration officials have said any deficit-reduction efforts should be "balanced," Washington code for including tax increases as well as spending cuts, and say Republican proposals wouldn't require the wealthy to make major sacrifices.
Speaker of the House John Boehner (R., Ohio) said last week that tax increases were "off the table." Republicans have successfully beat back multiple previous efforts by the administration to raise tax rates. Republicans instead have called for an overhaul of the tax code that lowers rates while limiting some deductions as a way to spur job growth.
News of the new approach was first reported Saturday evening by the New York Times.
On Aug. 14, Mr. Buffett penned an op-ed in the New York Times titled "Stop Coddling the Rich," in which he described what he viewed as a tax code that has come to favor the wealthy. He said he paid federal taxes on 17.4% of his taxable income last year, a lower rate than any of the 20 other people in his office. He often remarks that he pays a lower tax rate than his secretary.
Messrs. Obama and Buffett spoke in late August during the president's vacation in Martha's Vineyard.
The White House could try to use the "Buffett Rule" in the same way they used the "Volcker Rule" in 2010. The Volcker Rule, named after former Federal Reserve Chairman Paul Volcker, called for limiting how large banks trade using their own money, rather than that of their clients. The White House proposed it late in the process of overhauling Wall Street rules.
Even though the Volcker Rule is a bit arcane, it successfully ignited a populist firestorm that helped push the financial regulation bill into law. It put large banks and many of their supporters on the defensive, and they spent weeks trying to water down the language instead of trying to kill the bill outright.
When the White House proposed the Volcker Rule in 2010, it initially didn't provide specifics on how the plan would work. The administration is expected to follow a similar model with the Buffett Rule.
Targeting millionaires is a tactical move by the White House and comes after hard lessons learned by Democrats in 2010. Last year, the White House pushed to allow tax cuts enacted during the Bush administration to expire for families earning more than $250,000 a year.
Even though Democrats controlled the House and the Senate last year, the White House's effort faltered because it couldn't win enough support. Some Democrats instead said the White House should have pushed for allowing people who earn more than $1 million a year to have their tax rates increased.
The political dynamics have changed markedly since last year, though, with Republicans in control of the House of Representatives and Democrats holding a narrow majority in the Senate.
Monday's proposal will be at least the fourth different plan by the White House in the last seven months to reduce the deficit. It comes after a February budget proposal, an April speech at George Washington University that called for roughly $4 trillion in reductions over 12 years, and the debt-ceiling negotiations with Republicans in July that broke down over taxes.[image error]
Published on September 18, 2011 05:46
September 17, 2011
Política sem política
Marco Antonio Villa - O Estado de S.Paulo
Na História do Brasil republicano, Dilma Rousseff é a presidente que mais exonerou ministros em menos de um ano de governo. Mas, curiosamente, não identificou nada de anormal na sua administração. Como se as demissões por graves acusações de corrupção fossem algo absolutamente rotineiro. E ocorressem em qualquer país democrático. Todas as demissões seguiram um mesmo ritual: começaram por denúncias publicadas na imprensa e, semanas (ou meses) depois, quando não havia mais nenhuma condição de manter o ministro no cargo, este pedia para sair.
Na ópera-bufa da política nacional, isso passou a fazer parte do figurino. O fecho do processo se repete: é necessário também emitir alguma crítica genérica sobre a corrupção, sem identificar o destinatário. Na hora da posse do novo ministro, deve ser elogiado o antecessor (o elogio será mais extenso e efusivo dependendo de quão poderoso for o padrinho político do ministro). Semanas depois as acusações desaparecem em meio a um novo escândalo.
O Brasil foi, ao longo do tempo, esgarçando os princípios morais e éticos. Em 1954 chamou-se "mar de lama" a um conjunto de pequenas mazelas que envolviam a ação de Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas. Hoje Gregório seria considerado um iniciante, até um ingênuo. A corrupção permeia todas as esferas do poder e conta com o silêncio complacente do Judiciário.
Em meio a esta turbulência, a oposição não sabe bem o que fazer. Está paralisada. Na base governamental temos alguns senadores que manifestam - ainda que timidamente - algum tipo de independência, como os peemedebistas Jarbas Vasconcelos e Pedro Simon. Vivem uma constante crise de identidade. Sentem-se envergonhados como membros de um partido marcadamente fisiológico, mas não assumem claramente uma posição oposicionista. Nesse contorcionismo perdem espaço e são usados pelo governo, como na tentativa de criar uma frente suprapartidária para dar apoio à presidente no combate à corrupção, que serviu para desviar as atenções da proposta de CPI. O mais estranho é que a presidente não só não pediu apoio, como não fez nenhum movimento de simpatia. Deixou, literalmente, os senadores com a vassoura na mão.
Do lado propriamente oposicionista, continua a triste batalha dostoievskiana. O ódio entre os seus principais líderes deixaria enrubescido o patriarca da família Karamazov. A disputa interna fratricida paralisa qualquer ação. Não há projetos partidários. É uma espécie de cada um por si. E todos se acham espertos. Atualmente, a maior das espertezas é buscar apoio do governo para ampliar o seu poder na oposição. Algo no terreno do fantástico e fadado, obviamente, ao fracasso. Contudo, durante algumas semanas, dá ao líder oposicionista uma aura de sagacidade.
Enquanto isso, o País assiste a espetáculos dantescos de malversação dos recursos públicos, à permanência da inépcia governamental e ao agravamento homeopático dos efeitos internos da crise internacional. Em qualquer país democrático seria um terreno fértil para a oposição. Mas não no Brasil. Aqui, o velho discurso reacionário de que fazer oposição é ser contra o País ainda é dominante. A oposição tem medo de ser oposição. Foge do confronto como o diabo da cruz. Deve sentir vergonha por ter recebido a confiança de 44 milhões de eleitores na última eleição presidencial.
Vivemos num ambiente despolitizado. E isso é adequado ao projeto petista de permanecer décadas no poder. Logo vai completar a primeira. E o partido já está fazendo de tudo (e sabemos o que significa esse "de tudo") para tornar esse plano viável. A figura do ex-presidente Lula é central para cimentar as alianças políticas e empresariais. Afinal, todos sabem que sem Lula o projeto cai por terra. Somente ele consegue dar coerência a uma base política tão heterodoxa, que vai de Paulo Maluf ao MST. Mas para isso, muito mais que o discurso, é indispensável manter uma taxa de crescimento que permita concessões aos mais variados setores sociais, conforme o seu poder de barganha. E aí é que mora o grande desafio do governo, e não na tímida oposição.
São evidentes as diferenças e a qualidade da ação entre governo e oposição. Basta observar os movimentos dos dois últimos ex-presidentes. Lula sabe muito bem o que quer. Não para de articular um só minuto. E não perde oportunidade para atacar a oposição. Do lado da oposição, Fernando Henrique Cardoso parece que vive em outro mundo. Confundiu um elogio meramente protocolar da presidente Dilma com uma revisão ideológica do seu governo por parte dos petistas (que em momento algum foi realizada). Extasiado, não parou de elogiar a presidente e os "esforços" para combater a corrupção. Ou seja, um está atuando ativamente no presente para impor a qualquer preço o seu projeto, o outro está preocupado com o futuro, de como ficará o seu retrato na História.
Nesse ritmo, Lula vai coroando de êxito o seu projeto. Espera vencer as eleições municipais, especialmente em São Paulo. Com o triunfo deverá estabelecer um arco de alianças ainda mais amplo que o atual. É o primeiro passo concreto para retornar à Presidência em 2014 e permanecer, pelo menos, mais oito anos no poder. Caberá a Dilma continuar despachando como uma espécie de presidente interina, aguardando o retorno do titular.
E a oposição? Ah, esta lembra o Visconde Reinaldo, personagem de O Primo Basílio. Quando falava de Lisboa, sempre aguardava um terremoto, como o de 1755, que destruiu a cidade. Como não faz política, a oposição, espera também um terremoto: é a crise internacional. Mas, assim como o hábito não faz o monge, a crise, por si só, não fará ressurgir a oposição.
HISTORIADOR, É PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS[image error]
Na História do Brasil republicano, Dilma Rousseff é a presidente que mais exonerou ministros em menos de um ano de governo. Mas, curiosamente, não identificou nada de anormal na sua administração. Como se as demissões por graves acusações de corrupção fossem algo absolutamente rotineiro. E ocorressem em qualquer país democrático. Todas as demissões seguiram um mesmo ritual: começaram por denúncias publicadas na imprensa e, semanas (ou meses) depois, quando não havia mais nenhuma condição de manter o ministro no cargo, este pedia para sair.
Na ópera-bufa da política nacional, isso passou a fazer parte do figurino. O fecho do processo se repete: é necessário também emitir alguma crítica genérica sobre a corrupção, sem identificar o destinatário. Na hora da posse do novo ministro, deve ser elogiado o antecessor (o elogio será mais extenso e efusivo dependendo de quão poderoso for o padrinho político do ministro). Semanas depois as acusações desaparecem em meio a um novo escândalo.
O Brasil foi, ao longo do tempo, esgarçando os princípios morais e éticos. Em 1954 chamou-se "mar de lama" a um conjunto de pequenas mazelas que envolviam a ação de Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas. Hoje Gregório seria considerado um iniciante, até um ingênuo. A corrupção permeia todas as esferas do poder e conta com o silêncio complacente do Judiciário.
Em meio a esta turbulência, a oposição não sabe bem o que fazer. Está paralisada. Na base governamental temos alguns senadores que manifestam - ainda que timidamente - algum tipo de independência, como os peemedebistas Jarbas Vasconcelos e Pedro Simon. Vivem uma constante crise de identidade. Sentem-se envergonhados como membros de um partido marcadamente fisiológico, mas não assumem claramente uma posição oposicionista. Nesse contorcionismo perdem espaço e são usados pelo governo, como na tentativa de criar uma frente suprapartidária para dar apoio à presidente no combate à corrupção, que serviu para desviar as atenções da proposta de CPI. O mais estranho é que a presidente não só não pediu apoio, como não fez nenhum movimento de simpatia. Deixou, literalmente, os senadores com a vassoura na mão.
Do lado propriamente oposicionista, continua a triste batalha dostoievskiana. O ódio entre os seus principais líderes deixaria enrubescido o patriarca da família Karamazov. A disputa interna fratricida paralisa qualquer ação. Não há projetos partidários. É uma espécie de cada um por si. E todos se acham espertos. Atualmente, a maior das espertezas é buscar apoio do governo para ampliar o seu poder na oposição. Algo no terreno do fantástico e fadado, obviamente, ao fracasso. Contudo, durante algumas semanas, dá ao líder oposicionista uma aura de sagacidade.
Enquanto isso, o País assiste a espetáculos dantescos de malversação dos recursos públicos, à permanência da inépcia governamental e ao agravamento homeopático dos efeitos internos da crise internacional. Em qualquer país democrático seria um terreno fértil para a oposição. Mas não no Brasil. Aqui, o velho discurso reacionário de que fazer oposição é ser contra o País ainda é dominante. A oposição tem medo de ser oposição. Foge do confronto como o diabo da cruz. Deve sentir vergonha por ter recebido a confiança de 44 milhões de eleitores na última eleição presidencial.
Vivemos num ambiente despolitizado. E isso é adequado ao projeto petista de permanecer décadas no poder. Logo vai completar a primeira. E o partido já está fazendo de tudo (e sabemos o que significa esse "de tudo") para tornar esse plano viável. A figura do ex-presidente Lula é central para cimentar as alianças políticas e empresariais. Afinal, todos sabem que sem Lula o projeto cai por terra. Somente ele consegue dar coerência a uma base política tão heterodoxa, que vai de Paulo Maluf ao MST. Mas para isso, muito mais que o discurso, é indispensável manter uma taxa de crescimento que permita concessões aos mais variados setores sociais, conforme o seu poder de barganha. E aí é que mora o grande desafio do governo, e não na tímida oposição.
São evidentes as diferenças e a qualidade da ação entre governo e oposição. Basta observar os movimentos dos dois últimos ex-presidentes. Lula sabe muito bem o que quer. Não para de articular um só minuto. E não perde oportunidade para atacar a oposição. Do lado da oposição, Fernando Henrique Cardoso parece que vive em outro mundo. Confundiu um elogio meramente protocolar da presidente Dilma com uma revisão ideológica do seu governo por parte dos petistas (que em momento algum foi realizada). Extasiado, não parou de elogiar a presidente e os "esforços" para combater a corrupção. Ou seja, um está atuando ativamente no presente para impor a qualquer preço o seu projeto, o outro está preocupado com o futuro, de como ficará o seu retrato na História.
Nesse ritmo, Lula vai coroando de êxito o seu projeto. Espera vencer as eleições municipais, especialmente em São Paulo. Com o triunfo deverá estabelecer um arco de alianças ainda mais amplo que o atual. É o primeiro passo concreto para retornar à Presidência em 2014 e permanecer, pelo menos, mais oito anos no poder. Caberá a Dilma continuar despachando como uma espécie de presidente interina, aguardando o retorno do titular.
E a oposição? Ah, esta lembra o Visconde Reinaldo, personagem de O Primo Basílio. Quando falava de Lisboa, sempre aguardava um terremoto, como o de 1755, que destruiu a cidade. Como não faz política, a oposição, espera também um terremoto: é a crise internacional. Mas, assim como o hábito não faz o monge, a crise, por si só, não fará ressurgir a oposição.
HISTORIADOR, É PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS[image error]
Published on September 17, 2011 07:08
Política em política
Marco Antonio Villa - O Estado de S.Paulo
Na História do Brasil republicano, Dilma Rousseff é a presidente que mais exonerou ministros em menos de um ano de governo. Mas, curiosamente, não identificou nada de anormal na sua administração. Como se as demissões por graves acusações de corrupção fossem algo absolutamente rotineiro. E ocorressem em qualquer país democrático. Todas as demissões seguiram um mesmo ritual: começaram por denúncias publicadas na imprensa e, semanas (ou meses) depois, quando não havia mais nenhuma condição de manter o ministro no cargo, este pedia para sair.
Na ópera-bufa da política nacional, isso passou a fazer parte do figurino. O fecho do processo se repete: é necessário também emitir alguma crítica genérica sobre a corrupção, sem identificar o destinatário. Na hora da posse do novo ministro, deve ser elogiado o antecessor (o elogio será mais extenso e efusivo dependendo de quão poderoso for o padrinho político do ministro). Semanas depois as acusações desaparecem em meio a um novo escândalo.
O Brasil foi, ao longo do tempo, esgarçando os princípios morais e éticos. Em 1954 chamou-se "mar de lama" a um conjunto de pequenas mazelas que envolviam a ação de Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas. Hoje Gregório seria considerado um iniciante, até um ingênuo. A corrupção permeia todas as esferas do poder e conta com o silêncio complacente do Judiciário.
Em meio a esta turbulência, a oposição não sabe bem o que fazer. Está paralisada. Na base governamental temos alguns senadores que manifestam - ainda que timidamente - algum tipo de independência, como os peemedebistas Jarbas Vasconcelos e Pedro Simon. Vivem uma constante crise de identidade. Sentem-se envergonhados como membros de um partido marcadamente fisiológico, mas não assumem claramente uma posição oposicionista. Nesse contorcionismo perdem espaço e são usados pelo governo, como na tentativa de criar uma frente suprapartidária para dar apoio à presidente no combate à corrupção, que serviu para desviar as atenções da proposta de CPI. O mais estranho é que a presidente não só não pediu apoio, como não fez nenhum movimento de simpatia. Deixou, literalmente, os senadores com a vassoura na mão.
Do lado propriamente oposicionista, continua a triste batalha dostoievskiana. O ódio entre os seus principais líderes deixaria enrubescido o patriarca da família Karamazov. A disputa interna fratricida paralisa qualquer ação. Não há projetos partidários. É uma espécie de cada um por si. E todos se acham espertos. Atualmente, a maior das espertezas é buscar apoio do governo para ampliar o seu poder na oposição. Algo no terreno do fantástico e fadado, obviamente, ao fracasso. Contudo, durante algumas semanas, dá ao líder oposicionista uma aura de sagacidade.
Enquanto isso, o País assiste a espetáculos dantescos de malversação dos recursos públicos, à permanência da inépcia governamental e ao agravamento homeopático dos efeitos internos da crise internacional. Em qualquer país democrático seria um terreno fértil para a oposição. Mas não no Brasil. Aqui, o velho discurso reacionário de que fazer oposição é ser contra o País ainda é dominante. A oposição tem medo de ser oposição. Foge do confronto como o diabo da cruz. Deve sentir vergonha por ter recebido a confiança de 44 milhões de eleitores na última eleição presidencial.
Vivemos num ambiente despolitizado. E isso é adequado ao projeto petista de permanecer décadas no poder. Logo vai completar a primeira. E o partido já está fazendo de tudo (e sabemos o que significa esse "de tudo") para tornar esse plano viável. A figura do ex-presidente Lula é central para cimentar as alianças políticas e empresariais. Afinal, todos sabem que sem Lula o projeto cai por terra. Somente ele consegue dar coerência a uma base política tão heterodoxa, que vai de Paulo Maluf ao MST. Mas para isso, muito mais que o discurso, é indispensável manter uma taxa de crescimento que permita concessões aos mais variados setores sociais, conforme o seu poder de barganha. E aí é que mora o grande desafio do governo, e não na tímida oposição.
São evidentes as diferenças e a qualidade da ação entre governo e oposição. Basta observar os movimentos dos dois últimos ex-presidentes. Lula sabe muito bem o que quer. Não para de articular um só minuto. E não perde oportunidade para atacar a oposição. Do lado da oposição, Fernando Henrique Cardoso parece que vive em outro mundo. Confundiu um elogio meramente protocolar da presidente Dilma com uma revisão ideológica do seu governo por parte dos petistas (que em momento algum foi realizada). Extasiado, não parou de elogiar a presidente e os "esforços" para combater a corrupção. Ou seja, um está atuando ativamente no presente para impor a qualquer preço o seu projeto, o outro está preocupado com o futuro, de como ficará o seu retrato na História.
Nesse ritmo, Lula vai coroando de êxito o seu projeto. Espera vencer as eleições municipais, especialmente em São Paulo. Com o triunfo deverá estabelecer um arco de alianças ainda mais amplo que o atual. É o primeiro passo concreto para retornar à Presidência em 2014 e permanecer, pelo menos, mais oito anos no poder. Caberá a Dilma continuar despachando como uma espécie de presidente interina, aguardando o retorno do titular.
E a oposição? Ah, esta lembra o Visconde Reinaldo, personagem de O Primo Basílio. Quando falava de Lisboa, sempre aguardava um terremoto, como o de 1755, que destruiu a cidade. Como não faz política, a oposição, espera também um terremoto: é a crise internacional. Mas, assim como o hábito não faz o monge, a crise, por si só, não fará ressurgir a oposição.
HISTORIADOR, É PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS[image error]
Na História do Brasil republicano, Dilma Rousseff é a presidente que mais exonerou ministros em menos de um ano de governo. Mas, curiosamente, não identificou nada de anormal na sua administração. Como se as demissões por graves acusações de corrupção fossem algo absolutamente rotineiro. E ocorressem em qualquer país democrático. Todas as demissões seguiram um mesmo ritual: começaram por denúncias publicadas na imprensa e, semanas (ou meses) depois, quando não havia mais nenhuma condição de manter o ministro no cargo, este pedia para sair.
Na ópera-bufa da política nacional, isso passou a fazer parte do figurino. O fecho do processo se repete: é necessário também emitir alguma crítica genérica sobre a corrupção, sem identificar o destinatário. Na hora da posse do novo ministro, deve ser elogiado o antecessor (o elogio será mais extenso e efusivo dependendo de quão poderoso for o padrinho político do ministro). Semanas depois as acusações desaparecem em meio a um novo escândalo.
O Brasil foi, ao longo do tempo, esgarçando os princípios morais e éticos. Em 1954 chamou-se "mar de lama" a um conjunto de pequenas mazelas que envolviam a ação de Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas. Hoje Gregório seria considerado um iniciante, até um ingênuo. A corrupção permeia todas as esferas do poder e conta com o silêncio complacente do Judiciário.
Em meio a esta turbulência, a oposição não sabe bem o que fazer. Está paralisada. Na base governamental temos alguns senadores que manifestam - ainda que timidamente - algum tipo de independência, como os peemedebistas Jarbas Vasconcelos e Pedro Simon. Vivem uma constante crise de identidade. Sentem-se envergonhados como membros de um partido marcadamente fisiológico, mas não assumem claramente uma posição oposicionista. Nesse contorcionismo perdem espaço e são usados pelo governo, como na tentativa de criar uma frente suprapartidária para dar apoio à presidente no combate à corrupção, que serviu para desviar as atenções da proposta de CPI. O mais estranho é que a presidente não só não pediu apoio, como não fez nenhum movimento de simpatia. Deixou, literalmente, os senadores com a vassoura na mão.
Do lado propriamente oposicionista, continua a triste batalha dostoievskiana. O ódio entre os seus principais líderes deixaria enrubescido o patriarca da família Karamazov. A disputa interna fratricida paralisa qualquer ação. Não há projetos partidários. É uma espécie de cada um por si. E todos se acham espertos. Atualmente, a maior das espertezas é buscar apoio do governo para ampliar o seu poder na oposição. Algo no terreno do fantástico e fadado, obviamente, ao fracasso. Contudo, durante algumas semanas, dá ao líder oposicionista uma aura de sagacidade.
Enquanto isso, o País assiste a espetáculos dantescos de malversação dos recursos públicos, à permanência da inépcia governamental e ao agravamento homeopático dos efeitos internos da crise internacional. Em qualquer país democrático seria um terreno fértil para a oposição. Mas não no Brasil. Aqui, o velho discurso reacionário de que fazer oposição é ser contra o País ainda é dominante. A oposição tem medo de ser oposição. Foge do confronto como o diabo da cruz. Deve sentir vergonha por ter recebido a confiança de 44 milhões de eleitores na última eleição presidencial.
Vivemos num ambiente despolitizado. E isso é adequado ao projeto petista de permanecer décadas no poder. Logo vai completar a primeira. E o partido já está fazendo de tudo (e sabemos o que significa esse "de tudo") para tornar esse plano viável. A figura do ex-presidente Lula é central para cimentar as alianças políticas e empresariais. Afinal, todos sabem que sem Lula o projeto cai por terra. Somente ele consegue dar coerência a uma base política tão heterodoxa, que vai de Paulo Maluf ao MST. Mas para isso, muito mais que o discurso, é indispensável manter uma taxa de crescimento que permita concessões aos mais variados setores sociais, conforme o seu poder de barganha. E aí é que mora o grande desafio do governo, e não na tímida oposição.
São evidentes as diferenças e a qualidade da ação entre governo e oposição. Basta observar os movimentos dos dois últimos ex-presidentes. Lula sabe muito bem o que quer. Não para de articular um só minuto. E não perde oportunidade para atacar a oposição. Do lado da oposição, Fernando Henrique Cardoso parece que vive em outro mundo. Confundiu um elogio meramente protocolar da presidente Dilma com uma revisão ideológica do seu governo por parte dos petistas (que em momento algum foi realizada). Extasiado, não parou de elogiar a presidente e os "esforços" para combater a corrupção. Ou seja, um está atuando ativamente no presente para impor a qualquer preço o seu projeto, o outro está preocupado com o futuro, de como ficará o seu retrato na História.
Nesse ritmo, Lula vai coroando de êxito o seu projeto. Espera vencer as eleições municipais, especialmente em São Paulo. Com o triunfo deverá estabelecer um arco de alianças ainda mais amplo que o atual. É o primeiro passo concreto para retornar à Presidência em 2014 e permanecer, pelo menos, mais oito anos no poder. Caberá a Dilma continuar despachando como uma espécie de presidente interina, aguardando o retorno do titular.
E a oposição? Ah, esta lembra o Visconde Reinaldo, personagem de O Primo Basílio. Quando falava de Lisboa, sempre aguardava um terremoto, como o de 1755, que destruiu a cidade. Como não faz política, a oposição, espera também um terremoto: é a crise internacional. Mas, assim como o hábito não faz o monge, a crise, por si só, não fará ressurgir a oposição.
HISTORIADOR, É PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS[image error]
Published on September 17, 2011 07:08
When Greece Defaults
By HOLMAN W. JENKINS, JR., WSJ
Greece says it's not leaving the euro, and everyone else says Greece must default on its euro debt. What does such a scenario portend?
Athens, no longer able to borrow euros and hardly able to extract enough euros from its own population, won't be able to pay its bills. Many of the hundreds of thousands in the Greek government's employ stop coming to work because they stop receiving paychecks. Many private businesses that depend on their patronage also cease to function and cease to pay their employees. Savings vanish in a rash of bank failures.
What happens next? Greeks do what anybody would do when they can't grub up an income. They find things to sell: cars, houses, businesses, islands, beaches, historic sites and ouzo distilleries to tide themselves over.
Eventually the euro prices of a Greek vacation or a Greek factory or Greek-made goods become attractive and euros rush in from abroad. Jobs start to rematerialize. The economy, after taking a sound thrashing, begins to grow again.
All this is impeded, unfortunately, by riots and political instability and mass privation. Quite possibly, things keep getting worse for a long, long time, before they start getting better.
To the rest of Europe, this would merely be a matter of sorrow, regret and charity to keep the Greeks afloat—if it weren't for the fact that if Greece is allowed to default, investors might naturally wonder which other countries might default.
Private money, if it hasn't already, might then stop being available to roll over the debts of other heavily indebted European governments. These states would become even more dependent on loans from stronger neighbors, and finally only from the Germans, who are presumed always to have access to the private markets for loans.
Except for one thing: Who says the Germans would always have access to private loans? This is the hole in the theory that Berlin's taxpayers only need to step up. You can overtell the story of Germany's strength among the wreck of its neighbors. Germany's government today is heavily-indebted; its vaunted reforms in the mid-2000s were impressive relative only to those of, say, France. Its recent prosperity depended precisely on selling BMWs and Mercedes to its overspending neighbors.
In a world in which there is nobody left to borrow from, not even Germany, life affords one other option: The central bank prints money. What will stop contagion is the European Central Bank (ECB) drawing a line somewhere—at some group of countries that would trigger the bank's willingness to print unlimited euros.
But this has also been the political stumbling block all along. Those wailing for a European TARP, either to bail out its banks or bail out its governments, fail to notice that doing so would necessarily force a decision about which governments will be inside the magic circle of the saved and which won't. Yet that's exactly what's necessary to forestall a complete meltdown. Let the world know which countries the ECB (which is still pretending to be a virtuous, nonmoney-printing central bank) will keep afloat at any price.
Then why not save every government, even Greece's, from default? Because there would be no possibility of discipline in the eurozone in the future unless bond markets have seen that default is a real possibility.
One way or another, Europe was likely to end up on massive injections of monetary glucose. This won't necessarily lead to massive inflation; it depends on how quickly the member countries respond with "real" reforms that change "real" things in their economies. And expect the ECB, which has become practiced at gilding its interventions with talk of sterilization, to become even more practiced at it.
Behind the euro was an ahistorical dream of a European superstate, in a world that—if you haven't noticed—has been moving steadily in the opposite direction. European elites may crave unification, but most societies seem to crave democratic independence. The United Nations boasts 193 member states today, up from 127 in 1970.
The European superstate is dead, but the common currency isn't necessarily dead. The euro is finally achieving at least one of its goals—forcing economic reform, though probably not the salutary, clean reform that many hoped for. More likely sub-par reform, with bouts of inflation, stagnation and pitched battles over political allocation of scarce opportunity and resources.
Sadly, a similar destiny probably lies ahead for the U.S. Only after a series of panics, possibly quite destructive ones, will politicians have leeway seriously to address the unsustainability of the current welfare state. Every move will be too little to ward off another crisis, another showdown, and potentially decades of political strife and economic uncertainty.[image error]
Greece says it's not leaving the euro, and everyone else says Greece must default on its euro debt. What does such a scenario portend?
Athens, no longer able to borrow euros and hardly able to extract enough euros from its own population, won't be able to pay its bills. Many of the hundreds of thousands in the Greek government's employ stop coming to work because they stop receiving paychecks. Many private businesses that depend on their patronage also cease to function and cease to pay their employees. Savings vanish in a rash of bank failures.
What happens next? Greeks do what anybody would do when they can't grub up an income. They find things to sell: cars, houses, businesses, islands, beaches, historic sites and ouzo distilleries to tide themselves over.
Eventually the euro prices of a Greek vacation or a Greek factory or Greek-made goods become attractive and euros rush in from abroad. Jobs start to rematerialize. The economy, after taking a sound thrashing, begins to grow again.
All this is impeded, unfortunately, by riots and political instability and mass privation. Quite possibly, things keep getting worse for a long, long time, before they start getting better.
To the rest of Europe, this would merely be a matter of sorrow, regret and charity to keep the Greeks afloat—if it weren't for the fact that if Greece is allowed to default, investors might naturally wonder which other countries might default.
Private money, if it hasn't already, might then stop being available to roll over the debts of other heavily indebted European governments. These states would become even more dependent on loans from stronger neighbors, and finally only from the Germans, who are presumed always to have access to the private markets for loans.
Except for one thing: Who says the Germans would always have access to private loans? This is the hole in the theory that Berlin's taxpayers only need to step up. You can overtell the story of Germany's strength among the wreck of its neighbors. Germany's government today is heavily-indebted; its vaunted reforms in the mid-2000s were impressive relative only to those of, say, France. Its recent prosperity depended precisely on selling BMWs and Mercedes to its overspending neighbors.
In a world in which there is nobody left to borrow from, not even Germany, life affords one other option: The central bank prints money. What will stop contagion is the European Central Bank (ECB) drawing a line somewhere—at some group of countries that would trigger the bank's willingness to print unlimited euros.
But this has also been the political stumbling block all along. Those wailing for a European TARP, either to bail out its banks or bail out its governments, fail to notice that doing so would necessarily force a decision about which governments will be inside the magic circle of the saved and which won't. Yet that's exactly what's necessary to forestall a complete meltdown. Let the world know which countries the ECB (which is still pretending to be a virtuous, nonmoney-printing central bank) will keep afloat at any price.
Then why not save every government, even Greece's, from default? Because there would be no possibility of discipline in the eurozone in the future unless bond markets have seen that default is a real possibility.
One way or another, Europe was likely to end up on massive injections of monetary glucose. This won't necessarily lead to massive inflation; it depends on how quickly the member countries respond with "real" reforms that change "real" things in their economies. And expect the ECB, which has become practiced at gilding its interventions with talk of sterilization, to become even more practiced at it.
Behind the euro was an ahistorical dream of a European superstate, in a world that—if you haven't noticed—has been moving steadily in the opposite direction. European elites may crave unification, but most societies seem to crave democratic independence. The United Nations boasts 193 member states today, up from 127 in 1970.
The European superstate is dead, but the common currency isn't necessarily dead. The euro is finally achieving at least one of its goals—forcing economic reform, though probably not the salutary, clean reform that many hoped for. More likely sub-par reform, with bouts of inflation, stagnation and pitched battles over political allocation of scarce opportunity and resources.
Sadly, a similar destiny probably lies ahead for the U.S. Only after a series of panics, possibly quite destructive ones, will politicians have leeway seriously to address the unsustainability of the current welfare state. Every move will be too little to ward off another crisis, another showdown, and potentially decades of political strife and economic uncertainty.[image error]
Published on September 17, 2011 06:18
Lambança político-industrial
Editorial do Estadão
O governo acaba de promover, sob o disfarce de política industrial, mais uma lambança a favor de grupos selecionados. Com o pretexto de proteger o setor automobilístico e o emprego do trabalhador brasileiro, o Executivo federal aumentou o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e definiu condições para isenção das novas alíquotas. As condições beneficiam claramente uma parte das montadoras e criam, indiretamente, barreiras à importação de veículos e de componentes fabricados fora do Mercosul e do México. Ao estabelecer uma discriminação baseada em critério de conteúdo nacional, o governo se expõe a ser contestado na Organização Mundial do Comércio (OMC). O governo, segundo fontes ouvidas pela reportagem do Estado, admite essa possibilidade, mas decidiu correr o risco.
"O consumo dos brasileiros está sendo apropriado pelas importações", disse o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Segundo ele, é preocupante ver a indústria acumular estoques e dar férias coletivas aos funcionários. É conversa sem fundamento. O número de veículos nacionais licenciados até agosto foi 2,2% maior que o de um ano antes, segundo a associação das montadoras (Anfavea). A receita de exportações de veículos foi 17,3% superior à de janeiro-agosto de 2010. A das vendas externas de máquinas agrícolas, 52,1%. O licenciamento de veículos importados aumentou, de fato, e chegou a 22,4% do total de licenciados. Em todo o ano passado a proporção foi de 18,8%. Mas, com produção, venda e exportação em alta, poderia o governo ter apelado para medidas explícitas de proteção? Conseguiria provar um surto de importação gravemente prejudicial para justificar as salvaguardas admitidas pela OMC?
A resposta parece implícita na escolha do protecionismo disfarçado. Uma bem fundada suspeita de dumping poderia ter justificado, igualmente, uma ação defensiva. As autoridades preferiram outro caminho, com o pretexto, também discutível, de incentivar o desenvolvimento tecnológico.
A ação adotada pelo Executivo favorece as indústrias em operação há mais tempo no Brasil e mais integradas na cadeia produtiva nacional. Na melhor hipótese, poderá induzir os demais fabricantes a elevar até 65% o conteúdo nacional de seus produtos. Mas isso não tornará a indústria mais competitiva. O investimento em tecnologia - pelo menos 0,5% da receita bruta, descontados os tributos incidentes sobre a venda - é uma das condições para a empresa se livrar das novas alíquotas. Esse requisito será com certeza cumprido ou contornado com facilidade, graças, especialmente, à notável ineficiência dos fiscalizadores.
Essa condição é obviamente um disfarce concebido para enfeitar uma decisão arbitrária e discriminatória, destinada basicamente à proteção de certos interesses particulares. A mera proteção, explícita ou disfarçada, nunca bastou e jamais bastará para tornar mais competitiva a produção de autopeças ou de veículos. As principais desvantagens desses e de outros segmentos da indústria são muito bem conhecidas - impostos, custos logísticos, entraves burocráticos, etc. - e não vale a pena repetir a longa lista. Nenhuma dessas desvantagens será sequer atenuada pelas novas medidas oficiais. Se o governo atacasse com seriedade esses problemas, todos os setores e toda a economia seriam beneficiados. Mas favores especiais são a negação da seriedade.
Não por acaso as novas providências foram aplaudidas pela diretoria da Anfavea, dominada pelas montadoras tradicionais, e pelo vice-presidente da Força Sindical. O presidente da Força é vinculado ao PDT, assim como o ministro do Trabalho, engajado na defesa dos novos benefícios antes do anúncio oficial.
Os brasileiros já assistiram a esse tipo de jogo, vantajoso para poucos e custeado por muitos. Como sempre, é muito mais fácil entrar na fila dos pedintes de favores do que pressionar o governo para cortar o excesso de gastos, diminuir impostos e favorecer o investimento necessário à modernização do País. O presidente da associação da indústria elétrica e eletrônica já entrou na fila, depois de elogiar a decisão do governo. Política industrial digna desse nome é outra coisa.[image error]
O governo acaba de promover, sob o disfarce de política industrial, mais uma lambança a favor de grupos selecionados. Com o pretexto de proteger o setor automobilístico e o emprego do trabalhador brasileiro, o Executivo federal aumentou o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e definiu condições para isenção das novas alíquotas. As condições beneficiam claramente uma parte das montadoras e criam, indiretamente, barreiras à importação de veículos e de componentes fabricados fora do Mercosul e do México. Ao estabelecer uma discriminação baseada em critério de conteúdo nacional, o governo se expõe a ser contestado na Organização Mundial do Comércio (OMC). O governo, segundo fontes ouvidas pela reportagem do Estado, admite essa possibilidade, mas decidiu correr o risco.
"O consumo dos brasileiros está sendo apropriado pelas importações", disse o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Segundo ele, é preocupante ver a indústria acumular estoques e dar férias coletivas aos funcionários. É conversa sem fundamento. O número de veículos nacionais licenciados até agosto foi 2,2% maior que o de um ano antes, segundo a associação das montadoras (Anfavea). A receita de exportações de veículos foi 17,3% superior à de janeiro-agosto de 2010. A das vendas externas de máquinas agrícolas, 52,1%. O licenciamento de veículos importados aumentou, de fato, e chegou a 22,4% do total de licenciados. Em todo o ano passado a proporção foi de 18,8%. Mas, com produção, venda e exportação em alta, poderia o governo ter apelado para medidas explícitas de proteção? Conseguiria provar um surto de importação gravemente prejudicial para justificar as salvaguardas admitidas pela OMC?
A resposta parece implícita na escolha do protecionismo disfarçado. Uma bem fundada suspeita de dumping poderia ter justificado, igualmente, uma ação defensiva. As autoridades preferiram outro caminho, com o pretexto, também discutível, de incentivar o desenvolvimento tecnológico.
A ação adotada pelo Executivo favorece as indústrias em operação há mais tempo no Brasil e mais integradas na cadeia produtiva nacional. Na melhor hipótese, poderá induzir os demais fabricantes a elevar até 65% o conteúdo nacional de seus produtos. Mas isso não tornará a indústria mais competitiva. O investimento em tecnologia - pelo menos 0,5% da receita bruta, descontados os tributos incidentes sobre a venda - é uma das condições para a empresa se livrar das novas alíquotas. Esse requisito será com certeza cumprido ou contornado com facilidade, graças, especialmente, à notável ineficiência dos fiscalizadores.
Essa condição é obviamente um disfarce concebido para enfeitar uma decisão arbitrária e discriminatória, destinada basicamente à proteção de certos interesses particulares. A mera proteção, explícita ou disfarçada, nunca bastou e jamais bastará para tornar mais competitiva a produção de autopeças ou de veículos. As principais desvantagens desses e de outros segmentos da indústria são muito bem conhecidas - impostos, custos logísticos, entraves burocráticos, etc. - e não vale a pena repetir a longa lista. Nenhuma dessas desvantagens será sequer atenuada pelas novas medidas oficiais. Se o governo atacasse com seriedade esses problemas, todos os setores e toda a economia seriam beneficiados. Mas favores especiais são a negação da seriedade.
Não por acaso as novas providências foram aplaudidas pela diretoria da Anfavea, dominada pelas montadoras tradicionais, e pelo vice-presidente da Força Sindical. O presidente da Força é vinculado ao PDT, assim como o ministro do Trabalho, engajado na defesa dos novos benefícios antes do anúncio oficial.
Os brasileiros já assistiram a esse tipo de jogo, vantajoso para poucos e custeado por muitos. Como sempre, é muito mais fácil entrar na fila dos pedintes de favores do que pressionar o governo para cortar o excesso de gastos, diminuir impostos e favorecer o investimento necessário à modernização do País. O presidente da associação da indústria elétrica e eletrônica já entrou na fila, depois de elogiar a decisão do governo. Política industrial digna desse nome é outra coisa.[image error]
Published on September 17, 2011 06:12
September 16, 2011
Ron Paul's Fantasy Empire
By BRET STEPHENS , WSJ
"We're under great threat because we occupy so many countries. We're in 130 countries. We have 900 bases around the world."
So spoke presidential hopeful and libertarian favorite Ron Paul at this week's GOP debate in Florida. But is it true?
You might think so, given how often the figures get bandied about on the Internet. In 2008, the late Chalmers Johnson claimed the U.S. deployed troops in no fewer than 151 foreign countries and operated 761 military bases. These figures were the basis for his claim that since 9/11 the U.S. has "undergone a transformation from republic to empire that may well prove irreversible."
The reality is a tad less alarming. The Pentagon's 2010 Base Structure Report notes that the U.S. maintains a total of 662 bases abroad. But of those, only 20 were listed as "large sites" and another 12 as "medium sites." The rest (630) were listed as either "small" or "other" sites. That's one reason the total number of bases changes from year to year.
Then there's Mr. Paul's line about U.S. forces being "in 130 countries." Really? The truth is that American soldiers are in even more countries than that—but only if you count the small Marine detachments that provide security for our embassies world-wide. By that measure, we're in every country from Albania, where we have eight Marines, to Zimbabwe, where we have nine.
In fact, according to figures compiled by the Defense Manpower Data Center, as of September 2010 the bulk of U.S. forces deployed overseas (not including those on ships or in transit) are stationed in just seven countries: Afghanistan, Iraq, Japan, South Korea, Germany, the U.K. and Italy, all of which are home to at least 9,000 troops. Aside from Afghanistan and Iraq (which may soon drop off that list) all of these are World War II and Cold War legacies. Another five countries—Spain, Turkey, Belgium (the headquarters of NATO), Bahrain and Djibouti—have between 1,000 and 1,500 troops. The next largest deployments are Portugal (703), Qatar (555) Honduras (403) and Greece (338).
There's an intellectually respectable argument to be made that perhaps the U.S. doesn't need so many troops in rich and peaceful countries like Germany or Japan. But to say, as Congressman Paul does, that we're in 130 countries isn't just factually inaccurate. It's absurd.[image error]
"We're under great threat because we occupy so many countries. We're in 130 countries. We have 900 bases around the world."
So spoke presidential hopeful and libertarian favorite Ron Paul at this week's GOP debate in Florida. But is it true?
You might think so, given how often the figures get bandied about on the Internet. In 2008, the late Chalmers Johnson claimed the U.S. deployed troops in no fewer than 151 foreign countries and operated 761 military bases. These figures were the basis for his claim that since 9/11 the U.S. has "undergone a transformation from republic to empire that may well prove irreversible."
The reality is a tad less alarming. The Pentagon's 2010 Base Structure Report notes that the U.S. maintains a total of 662 bases abroad. But of those, only 20 were listed as "large sites" and another 12 as "medium sites." The rest (630) were listed as either "small" or "other" sites. That's one reason the total number of bases changes from year to year.
Then there's Mr. Paul's line about U.S. forces being "in 130 countries." Really? The truth is that American soldiers are in even more countries than that—but only if you count the small Marine detachments that provide security for our embassies world-wide. By that measure, we're in every country from Albania, where we have eight Marines, to Zimbabwe, where we have nine.
In fact, according to figures compiled by the Defense Manpower Data Center, as of September 2010 the bulk of U.S. forces deployed overseas (not including those on ships or in transit) are stationed in just seven countries: Afghanistan, Iraq, Japan, South Korea, Germany, the U.K. and Italy, all of which are home to at least 9,000 troops. Aside from Afghanistan and Iraq (which may soon drop off that list) all of these are World War II and Cold War legacies. Another five countries—Spain, Turkey, Belgium (the headquarters of NATO), Bahrain and Djibouti—have between 1,000 and 1,500 troops. The next largest deployments are Portugal (703), Qatar (555) Honduras (403) and Greece (338).
There's an intellectually respectable argument to be made that perhaps the U.S. doesn't need so many troops in rich and peaceful countries like Germany or Japan. But to say, as Congressman Paul does, that we're in 130 countries isn't just factually inaccurate. It's absurd.[image error]
Published on September 16, 2011 06:07
Assédio dos importados

Rodrigo Constantino, para o Instituto Liberal
Em mais uma medida totalmente absurda, sem pé nem cabeça do ponto de vista econômico, o governo Dilma decidiu elevar o IPI de veículos importados. Os preços poderão subir até 28%, penalizando os consumidores brasileiros. Argumenta-se que a intenção é proteger os empregos nacionais. O ministro Guido Mantega afirmou que o Brasil "passou a sofrer o assédio da indústria internacional". Segundo ele, existe "o risco de exportarmos empregos para o exterior".
O governo Dilma deixa cada vez mais evidente seu ranço mercantilista. Estas falácias econômicas já foram devidamente refutadas desde o século XVIII. Mas os brasileiros nunca aprendem! Não bastou a "Lei da Informática" para convencer esta gente dos males do protecionismo. Não bastou o país ser obrigado a comprar carroças ao preço de Ferrari antes da abertura comercial. A experiência nunca basta por aqui. É preciso insistir no erro até seu custo ficar alto demais para ser suportado.
Na lógica de Mantega, há muito mais que ser feito para "proteger" os empregos domésticos. Somos "assediados" por eletrônicos importados, como laptops e tablets. Chega da invasão da Apple! Vamos criar reserva de mercado para a Positivo. Somos "assediados" por filmes estrangeiros, especialmente os do "império" americano. Está na hora de aumentar as cotas para cinema nacional e preservar o emprego dos cineastas engajados que fazem filmes horríveis sobre comunistas como Olga e Che. E por aí vai.
Claro que ninguém com um pingo de bom senso cai mais nesse papo de "proteger emprego local". É história para boi dormir. O dinheiro economizado com a compra do importado mais barato não desaparece, mas é direcionado para outro setor, gerando empregos. O que se deu, na verdade, foi pura pressão do lobby das montadoras, somado ao desejo do governo de aumentar a arrecadação (cumprir a meta fiscal assim é moleza).
No mercantilismo é assim: concentram-se os privilégios e dispersa o custo entre consumidores e pagadores de impostos. Grande modelo econômico![image error]
Published on September 16, 2011 05:53
September 15, 2011
Entendendo a crise do euro
Vídeo onde explico de forma bem simplificada, em cerca de 15 min, as causas da atual crise do euro e suas possíveis consequências.[image error]
Published on September 15, 2011 17:02
Brazil's business environment: Baby Steps
The Economist
AROUND 11am on September 13th, a "1" followed by 12 zeros lit up on a sign in downtown São Paulo. Brazil's impostômetro (taxometer) hit one trillion reais ($582 billion) 35 days earlier this year than in 2010. Brazil's tax take is going up, thanks to a booming economy, crackdowns on evasion and inflation pushing people into higher brackets. But public services remain poor: roads are potholed, airports are crowded and pupils learn less than in many places with lower taxes.
So it is no surprise that the public sector is Brazil's weakest point in the World Economic Forum's latest Global Competitiveness Report, released on September 7th. Its government is the seventh most wasteful spender. Its regulatory burden is the heaviest, and its taxes are the most complex. According to the World Bank's "Doing Business" report, medium-sized Brazilian firms spend 2,600 hours a year paying taxes—over twice as long as the next-slowest country and nearly ten times the average.
Such rankings have encouraged many countries to cut red tape. In Brazil, however, a loose federal structure and a constitution packed with fine regulatory detail obstruct reforms. Harmonising interstate taxes would require all state governors to agree: Luiz Inácio Lula da Silva, president from 2003 to 2010, tried and failed. Many measures to cut labour overheads would require a constitutional amendment.
Some state officials are making it easier to open a business. The federal government is pushing laggards to follow suit. Dilma Rousseff, Lula's successor, is trying to rationalise interstate taxes, and has so far refused state governors' request to reintroduce a financial-transactions tax. The government is planning to move business-tax payments online, which should end the problem of multiple filings to different authorities. And for small businesses life is already simpler: since 2007 they have used a unified tax regime known as "Super Simples". An extension to mid-sized companies is in the works. However, the model firm put through its paces by the "Doing Business" team—a ceramic-pot producer with turnover equal to 1,050 times GDP per head—is too big to qualify.[image error]
AROUND 11am on September 13th, a "1" followed by 12 zeros lit up on a sign in downtown São Paulo. Brazil's impostômetro (taxometer) hit one trillion reais ($582 billion) 35 days earlier this year than in 2010. Brazil's tax take is going up, thanks to a booming economy, crackdowns on evasion and inflation pushing people into higher brackets. But public services remain poor: roads are potholed, airports are crowded and pupils learn less than in many places with lower taxes.
So it is no surprise that the public sector is Brazil's weakest point in the World Economic Forum's latest Global Competitiveness Report, released on September 7th. Its government is the seventh most wasteful spender. Its regulatory burden is the heaviest, and its taxes are the most complex. According to the World Bank's "Doing Business" report, medium-sized Brazilian firms spend 2,600 hours a year paying taxes—over twice as long as the next-slowest country and nearly ten times the average.
Such rankings have encouraged many countries to cut red tape. In Brazil, however, a loose federal structure and a constitution packed with fine regulatory detail obstruct reforms. Harmonising interstate taxes would require all state governors to agree: Luiz Inácio Lula da Silva, president from 2003 to 2010, tried and failed. Many measures to cut labour overheads would require a constitutional amendment.
Some state officials are making it easier to open a business. The federal government is pushing laggards to follow suit. Dilma Rousseff, Lula's successor, is trying to rationalise interstate taxes, and has so far refused state governors' request to reintroduce a financial-transactions tax. The government is planning to move business-tax payments online, which should end the problem of multiple filings to different authorities. And for small businesses life is already simpler: since 2007 they have used a unified tax regime known as "Super Simples". An extension to mid-sized companies is in the works. However, the model firm put through its paces by the "Doing Business" team—a ceramic-pot producer with turnover equal to 1,050 times GDP per head—is too big to qualify.[image error]
Published on September 15, 2011 16:50
Os excessos de Verissimo
Rodrigo Constantino
Confesso que cansei de rebater as baboseiras ideológicas que Luis Fernando Verissimo escreve em suas colunas, que deveriam ser sobre crônicas do cotidiano (o que ele sabe fazer bem), mas invariavelmente se transformam em puro proselitismo venenoso. Com aquele jeito simpático, aquela escrita de forma leve, eis que sempre vem um conteúdo pesado, uma mensagem pérfida em defesa do socialismo que ele tanto adora (ainda!).
Hoje, em sua coluna do Globo e Estadão, ele conseguiu chamar de "excessos e descaminhos" o que se deu durante a Revolução Russa. Isso mesmo! Matar milhões de russos em nome de um igualitarismo tosco, isso é um "excesso". Deixar deliberadamente quase 6 milhões de inocentes morrerem de fome, isso é um "descaminho" do "lindo" ideal da revolução socialista.
Existem apenas dois tipos de postura diante das atrocidades da Revolução Russa, segundo Verissimo: lamentar seus "excessos", mas reconhecer seus nobres fins de justiça; ou condená-la a priori como antinatural. E isso, naturalmente, só pode ser coisa de "neoliberal egoísta" que pretende deixar as injustiças naturais "sem remédio".
Para os familiarizados com a obra de Ayn Rand, Verissimo é o Ellsworth Toohey tupiniquim. Cada um tem o vilão que merece![image error]
Confesso que cansei de rebater as baboseiras ideológicas que Luis Fernando Verissimo escreve em suas colunas, que deveriam ser sobre crônicas do cotidiano (o que ele sabe fazer bem), mas invariavelmente se transformam em puro proselitismo venenoso. Com aquele jeito simpático, aquela escrita de forma leve, eis que sempre vem um conteúdo pesado, uma mensagem pérfida em defesa do socialismo que ele tanto adora (ainda!).
Hoje, em sua coluna do Globo e Estadão, ele conseguiu chamar de "excessos e descaminhos" o que se deu durante a Revolução Russa. Isso mesmo! Matar milhões de russos em nome de um igualitarismo tosco, isso é um "excesso". Deixar deliberadamente quase 6 milhões de inocentes morrerem de fome, isso é um "descaminho" do "lindo" ideal da revolução socialista.
Existem apenas dois tipos de postura diante das atrocidades da Revolução Russa, segundo Verissimo: lamentar seus "excessos", mas reconhecer seus nobres fins de justiça; ou condená-la a priori como antinatural. E isso, naturalmente, só pode ser coisa de "neoliberal egoísta" que pretende deixar as injustiças naturais "sem remédio".
Para os familiarizados com a obra de Ayn Rand, Verissimo é o Ellsworth Toohey tupiniquim. Cada um tem o vilão que merece![image error]
Published on September 15, 2011 12:55
Rodrigo Constantino's Blog
- Rodrigo Constantino's profile
- 32 followers
Rodrigo Constantino isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.