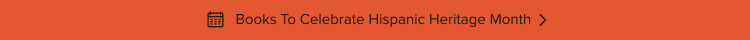Rodrigo Constantino's Blog, page 413
October 1, 2011
Killing Awlaki
Editorial do WSJ
In the decade before his death, Anwar al-Awlaki served as an imam at two American mosques attended by 9/11 hijackers. He corresponded regularly with Nidal Hasan before the Army major went on his murder spree at Fort Hood in November 2009. He was in touch with Umar Farouk Abdulmutallab, who nearly brought down a jetliner over Detroit the following month. His sermons were cited as an inspiration by attempted Times Square bomber Faisal Shahzad. He said that "jihad against America is binding upon myself, just as it is binding on every other able Muslim."
Now a Hellfire missile fired from an American drone somewhere over Yemen has brought Awlaki's career of incitement to an abrupt close. Lest you suppose this is a blessing for civilization, certain self-described civil libertarians would like a word with you.
The caviling over Awlaki's death began almost the moment the news was announced yesterday. "Al-Alwaki was born here, he's an American citizen, he was never tried or charged for any crimes," said Ron Paul, the Republican Presidential candidate, in New Hampshire yesterday. "To start assassinating American citizens without charges—we should think very seriously about this." In the Guardian, Michael Ratner of the Center for Constitutional Rights called Awlaki's killing "extrajudicial murder."
Then there is the view that the U.S. cannot carry out strikes against terrorists in countries that, like Yemen, are not at war with us. Last year, Awlaki's father filed a case in federal court on those grounds. Federal Judge John Bates dismissed it by noting that "there are circumstances in which the [President's] unilateral decision to kill a U.S. citizen overseas" is "judicially unreviewable."
More recently, however, the New York Times has reported that State Department legal adviser Harold Koh is making the case within the Administration that while the U.S. can target terrorists in places like Yemen, it must also "justify the act as necessary for its self-defense—meaning it should focus on individuals plotting to attack the United States."
Mr. Koh has his current job in part because he made a name for himself as a vociferous critic of Bush Administration antiterror policy, so maybe it's no surprise that he should now serve as this Administration's in-house scold. Yet the Authorization for Military Force Against Terrorists adopted by Congress a week after 9/11 (on a 420-1 vote in the House and 98-0 in the Senate) gives the President broad authority to use force against "those nations, organizations or persons he determines planned, authorized, committed or aided" the attacks "in order to prevent any future acts of international terrorism against the United States."
Dorothy Rabinowitz on liberal and libertarian outrage at the al-Awlaki killing.
Though Awlaki and other newer al Qaeda recruits didn't plan 9/11, they can lawfully be targeted under the "associated forces" doctrine well understood under the laws of war. The U.S. used that doctrine to attack the military of Vichy France in North Africa during World War II, for example, though Congress had declared war against Germany, Italy, Japan, Hungary, Bulgaria and Romania. The Obama Administration's own March 13, 2009 redefinition of who is an "enemy combatant" includes a specific reference to "associated forces that are engaged in hostilities" against the U.S. or its allies.
If Mr. Koh or his fellow-travelers want to narrow this definition, they are free to suggest that Congress do so. Otherwise, President Obama's powers to pursue al Qaeda and its affiliates wherever they may be are manifestly legal.
As for the idea that Awlaki was entitled to special consideration on account of his U.S. citizenship, the Supreme Court made its views clear in the 1942 Ex Parte Quirin case dealing with Nazi saboteurs: "Citizenship in the United States of an enemy belligerent does not relieve him from the consequences of belligerency." Samir Khan, a Saudi-born American who managed al Qaeda's media organization and was killed alongside Awlaki, described himself as "proud to be a traitor to America"; presumably, he too understood the consequences of belligerency.
Meanwhile, what used to be called the war on terror continues apace. The killing of Awlaki is the third time in recent months that the U.S. has thinned the ranks of al Qaeda leaders, following the raid on Osama bin Laden's compound in May and the drone strike on operations man Atiyah Abd al-Rahman in August.
Whether this means al Qaeda is on the verge of "strategic defeat," as Secretary of Defense Leon Panetta put it not long ago, isn't clear, particularly as the group continues to extend its reach in East Africa. But it does mean that al Qaeda has lost its most charismatic figures and will have to replenish its leadership ranks. Aggressive use of drones and other counterterrorist tools will complicate that task, while reminding potential jihadist recruits of the fate that awaits all of their leaders.
In our asymmetrical war on terror, intelligence and drones are two of our rare advantages. Mr. Obama's expansion of the drone campaign is his most significant national security accomplishment. For ridding the world of the menace that was Awlaki—even while ignoring the advice of some of its ideological friends—the Administration deserves congratulations and thanks.
In the decade before his death, Anwar al-Awlaki served as an imam at two American mosques attended by 9/11 hijackers. He corresponded regularly with Nidal Hasan before the Army major went on his murder spree at Fort Hood in November 2009. He was in touch with Umar Farouk Abdulmutallab, who nearly brought down a jetliner over Detroit the following month. His sermons were cited as an inspiration by attempted Times Square bomber Faisal Shahzad. He said that "jihad against America is binding upon myself, just as it is binding on every other able Muslim."
Now a Hellfire missile fired from an American drone somewhere over Yemen has brought Awlaki's career of incitement to an abrupt close. Lest you suppose this is a blessing for civilization, certain self-described civil libertarians would like a word with you.
The caviling over Awlaki's death began almost the moment the news was announced yesterday. "Al-Alwaki was born here, he's an American citizen, he was never tried or charged for any crimes," said Ron Paul, the Republican Presidential candidate, in New Hampshire yesterday. "To start assassinating American citizens without charges—we should think very seriously about this." In the Guardian, Michael Ratner of the Center for Constitutional Rights called Awlaki's killing "extrajudicial murder."
Then there is the view that the U.S. cannot carry out strikes against terrorists in countries that, like Yemen, are not at war with us. Last year, Awlaki's father filed a case in federal court on those grounds. Federal Judge John Bates dismissed it by noting that "there are circumstances in which the [President's] unilateral decision to kill a U.S. citizen overseas" is "judicially unreviewable."
More recently, however, the New York Times has reported that State Department legal adviser Harold Koh is making the case within the Administration that while the U.S. can target terrorists in places like Yemen, it must also "justify the act as necessary for its self-defense—meaning it should focus on individuals plotting to attack the United States."
Mr. Koh has his current job in part because he made a name for himself as a vociferous critic of Bush Administration antiterror policy, so maybe it's no surprise that he should now serve as this Administration's in-house scold. Yet the Authorization for Military Force Against Terrorists adopted by Congress a week after 9/11 (on a 420-1 vote in the House and 98-0 in the Senate) gives the President broad authority to use force against "those nations, organizations or persons he determines planned, authorized, committed or aided" the attacks "in order to prevent any future acts of international terrorism against the United States."
Dorothy Rabinowitz on liberal and libertarian outrage at the al-Awlaki killing.
Though Awlaki and other newer al Qaeda recruits didn't plan 9/11, they can lawfully be targeted under the "associated forces" doctrine well understood under the laws of war. The U.S. used that doctrine to attack the military of Vichy France in North Africa during World War II, for example, though Congress had declared war against Germany, Italy, Japan, Hungary, Bulgaria and Romania. The Obama Administration's own March 13, 2009 redefinition of who is an "enemy combatant" includes a specific reference to "associated forces that are engaged in hostilities" against the U.S. or its allies.
If Mr. Koh or his fellow-travelers want to narrow this definition, they are free to suggest that Congress do so. Otherwise, President Obama's powers to pursue al Qaeda and its affiliates wherever they may be are manifestly legal.
As for the idea that Awlaki was entitled to special consideration on account of his U.S. citizenship, the Supreme Court made its views clear in the 1942 Ex Parte Quirin case dealing with Nazi saboteurs: "Citizenship in the United States of an enemy belligerent does not relieve him from the consequences of belligerency." Samir Khan, a Saudi-born American who managed al Qaeda's media organization and was killed alongside Awlaki, described himself as "proud to be a traitor to America"; presumably, he too understood the consequences of belligerency.
Meanwhile, what used to be called the war on terror continues apace. The killing of Awlaki is the third time in recent months that the U.S. has thinned the ranks of al Qaeda leaders, following the raid on Osama bin Laden's compound in May and the drone strike on operations man Atiyah Abd al-Rahman in August.
Whether this means al Qaeda is on the verge of "strategic defeat," as Secretary of Defense Leon Panetta put it not long ago, isn't clear, particularly as the group continues to extend its reach in East Africa. But it does mean that al Qaeda has lost its most charismatic figures and will have to replenish its leadership ranks. Aggressive use of drones and other counterterrorist tools will complicate that task, while reminding potential jihadist recruits of the fate that awaits all of their leaders.
In our asymmetrical war on terror, intelligence and drones are two of our rare advantages. Mr. Obama's expansion of the drone campaign is his most significant national security accomplishment. For ridding the world of the menace that was Awlaki—even while ignoring the advice of some of its ideological friends—the Administration deserves congratulations and thanks.
Published on October 01, 2011 06:11
September 30, 2011
Insensatez em marcha
Rogério Furquim Werneck, O Globo
Há poucos meses era algo que apenas se entrevia. Agora, já não há mais espaço para dúvida. Está havendo uma guinada muito clara na política econômica do governo. Mudaram os objetivos, o discurso e o estilo da condução da política econômica. E, à medida que a percepção da mudança se dissemina, o próprio debate econômico vem tomando outra forma. Ideias equivocadas, que pareciam afastadas para sempre do cerne do debate econômico nacional, voltaram a ter livre curso na mídia, brandidas com deprimente convicção. Em certos círculos, há até um clima de comemoração, quase de euforia, com o que vem sendo saudado como o abandono definitivo da forma de conduzir a política econômica que prevaleceu no país nos últimos 18 anos.
É uma guinada que vem sendo ensaiada desde 2005 e que, em boa medida, teve início efetivo na segunda parte do último mandato do presidente Lula. A diferença é que, até há pouco tempo, o governo tentava dissimular as mudanças e evitar quebras muito ostensivas de regras do jogo ou movimentos excessivamente bruscos na condução da política econômica. Parece já não haver essa preocupação. Mais uma vez, como em 2008-09, a crise mundial está sendo usada como pretexto. A ideia é que, com as economias centrais engolfadas em dificuldades, o País precisa se precaver. E, nessas condições, vale tudo: passa a não existir pecado em nenhum dos dois lados do Equador.
A deterioração do ambiente externo, por mais preocupante que seja, não é justificativa para improvisação, casuismo e arbitrariedade. Muito pelo contrário. É exatamente quando o quadro fica mais adverso e as possibilidades se estreitam, que a manutenção de uma política econômica coerente, crível e previsível se torna mais necessária. Convencido de que havia alta probabilidade de que o país se defrontasse, até o fim do ano, com rápida deterioração do quadro econômico na Europa, o desafio que o Banco Central tinha pela frente era fazer a correção devida na política monetária, mantendo ancoradas as expectativas inflacionárias e preservando a credibilidade da política de metas para inflação. Isso teria exigido correção de rumo mais cuidadosa. Certamente mais suave do que a que, afinal, se viu.
O movimento brusco, ao arrepio de regras básicas de condução da política de metas, teve custo gigantesco em termos de perda de credibilidade e deixou as expectativas inflacionárias completamente desancoradas. O que se espera agora é que a inflação convirja para a meta apenas em 2013. Há pela frente, portanto, um período longo durante o qual reajustes de preços e salários estarão pautados por expectativas de inflação preocupantemente altas. O que deve dificultar ainda mais a lenta convergência da inflação à meta.
Tendo feito aposta tão pesada na deterioração do quadro econômico mundial, o Banco Central, coadjuvado pela Fazenda, se vê agora obrigado a reiterar a cada dia a extensão de sua preocupação com a situação externa. Em contraste com 2008, quando prometeu que tudo não passaria de simples marolinha, o governo se vê compelido a fazer alertas diários sobre a possibilidade de um maremoto. Sobrevenha ou não o quadro externo catastrófico, o certo é que o discurso catastrofista do governo vem tendo um efeito antecipado avassalador sobre decisões de investimento. O que talvez venha a ser visto como uma forma criativa, ainda que não intencional, de contenção da demanda agregada.
É curioso que, não obstante todo o propalado pessimismo do governo com a deterioração do quadro externo, a Fazenda e o Banco Central não conseguiram esconder sua surpresa com a rápida depreciação da taxa de câmbio observada nas últimas semanas. E até hoje recusam-se a reconhecer que esse movimento desestabilizador do câmbio pode ter sido, em boa parte, simples decorrência de efeito colateral da imposição de IOF sobre derivativos. A medida já não faz mais sentido, se é que chegou a fazer. Mas, tendo improvisado, o governo não quer dar o braço a torcer. O pior da improvisação é a ocultação dos seus custos.
Há poucos meses era algo que apenas se entrevia. Agora, já não há mais espaço para dúvida. Está havendo uma guinada muito clara na política econômica do governo. Mudaram os objetivos, o discurso e o estilo da condução da política econômica. E, à medida que a percepção da mudança se dissemina, o próprio debate econômico vem tomando outra forma. Ideias equivocadas, que pareciam afastadas para sempre do cerne do debate econômico nacional, voltaram a ter livre curso na mídia, brandidas com deprimente convicção. Em certos círculos, há até um clima de comemoração, quase de euforia, com o que vem sendo saudado como o abandono definitivo da forma de conduzir a política econômica que prevaleceu no país nos últimos 18 anos.
É uma guinada que vem sendo ensaiada desde 2005 e que, em boa medida, teve início efetivo na segunda parte do último mandato do presidente Lula. A diferença é que, até há pouco tempo, o governo tentava dissimular as mudanças e evitar quebras muito ostensivas de regras do jogo ou movimentos excessivamente bruscos na condução da política econômica. Parece já não haver essa preocupação. Mais uma vez, como em 2008-09, a crise mundial está sendo usada como pretexto. A ideia é que, com as economias centrais engolfadas em dificuldades, o País precisa se precaver. E, nessas condições, vale tudo: passa a não existir pecado em nenhum dos dois lados do Equador.
A deterioração do ambiente externo, por mais preocupante que seja, não é justificativa para improvisação, casuismo e arbitrariedade. Muito pelo contrário. É exatamente quando o quadro fica mais adverso e as possibilidades se estreitam, que a manutenção de uma política econômica coerente, crível e previsível se torna mais necessária. Convencido de que havia alta probabilidade de que o país se defrontasse, até o fim do ano, com rápida deterioração do quadro econômico na Europa, o desafio que o Banco Central tinha pela frente era fazer a correção devida na política monetária, mantendo ancoradas as expectativas inflacionárias e preservando a credibilidade da política de metas para inflação. Isso teria exigido correção de rumo mais cuidadosa. Certamente mais suave do que a que, afinal, se viu.
O movimento brusco, ao arrepio de regras básicas de condução da política de metas, teve custo gigantesco em termos de perda de credibilidade e deixou as expectativas inflacionárias completamente desancoradas. O que se espera agora é que a inflação convirja para a meta apenas em 2013. Há pela frente, portanto, um período longo durante o qual reajustes de preços e salários estarão pautados por expectativas de inflação preocupantemente altas. O que deve dificultar ainda mais a lenta convergência da inflação à meta.
Tendo feito aposta tão pesada na deterioração do quadro econômico mundial, o Banco Central, coadjuvado pela Fazenda, se vê agora obrigado a reiterar a cada dia a extensão de sua preocupação com a situação externa. Em contraste com 2008, quando prometeu que tudo não passaria de simples marolinha, o governo se vê compelido a fazer alertas diários sobre a possibilidade de um maremoto. Sobrevenha ou não o quadro externo catastrófico, o certo é que o discurso catastrofista do governo vem tendo um efeito antecipado avassalador sobre decisões de investimento. O que talvez venha a ser visto como uma forma criativa, ainda que não intencional, de contenção da demanda agregada.
É curioso que, não obstante todo o propalado pessimismo do governo com a deterioração do quadro externo, a Fazenda e o Banco Central não conseguiram esconder sua surpresa com a rápida depreciação da taxa de câmbio observada nas últimas semanas. E até hoje recusam-se a reconhecer que esse movimento desestabilizador do câmbio pode ter sido, em boa parte, simples decorrência de efeito colateral da imposição de IOF sobre derivativos. A medida já não faz mais sentido, se é que chegou a fazer. Mas, tendo improvisado, o governo não quer dar o braço a torcer. O pior da improvisação é a ocultação dos seus custos.
Published on September 30, 2011 16:33
A família do futuro
Hilário este vídeo que mostra como será uma típica família do futuro, caso a turma do "politicamente correto" vença a batalha das idéias.
Published on September 30, 2011 11:27
Pátria de chuteiras e ocaso da razão
Fernando Gabeira, jornalista - O Estado de S.Paulo
Aprendi ao longo de alguns textos sobre a Copa do Mundo de Futebol que o preço de questionar uma conquista nacional é o de ser acusado de torcer contra o Brasil. Isso não é exclusivo do atual governo. Desde a ditadura militar, com seu famoso slogan "ame-o ou deixe-o", a tendência é inibir certas críticas, associando-as à falta de patriotismo. Neste caso, e em muitos outros, o patriotismo não é simplesmente um refúgio de canalhas, como na célebre citação. Ele faz parte de um processo complexo de acúmulo de poder e dinheiro, no qual um dos elementos sempre impulsiona o outro: mais dinheiro traz mais poder, que, por sua vez, traz mais dinheiro.
Da maneira como está sendo conduzida, a preparação para a Copa não é racional. Notícias de bastidores relatam a insatisfação da Fifa, que poderia em outubro cancelar a escolha do Brasil como sede. O que a Fifa parece querer é pior ainda do que se está fazendo por aqui. A entidade quer eliminar o meio ingresso para estudantes e idosos, algo que, correto ou não, representa direitos conquistados. O governo enfatiza esse detalhe da disputa com a Fifa porque sabe que o deixa bem com a opinião pública.
Outros anéis já se foram, sem grandes protestos. O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), denunciado pela Procuradoria-Geral da República, foi o primeiro grande passo para conformar a legislação brasileira ao desígnios dos que se querem aproveitar da Copa. E o relator do projeto do novo Código Florestal no Senado, Luiz Henrique (PMDB-SC), afirmou que seria introduzida uma emenda no projeto permitindo desmatar para obras da Copa. O Brasil tem pressa, disse ele.
Quando se trata de conformar uma legislação aos seus desígnios, o Brasil deles tem pressa. Quando se trata de avançar com obras essenciais para a Copa, o Brasil deles é devagar. Aparentemente, são movimentos contraditórios, mas no fundo se complementam: mais pressa significa menos controle sobre os gastos.
Estou convencido de que muitos desses gastos são irracionais.
No capítulo dos estádios esportivos, tenho mencionado dois exemplos: o do Maracanã, no Rio, e o do Machadão, em Natal. Só para a reforma do Maracanã o governador Sérgio Cabral pretendia gastar quase R$ 1 bilhão. O Tribunal de Contas apertou o controle e conseguiu abater R$ 84 milhões. O governo do Rio, que esta semana contraiu um empréstimo de US$ 126,6 milhões com o Banco Interamericano, resolveu fazer marketing e reduziu mais R$ 80 milhões no custo do Maracanã. O mecanismo foi sutil: isentar de ICMS o material de construção destinado à obra, construída pela empresa Delta, de Fernando Cavendish, amigo de Cabral. Nem os fluminenses nem sua imprensa se deram conta, na plenitude, de que estavam sendo enganados: os custos são os mesmos, mas pagos de forma diferente.
Tudo foi feito em concordância com a legislação federal que também isenta estádios de alguns impostos. A conta da Copa ficará um pouco como as pessoas cujas fotos são processados no Photoshop e parecem ter 10 kg a menos.
O caso do Machadão, em Natal, que se vai chamar Arena das Dunas, também é típico. O estádio será reconstruído para ampliar sua capacidade. Pesquisas sobre sua trajetória indicam que só lotou uma vez, durante a visita do papa João Paulo II. Suponhamos que a ampliação sirva aos jogos da Copa. Mas, e depois? Teríamos de esperar nova visita de um papa para encher o estádio outra vez.
A solução para os aeroportos também me parece irracional. O aumento do número de passageiros das linhas aéreas é constante no País. Com ou sem Copa, precisamos de novos aeroportos. A solução apresentada: construir terminais provisórios. Se há uma necessidade estratégica de crescimento, o arranjo provisório atrasaria a solução definitiva e drenaria parte dos seus recursos. Serviria à Copa e aos torcedores, mas atrasaria o passo de novas levas de viajantes.
As famosas obras de mobilidade urbana não serão concluídas. O empenho na construção do trem-bala parece maior do que a preocupação com as massas metropolitanas que, às vezes, passam quatro horas do dia se deslocando de casa para o trabalho e vice-versa. A solução para esse complexo problema já foi anunciada pela ministra Miriam Belchior: sai o legado, entra o feriado. Nos dias de jogo, as cidades param e o Brasil arca com um imenso prejuízo, sentido na carne pelos trabalhadores autônomos.
Nunca se falou tanto em transparência quanto na época em que o Brasil foi escolhido para sediar a Copa e a Olimpíada. Políticos de vários horizontes formaram comissões, ONGs se posicionaram no front da vigilância e, no entanto, os dados não aparecem com toda a sua clareza. O empréstimo de US$ 126,6 milhões no exterior e a redução de custos no Maracanã com base em isenção de impostos são faces de um drama que escapa até aos grandes órgãos de comunicação do Rio, siderados com os lucros que a Copa lhes trará.
Porém a vida continua no seu implacável ritmo. A insensatez joga em inúmeras posições, mas os governantes calculam que os prejuízos serão recompensados por uma vitória nacional no futebol. Em caso de derrota e insatisfação, há sempre o recurso de mais um feriado para aplacar a fúria.
A proposta do Brasil é sediar a Copa do Mundo para projetar sua nova importância internacional. Para essa tarefa estratégica a interface cosmopolita do País são os Ministérios do Esporte e do Turismo. O primeiro é dirigido pelo Partido Comunista do Brasil, que há alguns anos era fascinado pela experiência da Albânia. O segundo é feudo do senador José Sarney e procura atender, prioritariamente, ao Maranhão, um belo Estado, porém mantido no atraso pelos seus dirigentes.
Os patriotas que me perdoem, mas não posso repetir o slogan do McDonald's, amo muito tudo isso. E já vai muito longe o tempo em que o dilema, pela força da repressão, era amar ou deixar.
Nos tempos democráticos, é preciso demonstrar a racionalidade das ações do governo. E a Copa do Mundo de 2014 pode ser a amarga taça da improvisação e cobiça na qual bebem apenas políticos empresários.
Comentário: Para quem ainda não viu, eis o link para meu vídeo sobre este assunto.[image error]
Aprendi ao longo de alguns textos sobre a Copa do Mundo de Futebol que o preço de questionar uma conquista nacional é o de ser acusado de torcer contra o Brasil. Isso não é exclusivo do atual governo. Desde a ditadura militar, com seu famoso slogan "ame-o ou deixe-o", a tendência é inibir certas críticas, associando-as à falta de patriotismo. Neste caso, e em muitos outros, o patriotismo não é simplesmente um refúgio de canalhas, como na célebre citação. Ele faz parte de um processo complexo de acúmulo de poder e dinheiro, no qual um dos elementos sempre impulsiona o outro: mais dinheiro traz mais poder, que, por sua vez, traz mais dinheiro.
Da maneira como está sendo conduzida, a preparação para a Copa não é racional. Notícias de bastidores relatam a insatisfação da Fifa, que poderia em outubro cancelar a escolha do Brasil como sede. O que a Fifa parece querer é pior ainda do que se está fazendo por aqui. A entidade quer eliminar o meio ingresso para estudantes e idosos, algo que, correto ou não, representa direitos conquistados. O governo enfatiza esse detalhe da disputa com a Fifa porque sabe que o deixa bem com a opinião pública.
Outros anéis já se foram, sem grandes protestos. O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), denunciado pela Procuradoria-Geral da República, foi o primeiro grande passo para conformar a legislação brasileira ao desígnios dos que se querem aproveitar da Copa. E o relator do projeto do novo Código Florestal no Senado, Luiz Henrique (PMDB-SC), afirmou que seria introduzida uma emenda no projeto permitindo desmatar para obras da Copa. O Brasil tem pressa, disse ele.
Quando se trata de conformar uma legislação aos seus desígnios, o Brasil deles tem pressa. Quando se trata de avançar com obras essenciais para a Copa, o Brasil deles é devagar. Aparentemente, são movimentos contraditórios, mas no fundo se complementam: mais pressa significa menos controle sobre os gastos.
Estou convencido de que muitos desses gastos são irracionais.
No capítulo dos estádios esportivos, tenho mencionado dois exemplos: o do Maracanã, no Rio, e o do Machadão, em Natal. Só para a reforma do Maracanã o governador Sérgio Cabral pretendia gastar quase R$ 1 bilhão. O Tribunal de Contas apertou o controle e conseguiu abater R$ 84 milhões. O governo do Rio, que esta semana contraiu um empréstimo de US$ 126,6 milhões com o Banco Interamericano, resolveu fazer marketing e reduziu mais R$ 80 milhões no custo do Maracanã. O mecanismo foi sutil: isentar de ICMS o material de construção destinado à obra, construída pela empresa Delta, de Fernando Cavendish, amigo de Cabral. Nem os fluminenses nem sua imprensa se deram conta, na plenitude, de que estavam sendo enganados: os custos são os mesmos, mas pagos de forma diferente.
Tudo foi feito em concordância com a legislação federal que também isenta estádios de alguns impostos. A conta da Copa ficará um pouco como as pessoas cujas fotos são processados no Photoshop e parecem ter 10 kg a menos.
O caso do Machadão, em Natal, que se vai chamar Arena das Dunas, também é típico. O estádio será reconstruído para ampliar sua capacidade. Pesquisas sobre sua trajetória indicam que só lotou uma vez, durante a visita do papa João Paulo II. Suponhamos que a ampliação sirva aos jogos da Copa. Mas, e depois? Teríamos de esperar nova visita de um papa para encher o estádio outra vez.
A solução para os aeroportos também me parece irracional. O aumento do número de passageiros das linhas aéreas é constante no País. Com ou sem Copa, precisamos de novos aeroportos. A solução apresentada: construir terminais provisórios. Se há uma necessidade estratégica de crescimento, o arranjo provisório atrasaria a solução definitiva e drenaria parte dos seus recursos. Serviria à Copa e aos torcedores, mas atrasaria o passo de novas levas de viajantes.
As famosas obras de mobilidade urbana não serão concluídas. O empenho na construção do trem-bala parece maior do que a preocupação com as massas metropolitanas que, às vezes, passam quatro horas do dia se deslocando de casa para o trabalho e vice-versa. A solução para esse complexo problema já foi anunciada pela ministra Miriam Belchior: sai o legado, entra o feriado. Nos dias de jogo, as cidades param e o Brasil arca com um imenso prejuízo, sentido na carne pelos trabalhadores autônomos.
Nunca se falou tanto em transparência quanto na época em que o Brasil foi escolhido para sediar a Copa e a Olimpíada. Políticos de vários horizontes formaram comissões, ONGs se posicionaram no front da vigilância e, no entanto, os dados não aparecem com toda a sua clareza. O empréstimo de US$ 126,6 milhões no exterior e a redução de custos no Maracanã com base em isenção de impostos são faces de um drama que escapa até aos grandes órgãos de comunicação do Rio, siderados com os lucros que a Copa lhes trará.
Porém a vida continua no seu implacável ritmo. A insensatez joga em inúmeras posições, mas os governantes calculam que os prejuízos serão recompensados por uma vitória nacional no futebol. Em caso de derrota e insatisfação, há sempre o recurso de mais um feriado para aplacar a fúria.
A proposta do Brasil é sediar a Copa do Mundo para projetar sua nova importância internacional. Para essa tarefa estratégica a interface cosmopolita do País são os Ministérios do Esporte e do Turismo. O primeiro é dirigido pelo Partido Comunista do Brasil, que há alguns anos era fascinado pela experiência da Albânia. O segundo é feudo do senador José Sarney e procura atender, prioritariamente, ao Maranhão, um belo Estado, porém mantido no atraso pelos seus dirigentes.
Os patriotas que me perdoem, mas não posso repetir o slogan do McDonald's, amo muito tudo isso. E já vai muito longe o tempo em que o dilema, pela força da repressão, era amar ou deixar.
Nos tempos democráticos, é preciso demonstrar a racionalidade das ações do governo. E a Copa do Mundo de 2014 pode ser a amarga taça da improvisação e cobiça na qual bebem apenas políticos empresários.
Comentário: Para quem ainda não viu, eis o link para meu vídeo sobre este assunto.[image error]
Published on September 30, 2011 08:26
A calcinha de Gisele Bündchen

Rodrigo Constantino, para o Instituto Liberal
O que não faltam são temas importantes para este Comentário: o massacre corporativista que vem sofrendo a juíza Eliana Calmon, que teve a coragem de afirmar a existência de "bandidos de toga"; as ininterruptas lambanças do governo na área econômica; o lançamento do novo partido de Kassab, pregando, de forma um tanto irresponsável, uma nova Constituinte; e as mudanças na Polícia Militar carioca por conta dos escândalos de corrupção. Mas, como o meu Comentário do Dia é sempre em uma sexta-feira, prefiro escolher assunto mais leve. Vou falar da censura ao novo comercial da modelo Gisele Bündchen.
Ainda que o tema pareça ter menos relevância que os demais, creio que as pequenas coisas expõem até melhor os sintomas de uma sociedade doente. Quando chegamos ao ponto em que o governo se imiscui até em assuntos como este, censurando uma propaganda só porque retrata, de maneira irônica, uma ululante realidade – qual seja, o poder que a beleza feminina exerce sobre os homens desde sempre –, então é porque estamos perdidos mesmo!
A Secretaria de Políticas para as Mulheres resolveu brigar com o estereótipo da mulher gostosa que seduz o marido. No comercial, Gisele mostra que a forma "correta" para dar uma má notícia, como a batida do carro, deve ser com o corpo seminu. As feministas logo acusaram o golpe. Um absurdo! Machismo! O que elas nem sequer perceberam é que tal campanha denigre a imagem do homem, mais do que da mulher. Retrata o macho humano como pouco mais que um gorila babão, um ser autômato que canaliza toda a circulação sanguínea para a região pélvica do corpo. Como se tudo que importasse para nós fosse a forma física de Angelina Jolie, e não suas fantásticas idéias políticas...
O feminismo é uma chatice só. Geralmente, coisa de mulher mal amada, encalhada e invejosa, que detesta a beleza alheia. Eu estou com Vinícius, que pediu perdão às feias, mas defendeu que a beleza é fundamental. Deixem a Gisele em paz, desfilando suas lindas curvas na TV. Se tem algo que talvez devesse ser proibido, seria seu desfile do biquíni com a estampa do assassino Che Guevara. Algo análogo a desfilar com uma suástica nazista. Mas, mesmo neste caso extremo, sou pela tolerância. As belas e as néscias, muitas vezes uma só pessoa, têm total direito de mostrar ao mundo sua beleza e sua estultice. Não à censura![image error]
Published on September 30, 2011 07:03
Dólar: o império contra-ataca e o retorno de Jedi
Rodrigo Constantino, Valor Econômico
O dólar poderia dizer, parafraseando Mark Twain, que os anúncios de sua morte foram bastante exagerados. Não faltam pessoas alertando sobre o iminente "crash" da moeda americana. Como ocorre em quase toda profecia alarmista, existem bons argumentos para justificá-la. Mas, em tempos de crise, não tem jeito: é para o dólar que todos correm.
Essa fuga para a "qualidade" é, na verdade, uma fuga para a liquidez. Afinal, ninguém pode dizer que a economia americana apresenta boa saúde atualmente. O rombo fiscal segue em patamares elevados e as disputas políticas dificultam acordos razoáveis para reverter a situação. Além disso, o Fed continua adotando medidas expansionistas que tendem a desvalorizar o dólar.
Acontece que reserva de valor é um conceito relativo. O dólar não é bonito, mas ainda se sobressai nesse concurso de feiura internacional. É verdade que a economia americana vem perdendo espaço no mundo. Também é verdade que as medidas do Fed colocam o futuro da moeda em xeque. Mas, em contrapartida, não existem substitutos com as características necessárias para rivalizar com o dólar no momento.
E quais são essas características? Primeiro, o país que emite a moeda deve ser grande, rico e ter perspectiva de crescimento econômico à frente. Além disso, é importante ter um razoável império da lei, para proteger os investidores de confiscos arbitrários. Um poderio militar ajuda. Quando a Inglaterra perdeu seu status de grande potência, a libra iniciou uma tendência estrutural de queda. E, talvez um dos pontos mais importantes, faz-se necessário um desenvolvido sistema bancário, com farta liquidez nos mercados.
Quando levamos isso em conta, fica mais fácil compreender porque o dólar não deve ser "destronado" em breve. Quem seria o candidato a substituí-lo? O euro é uma moeda sem Estado, que depende do consenso entre 17 países, sendo que todos dependem da solidez da Alemanha, cujos cidadãos terão que aceitar bancar a conta dos demais. A complicação política é enorme na região, justamente porque o euro é um projeto de integração artificial entre países que apresentam poucas afinidades ideológicas.
Já o remimbi chinês é uma moeda com muito Estado. A China parece a candidata natural para assumir a hegemonia monetária. Mas existem sérios problemas estruturais, a começar pelo pouco desenvolvido sistema bancário. A China usa seus bancos estatais para canalizar investimentos com viés político, mirando a criação de empregos num país em constante tensão social. Nada indica que o governo pretende abrir mão deste controle no curto prazo, e isso impede o livre funcionamento do sistema monetário.
O governo tem deixado clara sua intenção de internacionalizar o remimbi, pois percebe o risco de ser refém do dólar. Mas tudo na China é gradual, e este caso não será diferente. Seria um tiro no pé vender seus trilhões de dólares rapidamente. Além disso, não podemos esquecer que o país ainda vive sob uma ditadura. Os investidores não vão migrar em peso para o remimbi, pois seria impossível não perder o sono. A moeda chinesa tem tudo para ganhar relevância com o tempo, mas ainda é cedo para ser uma alternativa concreta ao dólar.
A outra grande economia mundial, a japonesa, encontra-se em crise há duas décadas, e não há luz no fim do túnel. Troca-se de primeiro-ministro com frequência, as reformas necessárias não andam, e o endividamento público passa de 200% do PIB. O iene acaba se valorizando em crises, pois os japoneses poupadores decidem repatriar seus investimentos mundo afora. Mas a moeda vem perdendo representatividade, e isso não deve mudar.
Restam moedas de países menores, que não oferecem liquidez suficiente para todos os investidores. Canadá, Austrália e Brasil são exemplos claros. O franco suíço, visto como um porto seguro, sofreu bastante após seu banco central decidir intervir no mercado, fixando seu teto em relação ao euro. O ouro é sempre um candidato em tempos de crise, mas a recente queda abrupta mostra como a porta de saída é apertada quando grandes players resolvem vendê-lo para levantar dólares.
Em suma, pode ser que o mundo caminhe para uma maior diversidade de moedas como reserva de valor, derrubando o "exorbitante privilégio" do dólar. Mas não se enganem: quando a crise aperta, há um único refúgio, e este ainda é o dólar. Quem está pessimista com o desenrolar desta crise deve se lembrar da velha máxima de mercado: "cash is king". E o rei ainda é o dólar, ao menos até o Fed resolver apelar para um terceiro "quantitative easing"...
Rodrigo Constantino; é sócio da Graphus Capital[image error]
O dólar poderia dizer, parafraseando Mark Twain, que os anúncios de sua morte foram bastante exagerados. Não faltam pessoas alertando sobre o iminente "crash" da moeda americana. Como ocorre em quase toda profecia alarmista, existem bons argumentos para justificá-la. Mas, em tempos de crise, não tem jeito: é para o dólar que todos correm.
Essa fuga para a "qualidade" é, na verdade, uma fuga para a liquidez. Afinal, ninguém pode dizer que a economia americana apresenta boa saúde atualmente. O rombo fiscal segue em patamares elevados e as disputas políticas dificultam acordos razoáveis para reverter a situação. Além disso, o Fed continua adotando medidas expansionistas que tendem a desvalorizar o dólar.
Acontece que reserva de valor é um conceito relativo. O dólar não é bonito, mas ainda se sobressai nesse concurso de feiura internacional. É verdade que a economia americana vem perdendo espaço no mundo. Também é verdade que as medidas do Fed colocam o futuro da moeda em xeque. Mas, em contrapartida, não existem substitutos com as características necessárias para rivalizar com o dólar no momento.
E quais são essas características? Primeiro, o país que emite a moeda deve ser grande, rico e ter perspectiva de crescimento econômico à frente. Além disso, é importante ter um razoável império da lei, para proteger os investidores de confiscos arbitrários. Um poderio militar ajuda. Quando a Inglaterra perdeu seu status de grande potência, a libra iniciou uma tendência estrutural de queda. E, talvez um dos pontos mais importantes, faz-se necessário um desenvolvido sistema bancário, com farta liquidez nos mercados.
Quando levamos isso em conta, fica mais fácil compreender porque o dólar não deve ser "destronado" em breve. Quem seria o candidato a substituí-lo? O euro é uma moeda sem Estado, que depende do consenso entre 17 países, sendo que todos dependem da solidez da Alemanha, cujos cidadãos terão que aceitar bancar a conta dos demais. A complicação política é enorme na região, justamente porque o euro é um projeto de integração artificial entre países que apresentam poucas afinidades ideológicas.
Já o remimbi chinês é uma moeda com muito Estado. A China parece a candidata natural para assumir a hegemonia monetária. Mas existem sérios problemas estruturais, a começar pelo pouco desenvolvido sistema bancário. A China usa seus bancos estatais para canalizar investimentos com viés político, mirando a criação de empregos num país em constante tensão social. Nada indica que o governo pretende abrir mão deste controle no curto prazo, e isso impede o livre funcionamento do sistema monetário.
O governo tem deixado clara sua intenção de internacionalizar o remimbi, pois percebe o risco de ser refém do dólar. Mas tudo na China é gradual, e este caso não será diferente. Seria um tiro no pé vender seus trilhões de dólares rapidamente. Além disso, não podemos esquecer que o país ainda vive sob uma ditadura. Os investidores não vão migrar em peso para o remimbi, pois seria impossível não perder o sono. A moeda chinesa tem tudo para ganhar relevância com o tempo, mas ainda é cedo para ser uma alternativa concreta ao dólar.
A outra grande economia mundial, a japonesa, encontra-se em crise há duas décadas, e não há luz no fim do túnel. Troca-se de primeiro-ministro com frequência, as reformas necessárias não andam, e o endividamento público passa de 200% do PIB. O iene acaba se valorizando em crises, pois os japoneses poupadores decidem repatriar seus investimentos mundo afora. Mas a moeda vem perdendo representatividade, e isso não deve mudar.
Restam moedas de países menores, que não oferecem liquidez suficiente para todos os investidores. Canadá, Austrália e Brasil são exemplos claros. O franco suíço, visto como um porto seguro, sofreu bastante após seu banco central decidir intervir no mercado, fixando seu teto em relação ao euro. O ouro é sempre um candidato em tempos de crise, mas a recente queda abrupta mostra como a porta de saída é apertada quando grandes players resolvem vendê-lo para levantar dólares.
Em suma, pode ser que o mundo caminhe para uma maior diversidade de moedas como reserva de valor, derrubando o "exorbitante privilégio" do dólar. Mas não se enganem: quando a crise aperta, há um único refúgio, e este ainda é o dólar. Quem está pessimista com o desenrolar desta crise deve se lembrar da velha máxima de mercado: "cash is king". E o rei ainda é o dólar, ao menos até o Fed resolver apelar para um terceiro "quantitative easing"...
Rodrigo Constantino; é sócio da Graphus Capital[image error]
Published on September 30, 2011 05:29
September 29, 2011
Last Chance to Save the Euro

By JOHN H. COCHRANE, WSJ
The European debt discussions always paint the alternatives as either bail out countries (really, bail out their bondholders) or break up the euro. In fact, the euro and the European economic union would be stronger if countries can default. For that reason, I advocated letting Greece go a year and a half ago when the crisis first erupted.
That chance to save the euro is fading. The European Central Bank (ECB) has bought sovereign debt from Greece, Portugal, Ireland, Italy and Spain. It has lent even more money to banks whose main asset is the same sovereign debt. Deposits are fleeing those countries' banks, and lending from the ECB is making up the difference.
Bank regulation is making the situation worse: Banks carry most of the ECB and sovereign debt at face value. And their own governments are pressuring banks to buy more sovereign debt.
When the defaults come, the ECB will take a big hit. Then Germany and the others will be faced with an awful choice: Pony up trillions to "recapitalize" the central bank or abandon the euro along with the union it represents.
"Eurobonds" that would be issued to buy sovereign debt, backed by EU-wide taxes, have been suggested but aren't going anywhere in the face of taxpayer resistance. In reality, Eurobonds have already been issued—they are called euros. The countries of the European Union are already pledged to make up any capital loss of the European Central Bank, and this must eventually come from tax revenues. That's the same as paying off Eurobonds.
The central bank doves and their defenders deny this is a problem. They say the ECB got collateral from banks. They say it "sterilized" the bond purchases, by selling high quality bonds to buy poor ones, so the total supply of euros did not increase. They think that euros will stay outstanding forever so central-bank capital does not matter.
But the ECB's collateral is the same sovereign debt that upon default will bring down the banks. If collateral evaporates on the same day as the loan, it's not collateral. "Sterilizing" is a mirage, and central-bank capital matters. When the ECB needs to raise rates or contract the money supply, it needs assets to sell to soak up euros. And if currency holders know the central bank is empty, they will run away from euros, so that need to buy euros may come quickly.
The ECB involvement has only just begun. Last weekend's bright idea is to "leverage" the €440 billion bailout fund by borrowing from the ECB, and using the fund to insure debt rather than to buy it. In this way the fund could "support" trillions of euros of debt. But risk can only be transferred; it does not evaporate. And the risk ends up at the ECB and, ultimately, with taxpayers.
This sort of scheme should sound familiar from the financial crisis. Take a fund designed to buy bonds, and goose its credit exposure by leveraging and writing credit default swaps (bond insurance) instead. This move just explodes the ECB's already large lending against rotten collateral.
German Finance Minister Wolfgang Schauble saw through the scheme quickly, calling it a "stupid idea" that would "endanger the AAA sovereign debt rating" of other member states. I think he misspoke a bit. The goal is stupid, but it takes clever financial engineering to turn a €440 billion fund into several trillions of credit exposure.
And we can forecast more. What happens, say, when an Italian bond auction fails? The German taxpayer is unlikely to stand for direct government purchase, so the politicians will surely decide that the only immediate choice is for the ECB to provide what they will call "bridge financing."
Europe's deepest problem is bad ideas. Unpleasant price movements represent "illiquidity," "speculators," "market manipulation," "lack of confidence" and "contagion," not the hard reality of looming default. The point of policy is to "calm markets" and "provide confidence"—not to solve financial problems.
When the price of bread rose in their revolution, the French took bakers to the guillotine. They got more inflation, and less bread. When their descendants saw bond prices falling, they passed restrictions on short sales. They got lower prices, and less liquidity.
This is not a temporary market dislocation. This debt will not be paid back. Greece and the others might well rather default. Cleared of past debt, like Argentina, they are likely to be able to borrow again soon. These countries surely don't want austerity. And least of all do their political classes want to reform their great-scam states—there is pervasive rot in an economy where every occupational license is a political favor—though reform is the one thing that could actually return them to strong growth and let them pay back debt.
Facing global markets might be enough pressure for them to reform. Facing the International Monetary Fund and the ECB is surely not.
The euro, and the economic integration that goes with it, must be saved (political, regulatory, bureaucratic, and fiscal integration less so). Greece has 11 million people, about the same as the Los Angeles metro area, and a $320 billion gross domestic product, about the same as Maryland. It needs its own currency—and to rely on periodic devaluation of that currency for competitiveness—like a hole in the head. That road leads to trade and capital isolation.
The worst idea of all is that Europe's admirable economic free trade zone and currency union cannot survive a sovereign default. It is precisely allowing sovereign default, and isolating the central bank from sovereign default, that is the only way to keep the union together. That is, after all, how the euro was set up in the first place. It's almost too late. But not quite.
Mr. Cochrane is a professor of finance at the University of Chicago Booth School of Business and an adjunct scholar of the Cato Institute.[image error]
Published on September 29, 2011 05:29
September 28, 2011
Lula é aclamado em Paris
Agência Estado
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma recepção de pop star hoje, em Paris, durante a cerimônia de entrega do título de doutor honoris causa pelo Instituto de Estudos Políticos (Sciences-Po), o maior da França. Em seu discurso, o ex-chefe de Estado enalteceu o próprio mandato e multiplicou os conselhos aos líderes políticos da Europa, que atravessa uma forte crise econômica. Antes, durante e depois, Lula foi ovacionado por estudantes brasileiros, na mais calorosa recepção da escola desde Mikhail Gorbachev.
A cerimônia foi realizada do auditório do instituto, com a presença de acadêmicos franceses e de quatro ex-ministros de seu governo: José Dirceu, Luiz Dulci, Márcio Thomaz Bastos e Carlos Lupi. Vestido de toga, o ex-presidente chegou à sala por volta de 17h30min, acompanhado de uma batucada promovida por estudantes. Ao entrar no auditório, foi aplaudido em pé pela plateia, aos gritos de "Olé, Lula".
Em seguida, tornou-se o primeiro latino-americano a receber o título da Sciences-Po, já concedido a líderes políticos como o tcheco Vaclav Havel. Em seu discurso, o diretor do instituto, Richard Descoings, se disse "entusiasta" das conquistas obtidas pelo Brasil no mandato do petista. "O senhor lutou para que o Brasil alcançasse um novo patamar internacional", disse, completando: "Não é mais possível tratar de um assunto global sem que as autoridades brasileiras sejam consultadas".
Autor do "elogio" a Lula - o discurso em homenagem ao novo doutor -, o economista Jean-Claude Casanova, presidente da Fundação Nacional de Ciências Políticas, lamentou que a Europa não tenha um líder "de trajetória política tão iluminada". Casanova pediu ainda que Lula aproveitasse "sua viagem para dar conselhos aos europeus" sobre gestão de dívida, déficit e crescimento econômico.
Conselhos e euforia
Lula aceitou o desafio e encarnou o conselheiro. Em um discurso de 40 minutos, citou avanços de seu governo, citando a criação de empregos, a redução da miséria, o aumento do salário mínimo e a criação do bolsa família e elogiou sua sucessora, Dilma Rousseff. "Não conheço um governo que tenha exercido a democracia como nós exercemos", afirmou, no tom ufanista que lhe é característico.
Então, lançou-se aos conselhos. Primeiro criticou "uma geração de líderes" mundiais que "passou muito tempo acreditando no mercado, em Reagan e Tatcher", e recomendou aos líderes da União Europeia que assumam as rédeas da crise com intervenções políticas, e não mais decisões econômicas. "Não é a hora de negar a política. A União Europeia é um patrimônio da humanidade", reiterou.
Na saída, estudantes cantaram a música Para não dizer que não falei de flores, de Geraldo Vandré, e se acotovelaram aos gritos por fotos e autógrafos do ex-presidente, que não falou à imprensa. Impressionado com a euforia dos estudantes, Descoings comparou, em conversa com o Estado: "A última vez que vi isso foi com Gorbachev, há cinco ou seis anos. Mas com Lula foi ainda mais caloroso".
Comentário: Depois perguntam porque tenho tanta implicância com os franceses... à exceção de alguns grandes pensadores, como Voltaire, Alexis de Tocqueville, Frederic Bastiat e mais recentemente Jean-François Revel, a verdade é que a França costuma ser mesmo um berço para idéias elitistas e absurdas. Sartre era idolatrado em Paris, enquanto ele próprio idolatrava o regime assassino de Mao Tse Tung. Onde acham que o marxismo encontrou solo fértil? Exato! Em Sorbonne. Onde acham que os "intelectuais" do Khmer Vermelho, que destroçou o Camboja, estudaram? Na França, claro! E eis que agora Lula é recebido por lá como pop star, ídolo, herói, para receber seu "doutorado". Fala sério...[image error]
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma recepção de pop star hoje, em Paris, durante a cerimônia de entrega do título de doutor honoris causa pelo Instituto de Estudos Políticos (Sciences-Po), o maior da França. Em seu discurso, o ex-chefe de Estado enalteceu o próprio mandato e multiplicou os conselhos aos líderes políticos da Europa, que atravessa uma forte crise econômica. Antes, durante e depois, Lula foi ovacionado por estudantes brasileiros, na mais calorosa recepção da escola desde Mikhail Gorbachev.
A cerimônia foi realizada do auditório do instituto, com a presença de acadêmicos franceses e de quatro ex-ministros de seu governo: José Dirceu, Luiz Dulci, Márcio Thomaz Bastos e Carlos Lupi. Vestido de toga, o ex-presidente chegou à sala por volta de 17h30min, acompanhado de uma batucada promovida por estudantes. Ao entrar no auditório, foi aplaudido em pé pela plateia, aos gritos de "Olé, Lula".
Em seguida, tornou-se o primeiro latino-americano a receber o título da Sciences-Po, já concedido a líderes políticos como o tcheco Vaclav Havel. Em seu discurso, o diretor do instituto, Richard Descoings, se disse "entusiasta" das conquistas obtidas pelo Brasil no mandato do petista. "O senhor lutou para que o Brasil alcançasse um novo patamar internacional", disse, completando: "Não é mais possível tratar de um assunto global sem que as autoridades brasileiras sejam consultadas".
Autor do "elogio" a Lula - o discurso em homenagem ao novo doutor -, o economista Jean-Claude Casanova, presidente da Fundação Nacional de Ciências Políticas, lamentou que a Europa não tenha um líder "de trajetória política tão iluminada". Casanova pediu ainda que Lula aproveitasse "sua viagem para dar conselhos aos europeus" sobre gestão de dívida, déficit e crescimento econômico.
Conselhos e euforia
Lula aceitou o desafio e encarnou o conselheiro. Em um discurso de 40 minutos, citou avanços de seu governo, citando a criação de empregos, a redução da miséria, o aumento do salário mínimo e a criação do bolsa família e elogiou sua sucessora, Dilma Rousseff. "Não conheço um governo que tenha exercido a democracia como nós exercemos", afirmou, no tom ufanista que lhe é característico.
Então, lançou-se aos conselhos. Primeiro criticou "uma geração de líderes" mundiais que "passou muito tempo acreditando no mercado, em Reagan e Tatcher", e recomendou aos líderes da União Europeia que assumam as rédeas da crise com intervenções políticas, e não mais decisões econômicas. "Não é a hora de negar a política. A União Europeia é um patrimônio da humanidade", reiterou.
Na saída, estudantes cantaram a música Para não dizer que não falei de flores, de Geraldo Vandré, e se acotovelaram aos gritos por fotos e autógrafos do ex-presidente, que não falou à imprensa. Impressionado com a euforia dos estudantes, Descoings comparou, em conversa com o Estado: "A última vez que vi isso foi com Gorbachev, há cinco ou seis anos. Mas com Lula foi ainda mais caloroso".
Comentário: Depois perguntam porque tenho tanta implicância com os franceses... à exceção de alguns grandes pensadores, como Voltaire, Alexis de Tocqueville, Frederic Bastiat e mais recentemente Jean-François Revel, a verdade é que a França costuma ser mesmo um berço para idéias elitistas e absurdas. Sartre era idolatrado em Paris, enquanto ele próprio idolatrava o regime assassino de Mao Tse Tung. Onde acham que o marxismo encontrou solo fértil? Exato! Em Sorbonne. Onde acham que os "intelectuais" do Khmer Vermelho, que destroçou o Camboja, estudaram? Na França, claro! E eis que agora Lula é recebido por lá como pop star, ídolo, herói, para receber seu "doutorado". Fala sério...[image error]
Published on September 28, 2011 11:54
País dos impostos complicados
Editorial do Estadão
O Brasil é campeão mundial de complicação no pagamento de impostos e contribuições. O peso dos encargos - dos mais altos do mundo - é só um dos problemas suportados pelas empresas, quando têm de cuidar da tributação. Além de pesados, os tributos são incompatíveis com a inserção global da economia, porque encarecem toda a atividade empresarial, desde o investimento em máquinas e instalações até a exportação ou a venda final no mercado interno. Tanto no exterior quanto no País, o produtor nacional fica em desvantagem diante do concorrente estrangeiro. Essas características bastariam para fazer do sistema brasileiro um dos piores do planeta. Mas há mais que isso.
As companhias gastam muitas horas de trabalho só para acompanhar e decifrar as mudanças de regras e para seguir todos os trâmites necessários ao cumprimento de suas obrigações. É muita mão de obra desperdiçada numa atividade custosa e sem retorno, tanto para a empresa como para a economia nacional.
As empresas brasileiras gastam em média 2.600 horas por ano com os procedimentos necessários para cumprir as normas tributárias. Isso equivale a 325 jornadas de 8 horas. Foi o pior desempenho nesse quesito identificado em pesquisa anual da consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC) em colaboração com o Banco Mundial (Paying Taxes 2011). Segundo o levantamento, realizado em 183 países, o tempo médio gasto para o cumprimento das normas tributárias é de 282 horas, ou 35 dias de trabalho. O tempo despendido no Brasil é mais que o dobro do consumido no segundo país em pior situação, a Bolívia - 1.080 horas. No Chile, frequentemente classificado como o país mais competitivo da América Latina, gastam-se 316 horas. Na França, 132. Na Alemanha, 215. Nos Estados Unidos, 187. Na Índia, 258. Na China, segunda maior economia do mundo, 398.
O tempo consumido no Brasil para o cumprimento das obrigações se mantém desde 2006. Nesse período, houve reformas tributárias em 60% dos países cobertos pela pesquisa, os sistemas foram aperfeiçoados, tornaram-se menos onerosos e, além disso, os procedimentos foram simplificados. Na média, o peso dos tributos caiu 5%, o tempo de trabalho ficou cinco dias menor. Também houve redução no número de pagamentos efetuados. Na média, cerca de quatro recolhimentos foram eliminados.
Na China, a unificação de procedimentos contábeis e o maior uso de meios eletrônicos permitiram às empresas poupar 368 horas de trabalho e 26 pagamentos por ano. Na América Latina os procedimentos continuam complexos, mas, apesar disso, as empresas dedicam em média 385 horas à administração dos impostos, apenas 14,8% do tempo consumido no Brasil. Houve descomplicação das tarefas em vários países da região, segundo a pesquisa. No Brasil, as mudanças foram insignificantes. Quanto às economias mais avançadas, operam, de modo geral, com sistemas bem mais simples. Também isso contribui para a competitividade de suas empresas.
Pelo menos num ponto a situação brasileira é semelhante à da maior parte dos demais países. O imposto sobre valor agregado (IVA) complica sensivelmente os procedimentos administrativos das empresas. De modo geral, o pagamento do Imposto de Renda é muito menos trabalhoso que o recolhimento das várias contribuições e do IVA (no Brasil, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, cobrado pelos Estados). A empresa brasileira gasta em média 736 horas para cuidar do Imposto de Renda, 490 para administrar os encargos trabalhistas e 1.374 para cumprir as normas dos impostos sobre consumo (principalmente dos Estados).
O caso do ICMS é especialmente complicado, porque as empresas têm de observar 27 legislações estaduais, com diferentes alíquotas, condições de recolhimento e incentivos. Se não houvesse várias outras, esta já seria uma excelente razão para a reforma do sistema. Conseguir o apoio dos governos estaduais, no entanto, tem sido um dos principais obstáculos à racionalização do sistema. Enquanto isso, outros países simplificam, reduzem a carga e ganham capacidade de competir.[image error]
O Brasil é campeão mundial de complicação no pagamento de impostos e contribuições. O peso dos encargos - dos mais altos do mundo - é só um dos problemas suportados pelas empresas, quando têm de cuidar da tributação. Além de pesados, os tributos são incompatíveis com a inserção global da economia, porque encarecem toda a atividade empresarial, desde o investimento em máquinas e instalações até a exportação ou a venda final no mercado interno. Tanto no exterior quanto no País, o produtor nacional fica em desvantagem diante do concorrente estrangeiro. Essas características bastariam para fazer do sistema brasileiro um dos piores do planeta. Mas há mais que isso.
As companhias gastam muitas horas de trabalho só para acompanhar e decifrar as mudanças de regras e para seguir todos os trâmites necessários ao cumprimento de suas obrigações. É muita mão de obra desperdiçada numa atividade custosa e sem retorno, tanto para a empresa como para a economia nacional.
As empresas brasileiras gastam em média 2.600 horas por ano com os procedimentos necessários para cumprir as normas tributárias. Isso equivale a 325 jornadas de 8 horas. Foi o pior desempenho nesse quesito identificado em pesquisa anual da consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC) em colaboração com o Banco Mundial (Paying Taxes 2011). Segundo o levantamento, realizado em 183 países, o tempo médio gasto para o cumprimento das normas tributárias é de 282 horas, ou 35 dias de trabalho. O tempo despendido no Brasil é mais que o dobro do consumido no segundo país em pior situação, a Bolívia - 1.080 horas. No Chile, frequentemente classificado como o país mais competitivo da América Latina, gastam-se 316 horas. Na França, 132. Na Alemanha, 215. Nos Estados Unidos, 187. Na Índia, 258. Na China, segunda maior economia do mundo, 398.
O tempo consumido no Brasil para o cumprimento das obrigações se mantém desde 2006. Nesse período, houve reformas tributárias em 60% dos países cobertos pela pesquisa, os sistemas foram aperfeiçoados, tornaram-se menos onerosos e, além disso, os procedimentos foram simplificados. Na média, o peso dos tributos caiu 5%, o tempo de trabalho ficou cinco dias menor. Também houve redução no número de pagamentos efetuados. Na média, cerca de quatro recolhimentos foram eliminados.
Na China, a unificação de procedimentos contábeis e o maior uso de meios eletrônicos permitiram às empresas poupar 368 horas de trabalho e 26 pagamentos por ano. Na América Latina os procedimentos continuam complexos, mas, apesar disso, as empresas dedicam em média 385 horas à administração dos impostos, apenas 14,8% do tempo consumido no Brasil. Houve descomplicação das tarefas em vários países da região, segundo a pesquisa. No Brasil, as mudanças foram insignificantes. Quanto às economias mais avançadas, operam, de modo geral, com sistemas bem mais simples. Também isso contribui para a competitividade de suas empresas.
Pelo menos num ponto a situação brasileira é semelhante à da maior parte dos demais países. O imposto sobre valor agregado (IVA) complica sensivelmente os procedimentos administrativos das empresas. De modo geral, o pagamento do Imposto de Renda é muito menos trabalhoso que o recolhimento das várias contribuições e do IVA (no Brasil, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, cobrado pelos Estados). A empresa brasileira gasta em média 736 horas para cuidar do Imposto de Renda, 490 para administrar os encargos trabalhistas e 1.374 para cumprir as normas dos impostos sobre consumo (principalmente dos Estados).
O caso do ICMS é especialmente complicado, porque as empresas têm de observar 27 legislações estaduais, com diferentes alíquotas, condições de recolhimento e incentivos. Se não houvesse várias outras, esta já seria uma excelente razão para a reforma do sistema. Conseguir o apoio dos governos estaduais, no entanto, tem sido um dos principais obstáculos à racionalização do sistema. Enquanto isso, outros países simplificam, reduzem a carga e ganham capacidade de competir.[image error]
Published on September 28, 2011 10:50
Every Job Requires an Entrepreneur
By CHARLES R. SCHWAB, WSJ
In his speech before a joint session of Congress on Sept. 8, President Obama said, "Ultimately, our recovery will be driven not by Washington, but by our businesses and our workers."
He is right. We can spark an economic recovery by unleashing the job-creating power of business, especially small entrepreneurial businesses, which fuel economic and job growth quickly and efficiently. Indeed, it is the only way to pull ourselves out of this economic funk.
But doing so will require a consistent voice about confidence in businesses—small, large and in between. We cannot spend our way out of this. We cannot tax our way out of this. We cannot artificially stimulate our way out of this. We cannot regulate our way out of this. Shaming the successful or redistributing income won't get us out of this. We cannot fund our government coffers by following the "Buffett Rule," i.e., raising taxes on Americans earning more than $1 million a year.
What we can do—and absolutely must—is knock down all hurdles that create disincentives for investment in business.
Private enterprise works. I founded Charles Schwab in 1974, when America was confronting a crisis of confidence similar to today's. We had rapidly rising inflation and unemployment, economic growth grinding into negative territory, and paralyzed markets. The future looked pretty bleak.
Sound familiar?
Yet I had faith that our economy would recover. My vision was simple: Investors deserve something better than the status quo. I launched the company with four employees, a personal loan on my home, and an audacious dream. I didn't know exactly how we were going to do it, nor could I foresee that over the decades we would end up building a business that serves over 10 million accounts. But we went for it.
What's the potential power of the entrepreneur's simple leap of faith? The success of a single business has a significant payoff for the economy. Looking back over the 25 years since our company went public, Schwab has collectively generated $68 billion in revenue and $11 billion in earnings. We've paid $28 billion in compensation and benefits, created more than 50,000 jobs, and paid more than $6 billion in aggregate taxes. In addition to the current value of our company, we've returned billions of dollars in the form of dividends and stock buybacks to shareholders, including unions, pension funds and mom-and-pop investors.
The wealth created for our shareholders—a great many of them average Schwab employees—has been used to reinvest in existing and new businesses and has funded a myriad of philanthropic activities. We've also spent billions buying services and products from other companies in a diverse set of industries, from technology to communications to real estate to professional services, thereby helping our suppliers create businesses and jobs.
That's the story of one company. There are thousands more like it, and a consistent supportive voice from Washington could enable thousands more ahead.
The simple fact is that every business in America was started by an entrepreneur, whether it is Ford Motor Co., Google or your local dry cleaner. Every single job that entrepreneur creates requires an investment. And at its core, investing requires confidence that despite the risks, despite the hard work that will certainly ensue, the basic rules of the game are clear and stable. Today's uncertainty on these issues—stemming from a barrage of new complex regulations and legislation—is a roadblock to investment. We have to clear that uncertainty away.
As we did after 1974, our country can and will thrive again. But the leaders of both parties, Republicans and Democrats alike, must lend their voices to encourage and support private enterprise, both for what it can do to turn our economy around and for the spirit of opportunity it represents.
They need to review every piece of existing legislation and regulation with a clear eye to what impact it will have on business and growth. If something is a job killer, put a moratorium on it. Stop adding to the litany of new laws and regulations until we've had time to digest those in place and regain some certainty about the future. Proposed laws and regulations should be put to a simple test: What will this do to encourage businesses and entrepreneurs to invest? What will it do for jobs?
Mr. Schwab is founder and chairman of the Charles Schwab Corporation. [image error]
In his speech before a joint session of Congress on Sept. 8, President Obama said, "Ultimately, our recovery will be driven not by Washington, but by our businesses and our workers."
He is right. We can spark an economic recovery by unleashing the job-creating power of business, especially small entrepreneurial businesses, which fuel economic and job growth quickly and efficiently. Indeed, it is the only way to pull ourselves out of this economic funk.
But doing so will require a consistent voice about confidence in businesses—small, large and in between. We cannot spend our way out of this. We cannot tax our way out of this. We cannot artificially stimulate our way out of this. We cannot regulate our way out of this. Shaming the successful or redistributing income won't get us out of this. We cannot fund our government coffers by following the "Buffett Rule," i.e., raising taxes on Americans earning more than $1 million a year.
What we can do—and absolutely must—is knock down all hurdles that create disincentives for investment in business.
Private enterprise works. I founded Charles Schwab in 1974, when America was confronting a crisis of confidence similar to today's. We had rapidly rising inflation and unemployment, economic growth grinding into negative territory, and paralyzed markets. The future looked pretty bleak.
Sound familiar?
Yet I had faith that our economy would recover. My vision was simple: Investors deserve something better than the status quo. I launched the company with four employees, a personal loan on my home, and an audacious dream. I didn't know exactly how we were going to do it, nor could I foresee that over the decades we would end up building a business that serves over 10 million accounts. But we went for it.
What's the potential power of the entrepreneur's simple leap of faith? The success of a single business has a significant payoff for the economy. Looking back over the 25 years since our company went public, Schwab has collectively generated $68 billion in revenue and $11 billion in earnings. We've paid $28 billion in compensation and benefits, created more than 50,000 jobs, and paid more than $6 billion in aggregate taxes. In addition to the current value of our company, we've returned billions of dollars in the form of dividends and stock buybacks to shareholders, including unions, pension funds and mom-and-pop investors.
The wealth created for our shareholders—a great many of them average Schwab employees—has been used to reinvest in existing and new businesses and has funded a myriad of philanthropic activities. We've also spent billions buying services and products from other companies in a diverse set of industries, from technology to communications to real estate to professional services, thereby helping our suppliers create businesses and jobs.
That's the story of one company. There are thousands more like it, and a consistent supportive voice from Washington could enable thousands more ahead.
The simple fact is that every business in America was started by an entrepreneur, whether it is Ford Motor Co., Google or your local dry cleaner. Every single job that entrepreneur creates requires an investment. And at its core, investing requires confidence that despite the risks, despite the hard work that will certainly ensue, the basic rules of the game are clear and stable. Today's uncertainty on these issues—stemming from a barrage of new complex regulations and legislation—is a roadblock to investment. We have to clear that uncertainty away.
As we did after 1974, our country can and will thrive again. But the leaders of both parties, Republicans and Democrats alike, must lend their voices to encourage and support private enterprise, both for what it can do to turn our economy around and for the spirit of opportunity it represents.
They need to review every piece of existing legislation and regulation with a clear eye to what impact it will have on business and growth. If something is a job killer, put a moratorium on it. Stop adding to the litany of new laws and regulations until we've had time to digest those in place and regain some certainty about the future. Proposed laws and regulations should be put to a simple test: What will this do to encourage businesses and entrepreneurs to invest? What will it do for jobs?
Mr. Schwab is founder and chairman of the Charles Schwab Corporation. [image error]
Published on September 28, 2011 10:25
Rodrigo Constantino's Blog
- Rodrigo Constantino's profile
- 32 followers
Rodrigo Constantino isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.