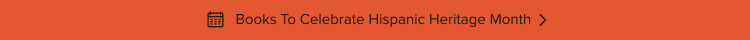Rodrigo Constantino's Blog, page 405
November 3, 2011
The devil in the deep-sea oil

The Economist
Unless the government restrains itself, an oil boom risks feeding Brazil's vices
DEEP in the South Atlantic, a vast industrial operation is under way that Brazil's leaders say will turn their country into an oil power by the end of this decade. If the ambitious plans of Petrobras, the national oil company, come to fruition, by 2020 Brazil will be producing 5m barrels per day, much of it from new offshore fields. That might make Brazil a top-five source of oil.
Managed wisely, this boom has the potential to do great good. Brazil's president, Dilma Rousseff, wants to use the oil money to pay for better education, health and infrastructure. She also wants to use the new fields to create a world-beating oil-services industry. But the bonanza also risks feeding some Brazilian vices: a spendthrift and corrupt political system; an over-mighty state and over-protected domestic market; and neglect of the virtues of saving, investment and training.
So it is worrying that there is far more debate in Brazil about how to spend the oil money than about how to develop the fields. If Brazil's economy is to benefit from oil, rather than be dominated by it, a big chunk of the proceeds should be saved offshore and used to offset future recessions. But the more immediate risks lie in how the oil is extracted.
The government has established a complicated legal framework for the fields. It has vested their ownership in Pré-Sal Petróleo, a new state body whose job is merely to collect and spend the oil money. It has granted an operating monopoly to Petrobras (although the company can strike production-sharing agreements with private partners). The rationale was that, since everyone now knows where the oil is, the lion's share of the profits should go to the nation. But this glides over the complexity in developing fields that lie up to 300km (190 miles) offshore, beneath 2km of water and up to 5km of salt and rock.
To develop the new fields, and build onshore facilities including refineries, Petrobras plans to invest $45 billion a year for the next five years, the largest investment programme of any oil firm in the world. That is too much, too soon, both for Petrobras and for Brazil—especially because the government has decreed that a large proportion of the necessary equipment and supplies be produced at home.
How to be Norway, not Venezuela
By demanding so much local content, the government may in fact be favouring some of the leading foreign oil-service companies. Many would have set up in Brazil anyway; now, with less price competition from abroad, they will find it easier to charge over the odds. Seeking to ramp up production so fast, and relying so heavily on local supplies, also risks starving non-oil businesses of capital and skilled labour (which is in desperately short supply). Oil money is already helping to drive up Brazil's currency, the real, hurting manufacturers struggling with high taxes and poor infrastructure.
When it comes to oil, striking the right balance between the state and the private sector, and between national content and foreign expertise, is notoriously tricky. But it can be done. To kick-start an oil-services industry, Norway calibrated its national-content rules realistically in scope and duration, required foreign suppliers to work closely with local firms and forced Statoil, its national oil company, to bid against rivals to develop fields. Above all, it invested in training the workforce.
But Brazilians need only to look at Mexico's Pemex to see the politicised bloat that can follow an oil boom—or at Venezuela to see how oil can corrupt a country. Petrobras is not Pemex. Thanks to a meritocratic culture, and the discipline of having some of its stock traded, Petrobras is a leader in deep-sea oil. But operating as a monopolist is a poor way to maintain that edge. Happily, too, Brazil is not Venezuela. Its leaders can prove it by changing the rules to be more Norwegian.
Published on November 03, 2011 12:21
November 2, 2011
A ideologia da inveja
João Luiz Mauad, O GLOBO
O movimento Occupy Wall Street é um sucesso — nem tanto de público, eu diria, mas certamente de mídia. Como qualquer iniciativa de esquerda, sua principal queixa é a desigualdade de renda produzida pelo malvado capitalismo. Dizendo-se representantes dos 99%, destilam todo seu ódio contra o 1% mais rico da população, segundo eles os responsáveis exclusivos e principais beneficiários da crise econômica que assola o mundo há três anos.
Suas diatribes, no entanto, carregam um enorme paradoxo, pois os maiores perdedores, em qualquer crise econômica, são justamente os mais ricos. De acordo com o Departamento do Tesouro americano, a renda bruta dos Top 1% era equivalente a 22,83% do total, em 2007. Depois do estouro da bolha, em 2009, caiu para 16,93%. Logo, pela ótica da desigualdade, não há como maldizer as crises, pois elas derrubam a renda dos mais ricos numa proporção muito maior que a dos demais.
Contradições à parte, é sintomático de uma grave doença da alma que essa gente não esteja propriamente protestando contra a pobreza, mas efetivamente contra a riqueza. É por essas e outras que, quando alguém lamenta o famigerado abismo entre ricos e pobres, pergunto se estaria disposto a admitir que os milionários se tornassem ainda mais ricos, desde que isso significasse um aumento significativo da renda dos mais pobres. Quando a resposta é "não", ela equivale à admissão de que a verdadeira preocupação do meu interlocutor é com o que os mais ricos possuem, e não realmente com o que falta aos miseráveis. Se, por outro lado, a resposta for "sim", restará demonstrado que a desigualdade é irrelevante.
Outro ponto importante a destacar é que riqueza e bem-estar são coisas diferentes. Nos EUA, 1% população é dona de 38% da riqueza (dados de 2001). Porém, tal distribuição mudaria drasticamente se os bens de capital fossem excluídos da equação, pois 95% da riqueza do 1% mais rico referem-se à propriedade desses bens. Não por acaso, os níveis de consumo e bem-estar das famílias americanas são muito menos desiguais do que a distribuição da riqueza.
O empresário Eike Batista, por exemplo, é milhões de vezes mais abastado do que um cidadão de classe média, como eu. No entanto, provavelmente nós dois ingerimos quantidades equivalentes de calorias diariamente. Além disso, sua comida não deve ser assim tão mais saborosa que a minha. Suas muitas casas devem ser extremamente confortáveis, mas duvido que sejam milhões de vezes mais aconchegantes que a minha. Será que seus filhos são muito mais bem educados que os meus? Não creio. Também é improvável que a sua saúde seja milhões de vezes melhor que a minha.
Desigualdade só é algo injusto quando o status de alguém é medido não pelo que ele tem, mas pelo que os outros têm. Infelizmente, esse é o padrão dos igualitaristas, que sonham com uma inalcançável uniformidade, independentemente da capacidade de cada um de gerar bens e serviços de valor para os demais. É o padrão da inveja, que denota um grande rancor pelo simples motivo de que alguns têm mais, de qualquer coisa, do que a maioria.
Ademais, a desigualdade é um efeito. Sua causa é a diferença de produtividade. Não há uma cesta fixa, preexistente, de riquezas que, de alguma forma injusta, escorrem para os bolsos dos nababos, em detrimento dos pobres. Numa economia livre, a riqueza é constantemente criada, multiplicada e trocada de forma voluntária.
Graças a esse fenômeno, nos últimos 200 anos houve um aumento exponencial do padrão de bem-estar no mundo e, consequentemente, uma redução espetacular dos níveis de pobreza. Só para se ter uma ideia desse milagre, 85% da população mundial viviam com menos de um dólar por dia (a preços correntes), em 1820, enquanto hoje são 20%. Será que esta verdadeira revolução pode ser atribuída à distribuição de recursos dos ricos para os pobres, ou será que isso se deve ao efeito multiplicador da produtividade capitalista?
Proibir um Steve Jobs de ser fabulosamente rico, de fato, reduz a desigualdade, mas não melhora a vida dos pobres. Numa economia verdadeiramente capitalista, na qual o governo não interfere escolhendo vencedores e perdedores, a profusão de milionários, longe de ser algo a lamentar, é altamente benéfica. Em condições de livre mercado, riqueza pressupõe investimentos em empreendimentos rentáveis, onde os recursos disponíveis foram utilizados de forma eficiente na produção de coisas necessárias e desejáveis. Num sistema desse tipo, os ricos criam um monte de valor para um monte de gente, além, é claro, de um monte de empregos.
O movimento Occupy Wall Street é um sucesso — nem tanto de público, eu diria, mas certamente de mídia. Como qualquer iniciativa de esquerda, sua principal queixa é a desigualdade de renda produzida pelo malvado capitalismo. Dizendo-se representantes dos 99%, destilam todo seu ódio contra o 1% mais rico da população, segundo eles os responsáveis exclusivos e principais beneficiários da crise econômica que assola o mundo há três anos.
Suas diatribes, no entanto, carregam um enorme paradoxo, pois os maiores perdedores, em qualquer crise econômica, são justamente os mais ricos. De acordo com o Departamento do Tesouro americano, a renda bruta dos Top 1% era equivalente a 22,83% do total, em 2007. Depois do estouro da bolha, em 2009, caiu para 16,93%. Logo, pela ótica da desigualdade, não há como maldizer as crises, pois elas derrubam a renda dos mais ricos numa proporção muito maior que a dos demais.
Contradições à parte, é sintomático de uma grave doença da alma que essa gente não esteja propriamente protestando contra a pobreza, mas efetivamente contra a riqueza. É por essas e outras que, quando alguém lamenta o famigerado abismo entre ricos e pobres, pergunto se estaria disposto a admitir que os milionários se tornassem ainda mais ricos, desde que isso significasse um aumento significativo da renda dos mais pobres. Quando a resposta é "não", ela equivale à admissão de que a verdadeira preocupação do meu interlocutor é com o que os mais ricos possuem, e não realmente com o que falta aos miseráveis. Se, por outro lado, a resposta for "sim", restará demonstrado que a desigualdade é irrelevante.
Outro ponto importante a destacar é que riqueza e bem-estar são coisas diferentes. Nos EUA, 1% população é dona de 38% da riqueza (dados de 2001). Porém, tal distribuição mudaria drasticamente se os bens de capital fossem excluídos da equação, pois 95% da riqueza do 1% mais rico referem-se à propriedade desses bens. Não por acaso, os níveis de consumo e bem-estar das famílias americanas são muito menos desiguais do que a distribuição da riqueza.
O empresário Eike Batista, por exemplo, é milhões de vezes mais abastado do que um cidadão de classe média, como eu. No entanto, provavelmente nós dois ingerimos quantidades equivalentes de calorias diariamente. Além disso, sua comida não deve ser assim tão mais saborosa que a minha. Suas muitas casas devem ser extremamente confortáveis, mas duvido que sejam milhões de vezes mais aconchegantes que a minha. Será que seus filhos são muito mais bem educados que os meus? Não creio. Também é improvável que a sua saúde seja milhões de vezes melhor que a minha.
Desigualdade só é algo injusto quando o status de alguém é medido não pelo que ele tem, mas pelo que os outros têm. Infelizmente, esse é o padrão dos igualitaristas, que sonham com uma inalcançável uniformidade, independentemente da capacidade de cada um de gerar bens e serviços de valor para os demais. É o padrão da inveja, que denota um grande rancor pelo simples motivo de que alguns têm mais, de qualquer coisa, do que a maioria.
Ademais, a desigualdade é um efeito. Sua causa é a diferença de produtividade. Não há uma cesta fixa, preexistente, de riquezas que, de alguma forma injusta, escorrem para os bolsos dos nababos, em detrimento dos pobres. Numa economia livre, a riqueza é constantemente criada, multiplicada e trocada de forma voluntária.
Graças a esse fenômeno, nos últimos 200 anos houve um aumento exponencial do padrão de bem-estar no mundo e, consequentemente, uma redução espetacular dos níveis de pobreza. Só para se ter uma ideia desse milagre, 85% da população mundial viviam com menos de um dólar por dia (a preços correntes), em 1820, enquanto hoje são 20%. Será que esta verdadeira revolução pode ser atribuída à distribuição de recursos dos ricos para os pobres, ou será que isso se deve ao efeito multiplicador da produtividade capitalista?
Proibir um Steve Jobs de ser fabulosamente rico, de fato, reduz a desigualdade, mas não melhora a vida dos pobres. Numa economia verdadeiramente capitalista, na qual o governo não interfere escolhendo vencedores e perdedores, a profusão de milionários, longe de ser algo a lamentar, é altamente benéfica. Em condições de livre mercado, riqueza pressupõe investimentos em empreendimentos rentáveis, onde os recursos disponíveis foram utilizados de forma eficiente na produção de coisas necessárias e desejáveis. Num sistema desse tipo, os ricos criam um monte de valor para um monte de gente, além, é claro, de um monte de empregos.
Published on November 02, 2011 05:59
A Greek Lesson in Democracy
Editorial do WSJ
George Papandreou became the most unpopular man in Europe on Monday by announcing that his government would put the terms of last week's EU-IMF bailout package to a referendum, so that Greeks can decide their economic future for themselves. The Prime Minister's announcement sent markets tumbling world-wide, took Italian government-bond yields to a near euro-era high, and had German officials privately denouncing his behavior as un-European.
An alternative view is that Mr. Papandreou has done his own people, and all Europeans, a considerable favor. Who would have thought the Greeks had something to teach the world about democracy?
Since the euro-zone crisis began in earnest early last year, European policy makers have been placing Jon Corzine-sized bets on a series of rescue packages for insolvent nations and troubled banks, without much input from the taxpayers who are ultimately on the hook for these ever-more-expensive bailouts.
It's a method of governance that betrays the contempt of European elites for the views of their own people, who don't always like where those elites propose to take them. Recall the overwhelming rejection by French and Dutch voters of a proposed EU Constitution in 2005.
For Greeks, their stake in last week's euro-zone deal could hardly be higher: Their choice is either to sign up for a decade of EU- and IMF-imposed austerity or face the prospect of immediate default and the possible loss of the euro as their currency. That is at least partly why Mr. Papandreou, who has a parliamentary majority of two seats and faces another no-confidence vote on Friday, chose to go for a referendum, currently scheduled for January.
Should Greeks vote yes, Mr. Papandreou's hand will be strengthened politically. If they vote no, the Greeks will at least be taking responsibility for the consequences. That sounds better than Greeks rioting in the streets against politicians in Berlin or Brussels over whom they have no influence.
As for the rest of Europe, they may eventually come around to thanking Mr. Papandreou and the Greeks, even for a no vote. Today's conventional wisdom is that a Greek default would spread contagion, never mind that past bailout packages for Athens haven't exactly contained it.
While nobody can doubt that an Athenian default would be damaging for Greece's creditors, particularly French banks, these creditors will face a reckoning sooner or later. The real political purpose of the deal agreed in Brussels last week between French President Nicolas Sarkozy and German Chancellor Angela Merkel is to postpone that reckoning past their own (and President Obama's) elections.
A Greek default would provide a lesson in what happens to countries that can't live within their means. The sight might even be enough to terrify lawmakers in Italy to get serious about fixing their unfunded pension promises and other antigrowth policies. The serial bailouts sure aren't doing the job.
Even now—two years into the crisis—few of Europe's elites are talking about the need to restore growth by means of economic liberalization. Consider Greece: The World Bank recently published its latest annual "Doing Business" survey, and for all of its alleged reforms Greece rose all of one spot to 100th this year in the world rankings in the ease of doing business. That's just behind Yemen, though still ahead of Papua New Guinea. When it comes to investor protections, Athens ranks 150th.
The only good news in those figures is that Greece has plenty of room for improvements if only its political class had the courage to undertake them. However the Greeks vote in a referendum, this is the only route to an economic future that offers something better than penury or permanent indebtedness.
George Papandreou became the most unpopular man in Europe on Monday by announcing that his government would put the terms of last week's EU-IMF bailout package to a referendum, so that Greeks can decide their economic future for themselves. The Prime Minister's announcement sent markets tumbling world-wide, took Italian government-bond yields to a near euro-era high, and had German officials privately denouncing his behavior as un-European.
An alternative view is that Mr. Papandreou has done his own people, and all Europeans, a considerable favor. Who would have thought the Greeks had something to teach the world about democracy?
Since the euro-zone crisis began in earnest early last year, European policy makers have been placing Jon Corzine-sized bets on a series of rescue packages for insolvent nations and troubled banks, without much input from the taxpayers who are ultimately on the hook for these ever-more-expensive bailouts.
It's a method of governance that betrays the contempt of European elites for the views of their own people, who don't always like where those elites propose to take them. Recall the overwhelming rejection by French and Dutch voters of a proposed EU Constitution in 2005.
For Greeks, their stake in last week's euro-zone deal could hardly be higher: Their choice is either to sign up for a decade of EU- and IMF-imposed austerity or face the prospect of immediate default and the possible loss of the euro as their currency. That is at least partly why Mr. Papandreou, who has a parliamentary majority of two seats and faces another no-confidence vote on Friday, chose to go for a referendum, currently scheduled for January.
Should Greeks vote yes, Mr. Papandreou's hand will be strengthened politically. If they vote no, the Greeks will at least be taking responsibility for the consequences. That sounds better than Greeks rioting in the streets against politicians in Berlin or Brussels over whom they have no influence.
As for the rest of Europe, they may eventually come around to thanking Mr. Papandreou and the Greeks, even for a no vote. Today's conventional wisdom is that a Greek default would spread contagion, never mind that past bailout packages for Athens haven't exactly contained it.
While nobody can doubt that an Athenian default would be damaging for Greece's creditors, particularly French banks, these creditors will face a reckoning sooner or later. The real political purpose of the deal agreed in Brussels last week between French President Nicolas Sarkozy and German Chancellor Angela Merkel is to postpone that reckoning past their own (and President Obama's) elections.
A Greek default would provide a lesson in what happens to countries that can't live within their means. The sight might even be enough to terrify lawmakers in Italy to get serious about fixing their unfunded pension promises and other antigrowth policies. The serial bailouts sure aren't doing the job.
Even now—two years into the crisis—few of Europe's elites are talking about the need to restore growth by means of economic liberalization. Consider Greece: The World Bank recently published its latest annual "Doing Business" survey, and for all of its alleged reforms Greece rose all of one spot to 100th this year in the world rankings in the ease of doing business. That's just behind Yemen, though still ahead of Papua New Guinea. When it comes to investor protections, Athens ranks 150th.
The only good news in those figures is that Greece has plenty of room for improvements if only its political class had the courage to undertake them. However the Greeks vote in a referendum, this is the only route to an economic future that offers something better than penury or permanent indebtedness.
Published on November 02, 2011 04:39
Why We Can't Escape the Eurocrisis
By GERALD P. O'DRISCOLL JR., WSJ
When is a bailout not a bailout? When the bailor is short of funds. The recently announced debt plan in the European Union comes up short in almost all respects.
The debt crisis is not just an EU problem, but a trans-Atlantic financial crisis. The overwhelming debt problems on either side of the pond are interlinked through the banking system.
First to the EU. The underlying dilemma is that governments have promised their citizens more social programs than can be financed with the tax revenue generated by the private sector. High tax rates choke off the economic growth needed to finance the promises. Economic activity gets driven into the underground economy, where it often escapes taxation.
Nowhere is this truer than in Greece, which has a long history of sovereign defaults in the 19th and 20th centuries. There is a bloated public sector, and competitive private enterprise is hobbled by regulation and government barriers to entry. Successive Greek governments ran chronic budget deficits, and the Greek banks lent to the government. Banks in other EU countries, such as France, lent to the Greek banks.
In Greece and elsewhere in the EU, the banks support the government by purchasing its bonds, and the government guarantees the banks. It is a Ponzi scheme not even Bernie Madoff could have concocted. The banks can no longer afford to fund budget deficits, yet they cannot afford to see governments default. Governments cannot make good on their guarantees of the banks.
Details differ by country. In Ireland, problems began with an overheated property sector that brought down the banks. The economy went into depression, which threw the government's budget into deficit. Further aggravating the deficit was the government's decision to guarantee bank deposits, converting private, financial-sector debt into public-sector debt. The details differ from Greece, but the linkage between the government and the banks is the common factor.
France's growth is weak to nonexistent. Germany's economy has performed well since the recession, but concerns are growing regarding its banks' exposure to greater EU risk. And U.S. banks and financial institutions are exposed to EU banks through funding operations, issuance of credit default swaps and unknown exposure in derivatives markets.
The Federal Reserve has engaged in currency swaps with the European Central Bank to support the dollar needs of EU banks. The ECB deposits euros (or euro-denominated assets) with the Fed and receives dollars in return. It promises to repay dollars plus interest.
The Fed maintains they cannot lose money because the ECB promises to repay the swaps in dollars. And yet, with the world awash in greenbacks, it is unclear why the Fed and the ECB even needed to engage in these transactions—except that it suggests funding problems at some EU banks. And if neither EU banks nor the ECB can secure enough needed dollars in global markets, there is a serious counterparty risk to the Fed. The ECB can print euros but not dollars. Sen. Richard Shelby (R., Ala.), ranking member of the Senate Banking Committee, was correct to raise concerns about the Fed's policy last week. Losses on the Fed's balance sheet hit the U.S taxpayer, not EU citizens.
The sad fact is that there is not enough money in the EU to pay off the public debts incurred by the governments. Most countries have long since squeezed as much tax revenue from their citizens as they can. That is why they have toyed with a tax on financial transactions, the one remaining untaxed activity in all of Europe.
Greece is the first of other sovereign defaults to come. With last week's bailout, the EU leaders might have bought time, perhaps a year. But at some point, the ECB will cave and monetize the debt, leading to euro-zone inflation.
The debt calculus changed dramatically this week with the announcement of a Greek referendum on the bailout agreement next January. If voters reject the agreement, the ultimate outcome is unpredictable.
Americans must not be smug about the suffering of Europeans—our financial system is thoroughly integrated with theirs. Moreover, the International Monetary Fund will most likely be involved in the event of future bailouts and will likely need large funds from its members, which ultimately means the taxpayers.
And, of course, the U.S. has its own large and growing public debt burden. We have not gone as far down the road to entitlements, but we are catching up. If you want to know how the debt crisis will play out here, watch the downward spiral in the EU.
Meanwhile, expect more volatility in financial markets. U.S. traders in particular simply have not grasped the enormity of the EU debt crisis.
Mr. O'Driscoll, a senior fellow at the Cato Institute, is a former vice president of the Federal Reserve Bank of Dallas and later Citibank.
When is a bailout not a bailout? When the bailor is short of funds. The recently announced debt plan in the European Union comes up short in almost all respects.
The debt crisis is not just an EU problem, but a trans-Atlantic financial crisis. The overwhelming debt problems on either side of the pond are interlinked through the banking system.
First to the EU. The underlying dilemma is that governments have promised their citizens more social programs than can be financed with the tax revenue generated by the private sector. High tax rates choke off the economic growth needed to finance the promises. Economic activity gets driven into the underground economy, where it often escapes taxation.
Nowhere is this truer than in Greece, which has a long history of sovereign defaults in the 19th and 20th centuries. There is a bloated public sector, and competitive private enterprise is hobbled by regulation and government barriers to entry. Successive Greek governments ran chronic budget deficits, and the Greek banks lent to the government. Banks in other EU countries, such as France, lent to the Greek banks.
In Greece and elsewhere in the EU, the banks support the government by purchasing its bonds, and the government guarantees the banks. It is a Ponzi scheme not even Bernie Madoff could have concocted. The banks can no longer afford to fund budget deficits, yet they cannot afford to see governments default. Governments cannot make good on their guarantees of the banks.
Details differ by country. In Ireland, problems began with an overheated property sector that brought down the banks. The economy went into depression, which threw the government's budget into deficit. Further aggravating the deficit was the government's decision to guarantee bank deposits, converting private, financial-sector debt into public-sector debt. The details differ from Greece, but the linkage between the government and the banks is the common factor.
France's growth is weak to nonexistent. Germany's economy has performed well since the recession, but concerns are growing regarding its banks' exposure to greater EU risk. And U.S. banks and financial institutions are exposed to EU banks through funding operations, issuance of credit default swaps and unknown exposure in derivatives markets.
The Federal Reserve has engaged in currency swaps with the European Central Bank to support the dollar needs of EU banks. The ECB deposits euros (or euro-denominated assets) with the Fed and receives dollars in return. It promises to repay dollars plus interest.
The Fed maintains they cannot lose money because the ECB promises to repay the swaps in dollars. And yet, with the world awash in greenbacks, it is unclear why the Fed and the ECB even needed to engage in these transactions—except that it suggests funding problems at some EU banks. And if neither EU banks nor the ECB can secure enough needed dollars in global markets, there is a serious counterparty risk to the Fed. The ECB can print euros but not dollars. Sen. Richard Shelby (R., Ala.), ranking member of the Senate Banking Committee, was correct to raise concerns about the Fed's policy last week. Losses on the Fed's balance sheet hit the U.S taxpayer, not EU citizens.
The sad fact is that there is not enough money in the EU to pay off the public debts incurred by the governments. Most countries have long since squeezed as much tax revenue from their citizens as they can. That is why they have toyed with a tax on financial transactions, the one remaining untaxed activity in all of Europe.
Greece is the first of other sovereign defaults to come. With last week's bailout, the EU leaders might have bought time, perhaps a year. But at some point, the ECB will cave and monetize the debt, leading to euro-zone inflation.
The debt calculus changed dramatically this week with the announcement of a Greek referendum on the bailout agreement next January. If voters reject the agreement, the ultimate outcome is unpredictable.
Americans must not be smug about the suffering of Europeans—our financial system is thoroughly integrated with theirs. Moreover, the International Monetary Fund will most likely be involved in the event of future bailouts and will likely need large funds from its members, which ultimately means the taxpayers.
And, of course, the U.S. has its own large and growing public debt burden. We have not gone as far down the road to entitlements, but we are catching up. If you want to know how the debt crisis will play out here, watch the downward spiral in the EU.
Meanwhile, expect more volatility in financial markets. U.S. traders in particular simply have not grasped the enormity of the EU debt crisis.
Mr. O'Driscoll, a senior fellow at the Cato Institute, is a former vice president of the Federal Reserve Bank of Dallas and later Citibank.
Published on November 02, 2011 04:33
November 1, 2011
O câncer de Lula

Rodrigo Constantino
Poucas horas após o anúncio oficial da doença do ex-presidente, uma campanha se espalhou pelas redes sociais. Ela cobrava coerência do ex-presidente, pedindo que ele buscasse tratamento no SUS, uma vez que foi ele mesmo quem afirmou que nosso sistema de saúde pública era quase perfeito. Eu dei meu apoio a esta iniciativa, que gerou forte reação de muitas pessoas, alegando que não se deve "brincar" com a saúde alheia. Pretendo justificar minha postura com mais argumentos, até porque há gente desonesta espalhando mentiras por aí e distorcendo tudo sobre o assunto.*
Em primeiro lugar, acredito que quem sempre brincou com a saúde dos outros foi o próprio Lula, inclusive quando fez declarações absurdas como esta da "perfeição" da nossa saúde pública, ou quando disse que dava até vontade de ficar doente para ser atendido por uma UPA. Trata-se de piada de mau gosto, um escárnio que machuca todos aqueles que dependem efetivamente do SUS. O que a campanha intencionava, portanto, era expor esta hipocrisia, esta incoerência do maior populista que este país já teve, disposto a qualquer tipo de bravata verborrágica para ficar no poder. Será que aqueles que se sensibilizam com a doença do ex-presidente agora estavam tão preocupados assim com os milhões de brasileiros que sofrem diariamente nas precárias condições dos hospitais públicos, muitos morrendo desnecessariamente, enquanto Lula repetia aquelas atrocidades com fins eleitoreiros?
Mas argumenta-se que doença não deveria ser uma forma de "vingança" política. Pode ser. E rebato aqui as acusações de que é abjeto desejar o mal a pessoas apenas porque divergimos delas ideologicamente. Não é este o caso quando se trata de Lula. Eu divirjo de muitas pessoas, e não as desejo mal algum. A divergência intelectual é até saudável dentro de certos limites, e a tolerância é uma bandeira liberal que sempre abracei. O problema não é "apenas" discordar de Lula nas idéias; o problema é o estrago concreto que o próprio Lula faz ao país e aos brasileiros, com sua demagogia e imoralidade. Em escala diferente, creio que muitos venezuelanos não derramaram lágrima alguma com o câncer do tiranete Hugo Chávez. Ah, mas Lula não é um ditador! Verdade, mas não por falta de vontade e desejo, e sim porque as nossas instituições, que ele tanto ajudou a enfraquecer, não permitiram.
E aqui cabe responder também aos que afirmam, seguindo a tradição cristã, que não devemos desejar o mal de ninguém. Odeie o pecado, mas ame o pecador! Será que isso pode ser realmente levado a sério? Ou será que há muita hipocrisia nesta postura "humanista"? Podemos fazer um teste: quantos esquerdistas sensibilizados pela doença de Lula reagiriam da mesma forma se fosse Bush o doente? Sejam sinceros, companheiros! Ou nem precisam responder: sabemos como os petistas reagiram ao comando do "chefe de quadrilha", que mandou agredirem até fisicamente Mário Covas, que na época tinha câncer. Se fosse Sarney o doente hoje, haveria a mesma comoção nacional para defendê-lo das campanhas irônicas? Dois pesos e duas medidas. Logo se vê que este "humanismo" todo não passa de jogo de cena.
Não acho que o respeito seja algo grátis nessa vida. Acredito que devemos conquistá-lo. Alguns pensam que devemos respeitar ou até amar mesmo o ser mais abjeto do planeta. Ame o próximo como a ti mesmo. Nunca compartilhei desta máxima. Acredito que ela agride o que há de mais básico em nossa natureza. Penso que, ao suspender o julgamento e colocar todos no mesmo saco do respeito imerecido, estamos sendo injustos com as pessoas decentes. Há que se separar o joio do trigo. Isso pode não ser sinônimo de desejar o sofrimento daqueles que julgamos pessoas desprezíveis. Mas também não quer dizer que vamos nos preocupar tanto com elas. Eu não ligo para a saúde dos traficantes. Eu não ligo para a saúde de caudilhos que espalham desgraças por onde passam.
A morte costuma transformar todos em santos. Biografias são escritas refazendo a história. Surge uma aura de inocência concomitantemente ao cadáver. Nunca aceitei isso. E sei que, no fundo, ninguém aceita. É questão apenas de grau. Ou alguém vai falar bem de Hitler só porque ele morreu? A doença e o sofrimento costumam despertar o mesmo tipo de reação. Mas o cancro que se espalha pelo corpo não transforma um canalha em um homem bom. Um pulha com câncer continua sendo um pulha. Pode até ser politicamente incorreto dizer isso, mas não deixa de ser verdade. O contrário é apelar para a hipocrisia.
Voltemos à doença de Lula. Eu confesso abertamente: ela está na rabeira de minhas preocupações. Não consigo sentir pena dele, ainda que me esforce. Isso me faz alguém insensível? Não! Apenas seleciono quem é digno de minha preocupação. Antes de Lula, fico bem mais preocupado com os milhões de brasileiros decentes que sofrem com os serviços públicos caóticos, a despeito dos trilhões que governantes arrecadam e desviam para fins eleitoreiros ou corruptos. Lula, convém lembrar, representa o que há de pior em nossa política. Não satisfeito, ainda fez questão de afrontar todos os que dependem do SUS quando chamou o modelo de "quase perfeito". Isso deveria sensibilizar as pessoas.
Não aceito ser pautado pela sensibilidade seletiva dos "humanistas" de plantão. Posso até não celebrar a doença e o sofrimento de uma pessoa, por mais que ela possa merecer certo castigo "divino" (principalmente quando o castigo das leis humanas não existe). Mas também não vou transformar uma doença, por mais trágica que possa ser, em um salvo-conduto para limpar a sujeira grudada em indivíduos que viveram uma vida praticando o mal contra inocentes, disseminando o ódio e segregando as pessoas para conquistar o poder.
O lulopetismo é um câncer para o Brasil. Esta "doença" me incomoda muito mais do que a doença do ex-presidente. Claro que o ideal seria derrotar este projeto populista e autoritário de poder nas urnas, ou ter instituições decentes para punir os corruptos do governo (até hoje os mensaleiros nem sequer foram julgados!). Mas não serei hipócrita a ponto de demonstrar uma preocupação que não consigo sentir em relação àquele que desprezo como ser humano, por representar tudo que condeno em termos de valores e princípios. A acusação mais patética de todas, aliás, fala de preconceito contra Lula. Preconceito contra o que? Tem vários nordestinos ou trabalhadores humildes que subiram na vida, de forma honrosa. Não foi o caso de Lula. Preconceito, ou melhor, pós-conceito eu tenho contra corruptos, demagogos, populistas, bajuladores de tiranos assassinos, etc.
Perto de minha casa há um indigente que não parece nada bem de saúde. Sua situação me incomoda infinitamente mais do que o câncer de Lula. As "almas sensíveis" que saíram em defesa de Lula e contra a campanha pelo tratamento no SUS – como se isso fosse o maior castigo do mundo, ou seja, os próprios petralhas rejeitam a saúde pública que Lula considera "quase perfeita" – mas, dizia eu, as "almas sensíveis" sofrem pelo indigente? Ou só o ex-presidente merece tantas orações? Eu considero legítimo usar a doença de Lula para expor sua hipocrisia desrespeitosa aos milhões de brasileiros que, de fato, precisam se tratar no SUS, pois não são ricos como o milionário Lula, que busca tratamento no melhor hospital do país, enquanto ainda ousa falar em nome de todos os trabalhadores pobres brasileiros, como se fosse um deles. Chega de tanta hipocrisia!
* O Relatório Reservado, um "newsletter" de fofocas empresariais, publicou um comentário venenoso sobre mim, com o título "Ave agourenta". Diz ele: "Tomara que o Facebook não forme opinião. O colunista de O Globo Rodrigo Constantino postou ontem com vigor homicida comentário do qual não só comparava Lula a Hitler como torcia pela morte do ex-presidente. Depois reclamam que o PT quer censurar a imprensa...". Quantas falácias. Usei Hitler apenas para mostrar que há claros limites para nosso "humanismo", ou seja, não desejamos a boa saúde de todos os seres humanos, ao contrário do que alguns disseram. E jamais torci pela morte do ex-presidente. Disse apenas que ele deveria ser coerente e buscar tratamento no SUS. O autor do comentário deve achar que isso é suicídio, mas deveria reclamar com o próprio Lula, que pensa o contrário. Do alto de sua perfídia, o autor ainda usa meu comentário no Facebook como justificativa para o PT defender a censura da imprensa. Também, esperar o que de um jornaleco que diz, cheio de orgulho, que "Seu número zero foi uma carta da indústria nacional contra o perigo das importações, o que já apontava para sua posição editorial de viés nacionalista"? É dureza...
Published on November 01, 2011 13:06
Deu no Correio do Povo...
Published on November 01, 2011 13:01
O tango dos hermanos
Rodrigo Constantino, O GLOBO
Cristina Kirchner foi reeleita logo no primeiro turno. A "família K" ocupará a Casa Rosada pelo terceiro mandato seguido. A economia argentina apresenta sinais de recuperação, mas seus pilares são insustentáveis. A inflação real passa de 20% ao ano, enquanto o governo manipula os dados oficiais. A fuga de capitais é crescente. Os investimentos privados recuam de forma acentuada.
A triste história do país vizinho serve como importante alerta aos brasileiros. Afinal, a Argentina já foi um ícone para a região no passado. O período entre 1860 e 1930 compreendeu seus anos dourados. Milhões de imigrantes foram para o país, e Buenos Aires transformou-se em uma grande metrópole, capital cultural da América hispânica. A Argentina era o celeiro do mundo. O valor total das exportações multiplicou-se mais de 13 vezes entre 1865 e 1914. Os investimentos britânicos foram especialmente importantes. O padrão de vida do argentino estava entre os melhores do mundo.
Mas nem tudo que reluz é ouro. Como na obra de Kafka, a Argentina foi dormir bem, e acordou um inseto feioso. A burocracia estatal no país crescia rapidamente. O surgimento de uma retórica nacionalista exigia a intervenção política contra a competição de produtos importados. A Primeira Guerra Mundial, e a Crise de 1929 depois, geraram enormes dificuldades para o país, dependente da exportação de seus recursos naturais. Foram introduzidas tarifas protecionistas, sucessivamente elevadas.
O controle da máquina política tornou-se o elemento-chave para o sucesso nos negócios, incitando a formação de grupos de interesse, suplantando os mecanismos da livre concorrência. Após o golpe de 1943, o intervencionismo estatal rapidamente se expandiu, chegando ao ápice durante a presidência do populista Perón, de 1946 a 1955. Inspirado em Mussolini, Perón buscou o apoio das bases sindicais, e criou inúmeras barreiras protecionistas.
O militar baixou grande número de decretos conferindo vastos benefícios artificiais aos trabalhadores. Como ocorre em ditaduras, houve forte culto à personalidade. Foi posta em marcha uma "peronização" do Estado argentino, com opositores sendo perseguidos. Uma nova Constituição foi adotada em 1949, e a doutrina do "justicialismo", derivado de "justiça social", tornou-se o fundamento ideológico da nação. As despesas públicas explodiram, concomitantemente à inflação. Estas e outras medidas demagógicas de Perón e sua esposa Eva lastrearam o declínio espetacular da Argentina, que nunca mais seria a mesma.
Isto ocorreu, convém lembrar, em um país com ampla classe média, instituições relativamente sólidas e povo educado. Nada disso foi suficiente para impedir o avanço populista no país. A própria "família K", agora sob o comando da viúva, vem dando continuidade a esta prática nefasta, perseguindo com virulência e abuso da máquina estatal o principal grupo de imprensa do país. Quando o termômetro mostrou a doença econômica, pelo aumento da inflação, o governo resolveu quebrar o termômetro. O modelo argentino aproxima-se rapidamente do venezuelano.
Este tango argentino (está mais para ópera bufa) tem importantes lições a nos oferecer. Muitos brasileiros insistem que a solução para nossos males está na educação, mas poucos se aprofundam a ponto de questionar qual educação. Jogar dinheiro público no setor não é panacéia. Além disso, educação pode ser condição necessária para o progresso, mas está longe de ser suficiente, como prova a Argentina. Sem um modelo de livre mercado, será mais lucrativo investir no suborno de políticos do que na competitividade. Vencem os amigos do rei – ou da rainha.
Outra importante lição diz respeito à oposição. O "peronismo" tomou conta da política argentina, e faltaram alternativas sérias aos eleitores, algum partido com um projeto decente para o país. Basta notar que Cristina Kirchner venceu contra um candidato socialista! A hegemonia esquerdista é total no país. Não há uma oposição firme, e a negligência de hoje é sempre paga com a escravidão de amanhã. Os populistas tiveram o caminho livre para seu projeto de poder por lá.
Não é preciso dizer que o lulopetismo vem tentando seguir a mesma trilha no Brasil. Vários ingredientes estão presentes: culto à personalidade; populismo desmedido; tentativa de perseguir a imprensa; modelo desenvolvimentista; protecionismo comercial; inflação crescente; oposição fraca; e corrupção como meio aceitável para o único fim existente: perpetuar-se no poder. Vamos conseguir evitar o destino trágico dos nossos vizinhos?
Cristina Kirchner foi reeleita logo no primeiro turno. A "família K" ocupará a Casa Rosada pelo terceiro mandato seguido. A economia argentina apresenta sinais de recuperação, mas seus pilares são insustentáveis. A inflação real passa de 20% ao ano, enquanto o governo manipula os dados oficiais. A fuga de capitais é crescente. Os investimentos privados recuam de forma acentuada.
A triste história do país vizinho serve como importante alerta aos brasileiros. Afinal, a Argentina já foi um ícone para a região no passado. O período entre 1860 e 1930 compreendeu seus anos dourados. Milhões de imigrantes foram para o país, e Buenos Aires transformou-se em uma grande metrópole, capital cultural da América hispânica. A Argentina era o celeiro do mundo. O valor total das exportações multiplicou-se mais de 13 vezes entre 1865 e 1914. Os investimentos britânicos foram especialmente importantes. O padrão de vida do argentino estava entre os melhores do mundo.
Mas nem tudo que reluz é ouro. Como na obra de Kafka, a Argentina foi dormir bem, e acordou um inseto feioso. A burocracia estatal no país crescia rapidamente. O surgimento de uma retórica nacionalista exigia a intervenção política contra a competição de produtos importados. A Primeira Guerra Mundial, e a Crise de 1929 depois, geraram enormes dificuldades para o país, dependente da exportação de seus recursos naturais. Foram introduzidas tarifas protecionistas, sucessivamente elevadas.
O controle da máquina política tornou-se o elemento-chave para o sucesso nos negócios, incitando a formação de grupos de interesse, suplantando os mecanismos da livre concorrência. Após o golpe de 1943, o intervencionismo estatal rapidamente se expandiu, chegando ao ápice durante a presidência do populista Perón, de 1946 a 1955. Inspirado em Mussolini, Perón buscou o apoio das bases sindicais, e criou inúmeras barreiras protecionistas.
O militar baixou grande número de decretos conferindo vastos benefícios artificiais aos trabalhadores. Como ocorre em ditaduras, houve forte culto à personalidade. Foi posta em marcha uma "peronização" do Estado argentino, com opositores sendo perseguidos. Uma nova Constituição foi adotada em 1949, e a doutrina do "justicialismo", derivado de "justiça social", tornou-se o fundamento ideológico da nação. As despesas públicas explodiram, concomitantemente à inflação. Estas e outras medidas demagógicas de Perón e sua esposa Eva lastrearam o declínio espetacular da Argentina, que nunca mais seria a mesma.
Isto ocorreu, convém lembrar, em um país com ampla classe média, instituições relativamente sólidas e povo educado. Nada disso foi suficiente para impedir o avanço populista no país. A própria "família K", agora sob o comando da viúva, vem dando continuidade a esta prática nefasta, perseguindo com virulência e abuso da máquina estatal o principal grupo de imprensa do país. Quando o termômetro mostrou a doença econômica, pelo aumento da inflação, o governo resolveu quebrar o termômetro. O modelo argentino aproxima-se rapidamente do venezuelano.
Este tango argentino (está mais para ópera bufa) tem importantes lições a nos oferecer. Muitos brasileiros insistem que a solução para nossos males está na educação, mas poucos se aprofundam a ponto de questionar qual educação. Jogar dinheiro público no setor não é panacéia. Além disso, educação pode ser condição necessária para o progresso, mas está longe de ser suficiente, como prova a Argentina. Sem um modelo de livre mercado, será mais lucrativo investir no suborno de políticos do que na competitividade. Vencem os amigos do rei – ou da rainha.
Outra importante lição diz respeito à oposição. O "peronismo" tomou conta da política argentina, e faltaram alternativas sérias aos eleitores, algum partido com um projeto decente para o país. Basta notar que Cristina Kirchner venceu contra um candidato socialista! A hegemonia esquerdista é total no país. Não há uma oposição firme, e a negligência de hoje é sempre paga com a escravidão de amanhã. Os populistas tiveram o caminho livre para seu projeto de poder por lá.
Não é preciso dizer que o lulopetismo vem tentando seguir a mesma trilha no Brasil. Vários ingredientes estão presentes: culto à personalidade; populismo desmedido; tentativa de perseguir a imprensa; modelo desenvolvimentista; protecionismo comercial; inflação crescente; oposição fraca; e corrupção como meio aceitável para o único fim existente: perpetuar-se no poder. Vamos conseguir evitar o destino trágico dos nossos vizinhos?
Published on November 01, 2011 06:44
October 31, 2011
The Euro Crisis: Doubting the 'Domino' Effect
By EDWARD P. LAZEAR, WSJ
It seems everyone is worried that problems in Europe will derail our fragile recovery. For this reason, markets breathed a sigh of relief when the Europeans came up with a plan to provide yet another reprieve to Greece. The main worry, now somewhat eased, was that a Greek default would spread to countries like Italy, Spain and Portugal.
Although there are legitimate concerns about contagion, the fundamental problem facing Europe is one of governments becoming too big to be supported by the economy. Unless Europe solves its fundamental problems with meaningful structural reform, a temporary debt restructuring, no matter how clever, will fail to right the ship. Closer to home, the same issues that threaten Europe may soon become immediate concerns to Americans.
To understand why, consider two theories of economic destruction, which can be labeled the domino theory and the popcorn theory. Everyone knows the domino theory; it is the analogy that is commonly used to denote contagion. If one domino falls, it will topple the others, and conversely, if the first domino remains upright, the others will not fall. It is this logic that underlies most bailout strategies.
The popcorn theory emphasizes a different mechanism. When popcorn is made (the old fashioned way), oil and corn kernels are placed in the bottom of a pan, heat is applied and the kernels pop. Were the first kernel to pop removed from the pan, there would be no noticeable difference. The other kernels would pop anyway because of the heat. The fundamental structural cause is the heat, not the fact that one kernel popped, triggering others to follow.
Many who believe that bailouts will solve Europe's problems cite the Sept. 15, 2008 bankruptcy of Lehman Brothers as evidence of what allowing one domino to fall can do to an economy. This is a misreading of the historical record. Our financial crisis was mostly a popcorn phenomenon. At the risk of sounding defensive (I was in the government at the time), I believe that Lehman's downfall was more a result of the factors that weakened our economic structure than the cause of the crisis.
Consider the events of 2007-08 that either preceded or had nothing to do with Lehman. World liquidity showed major signs of tightening by early August 2007. The recession began in December 2007. Bear Stearns failed and was rescued in early 2008. The auction-rate securities markets failed in the first half of 2008, monoline insurers encountered major difficulties during the spring, and, if not for some creative behind-the-scenes work, the student-loan market would have failed by that summer. The Dow Jones Industrial Average had lost about 3000 points from its peak by September 2008.
The week before Lehman failed, Fannie Mae and Freddie Mac, both on the edge of bankruptcy, were placed into conservatorship. On the weekend that the Lehman deal fell through, Merrill Lynch, also on the brink, was saved by Bank of America. By that weekend AIG was already showing signs of likely failure, as were Washington Mutual and Wachovia. Although GM and Chrysler crashed post-Lehman and were kept alive by a government loan, their troubles resulted from the decline in auto sales, coupled with noncompetitive costs. The sum of these events was more than enough to be called a financial crisis and to worsen the recession that was already under way.
Lehman's demise may well have been an exacerbating factor in the financial crisis and perhaps things might not have been as bad had Lehman not failed. Most directly, the Reserve Primary Fund, a money-market mutual fund that held $785 million in Lehman-issued securities, couldn't meet investor requests for redemptions at par value. That likely triggered a run on money markets. Other markets may also have been affected by Lehman's demise. One does not have to deny the role of contagion to believe that Lehman was not the domino that toppled the others.
But our financial crisis was caused by factors that affected the entire system, just as all corn kernels pop when they are warmed by the same flame. This lesson is important because interpreting our crisis as primarily a contagion event leads to the wrong strategies for dealing with potential disasters. After Lehman, Europeans seem to be so taken with worries of contagion that they are failing to emphasize remedies that actually have a chance of making things better. In their case, and in ours, the solution is primarily a reduction in the bloated size of government expenditures that come about by making promises that cannot be kept.
Especially in Italy and Portugal, as in Greece, the government has grown more rapidly than the economy, which has meant unsustainable government borrowing. Preventing a Greek default will not reverse the lackluster growth that has plagued the other vulnerable countries for many years now. As for the U.S., our economy will be stronger if Europe's health improves, but we must address our own underlying structural problems that are associated with a doubling of our 2008 debt levels by next year. No bailout of another economy will restore our fiscal health or that of Europe.
The cases of Estonia and Turkey attest to the effectiveness of structural change. After a significant economic contraction in 2001, Turkey embarked on a new path of rapid fiscal consolidation. By the end of 2002, growth was 6% and by 2004, 9%. Rather than slowing the economy further, government tightening was associated with strong and almost immediate growth. More recently, Estonia, which experienced almost a 20% contraction by the end of 2009, instituted fiscal reforms. Among them was a 10% reduction in government operating expenses and a flattening of the pension growth trajectory. In 2010, the year following the reforms, growth had already turned positive, to around 3%, and it is forecast to be above 6% for 2011.
These two examples, and that of our own financial crisis, suggest that fundamental problems need to be addressed early and forcefully. Both in Europe and the U.S., structural weakness stems from government excess and slow economic growth. More important than stemming contagion is reversing the policies that created the problem in the first place.
Mr. Lazear, chairman of the President's Council of Economic Advisers from 2006-09, is a professor at Stanford's Graduate School of Business and a Hoover Institution fellow.
It seems everyone is worried that problems in Europe will derail our fragile recovery. For this reason, markets breathed a sigh of relief when the Europeans came up with a plan to provide yet another reprieve to Greece. The main worry, now somewhat eased, was that a Greek default would spread to countries like Italy, Spain and Portugal.
Although there are legitimate concerns about contagion, the fundamental problem facing Europe is one of governments becoming too big to be supported by the economy. Unless Europe solves its fundamental problems with meaningful structural reform, a temporary debt restructuring, no matter how clever, will fail to right the ship. Closer to home, the same issues that threaten Europe may soon become immediate concerns to Americans.
To understand why, consider two theories of economic destruction, which can be labeled the domino theory and the popcorn theory. Everyone knows the domino theory; it is the analogy that is commonly used to denote contagion. If one domino falls, it will topple the others, and conversely, if the first domino remains upright, the others will not fall. It is this logic that underlies most bailout strategies.
The popcorn theory emphasizes a different mechanism. When popcorn is made (the old fashioned way), oil and corn kernels are placed in the bottom of a pan, heat is applied and the kernels pop. Were the first kernel to pop removed from the pan, there would be no noticeable difference. The other kernels would pop anyway because of the heat. The fundamental structural cause is the heat, not the fact that one kernel popped, triggering others to follow.
Many who believe that bailouts will solve Europe's problems cite the Sept. 15, 2008 bankruptcy of Lehman Brothers as evidence of what allowing one domino to fall can do to an economy. This is a misreading of the historical record. Our financial crisis was mostly a popcorn phenomenon. At the risk of sounding defensive (I was in the government at the time), I believe that Lehman's downfall was more a result of the factors that weakened our economic structure than the cause of the crisis.
Consider the events of 2007-08 that either preceded or had nothing to do with Lehman. World liquidity showed major signs of tightening by early August 2007. The recession began in December 2007. Bear Stearns failed and was rescued in early 2008. The auction-rate securities markets failed in the first half of 2008, monoline insurers encountered major difficulties during the spring, and, if not for some creative behind-the-scenes work, the student-loan market would have failed by that summer. The Dow Jones Industrial Average had lost about 3000 points from its peak by September 2008.
The week before Lehman failed, Fannie Mae and Freddie Mac, both on the edge of bankruptcy, were placed into conservatorship. On the weekend that the Lehman deal fell through, Merrill Lynch, also on the brink, was saved by Bank of America. By that weekend AIG was already showing signs of likely failure, as were Washington Mutual and Wachovia. Although GM and Chrysler crashed post-Lehman and were kept alive by a government loan, their troubles resulted from the decline in auto sales, coupled with noncompetitive costs. The sum of these events was more than enough to be called a financial crisis and to worsen the recession that was already under way.
Lehman's demise may well have been an exacerbating factor in the financial crisis and perhaps things might not have been as bad had Lehman not failed. Most directly, the Reserve Primary Fund, a money-market mutual fund that held $785 million in Lehman-issued securities, couldn't meet investor requests for redemptions at par value. That likely triggered a run on money markets. Other markets may also have been affected by Lehman's demise. One does not have to deny the role of contagion to believe that Lehman was not the domino that toppled the others.
But our financial crisis was caused by factors that affected the entire system, just as all corn kernels pop when they are warmed by the same flame. This lesson is important because interpreting our crisis as primarily a contagion event leads to the wrong strategies for dealing with potential disasters. After Lehman, Europeans seem to be so taken with worries of contagion that they are failing to emphasize remedies that actually have a chance of making things better. In their case, and in ours, the solution is primarily a reduction in the bloated size of government expenditures that come about by making promises that cannot be kept.
Especially in Italy and Portugal, as in Greece, the government has grown more rapidly than the economy, which has meant unsustainable government borrowing. Preventing a Greek default will not reverse the lackluster growth that has plagued the other vulnerable countries for many years now. As for the U.S., our economy will be stronger if Europe's health improves, but we must address our own underlying structural problems that are associated with a doubling of our 2008 debt levels by next year. No bailout of another economy will restore our fiscal health or that of Europe.
The cases of Estonia and Turkey attest to the effectiveness of structural change. After a significant economic contraction in 2001, Turkey embarked on a new path of rapid fiscal consolidation. By the end of 2002, growth was 6% and by 2004, 9%. Rather than slowing the economy further, government tightening was associated with strong and almost immediate growth. More recently, Estonia, which experienced almost a 20% contraction by the end of 2009, instituted fiscal reforms. Among them was a 10% reduction in government operating expenses and a flattening of the pension growth trajectory. In 2010, the year following the reforms, growth had already turned positive, to around 3%, and it is forecast to be above 6% for 2011.
These two examples, and that of our own financial crisis, suggest that fundamental problems need to be addressed early and forcefully. Both in Europe and the U.S., structural weakness stems from government excess and slow economic growth. More important than stemming contagion is reversing the policies that created the problem in the first place.
Mr. Lazear, chairman of the President's Council of Economic Advisers from 2006-09, is a professor at Stanford's Graduate School of Business and a Hoover Institution fellow.
Published on October 31, 2011 06:02
Juventude sequestrada
Carlos Alberto Di Franco - O Estado de S.Paulo
O crescimento dos casos de aids, o aumento da violência e a escalada das drogas castigam a juventude na velha Europa. A crise econômica, dramática e visível a olho nu, exacerba o clima de desesperança. Para muitos jovens os anos da adolescência serão os mais perigosos da vida deles.
Desemprego, gravidez precoce, aborto, doenças sexualmente transmissíveis, aids e drogas compõem a trágica equação que ameaça destruir o sonho juvenil e escancarar as portas para uma explosão de violência. A juventude não foi preparada para a adversidade. E a delinquência é, frequentemente, a manifestação visível da frustração.
A situação é reflexo de uma cachoeira de equívocos e de uma montanha de omissões. O novo perfil da delinquência é o resultado acabado da crise da família, da educação permissiva e do bombardeio de setores do mundo do entretenimento que se empenham em apagar qualquer vestígio de valores.
Tudo isso, obviamente, agravado e exacerbado pela crise econômica e pela ausência de expectativas.
Os pais da geração transgressora têm grande parte da culpa. Choram os desvios que cresceram no terreno fertilizado pela omissão. O delito não é apenas reflexo da falência da autoridade familiar. É, muitas vezes, um grito de revolta e carência. A pobreza material agride o corpo, mas a falta de amor castiga a alma. Os adolescentes necessitam de pais morais, e não de pais materiais.
Reféns da cultura da autorrealização, alguns pais não suportam ser incomodados pelas necessidades dos filhos. O vazio afetivo - imaginam, na insanidade do seu egoísmo - pode ser preenchido com carros, boas mesadas e um celular para casos de emergência. Acuados pela desenvoltura antissocial dos seus filhos, recorrem ao salva-vidas da psicoterapia. E é aí que a coisa pode complicar. Como dizia Otto Lara Rezende, com ironia e certa dose de injusta generalização, "a psicanálise é a maneira mais rápida e objetiva de ensinar a odiar o pai, a mãe e os melhores amigos". Na verdade, a demissão do exercício da paternidade está na raiz do problema.
Se a crescente falange de adolescentes criminosos deixa algo claro, é o fato de que cada vez mais pais não conhecem os próprios filhos. Não é difícil imaginar em que ambiente afetivo se desenvolvem os integrantes das gangues juvenis. As análises dos especialistas em políticas públicas esgrimem inúmeros argumentos politicamente corretos. Fala-se de tudo, menos da crise da família. Mas o nó está aí. Se não tivermos a firmeza de desatá-lo, assistiremos, acovardados e paralisados, a uma espiral de violência sem precedentes. É uma questão de tempo. Infelizmente.
Certas teorias no campo da educação, cultivadas em escolas que fizeram uma opção preferencial pela permissividade, também estão apresentando um amargo resultado. Uma legião de desajustados, que cresceu à sombra do dogma da educação não traumatizante, está mostrando a sua face criminosa.
Ao traçar o perfil de alguns desvios da sociedade norte-americana, o sociólogo Christopher Lasch - autor do livro A Rebelião das Elites - sublinha as dramáticas consequências que estão ocultas sob a aparência da tolerância: "Gastamos a maior parte da nossa energia no combate à vergonha e à culpa, pretendendo que as pessoas se sentissem bem consigo mesmas".
O saldo é uma geração desorientada e vazia. A despersonalização da culpa e a certeza da impunidade têm gerado uma onda de superpredadores.
O inchaço do ego e o emagrecimento da solidariedade estão na origem de inúmeras patologias. A forja do caráter, compatível com o clima de verdadeira liberdade, começa a ganhar contornos de solução válida. Pena que tenhamos de pagar um preço tão alto para redescobrir o óbvio.
O pragmatismo e a irresponsabilidade de alguns setores do mundo do entretenimento estão na outra ponta do problema. A era do mundo do espetáculo, rigorosamente medida pelas oscilações do Ibope, tem na violência uma de suas alavancas. A transgressão passou a ser a diversão mais rotineira de todas. A valorização do sucesso sem limites éticos, a apresentação de desvios comportamentais num clima de normalidade e a consagração da impunidade têm colaborado para o aparecimento de mauricinhos do crime. Apoiados numa manipulação do conceito de liberdade artística e de expressão, alguns programas de TV crescem à sombra da exploração das paixões humanas. Ao subestimar a influência perniciosa da violência ficcional, levam adolescentes ao delírio em shows de auditório que promovem uma grotesca sucessão de quadros desumanizadores e humilhantes. A guerra pela conquista de mercados passa por cima de quaisquer balizas éticas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o marketing do entretenimento com conteúdo violento está apontando as baterias na direção do público infantil.
A onipresença de uma televisão pouco responsável e a transformação da internet num descontrolado espaço para a manifestação de atividades criminosas (a pedofilia, o racismo e a oferta de drogas, frequentemente presentes na clandestinidade de alguns sites, desconhecem fronteiras, ironizam legislações e ameaçam o Estado Democrático de Direito) estão na origem de inúmeros comportamentos patológicos.
É preciso ir às causas profundas da delinquência. Ou encaramos tudo isso com coragem ou seremos tragados por uma onda de violência jamais vista. O resultado final da pedagogia da concessão, da desestruturação familiar e da crise da autoridade está apresentando consequências dramáticas na Europa. Escarmentemos em cabeça alheia. Chegou para todos a hora de falar claro. É preciso pôr o dedo na chaga e identificar a relação que existe entre o medo de punir e os seus efeitos antissociais.
O autor é doutor em Comunicação, professor de Ética e diretor do Master em Jornalismo.
O crescimento dos casos de aids, o aumento da violência e a escalada das drogas castigam a juventude na velha Europa. A crise econômica, dramática e visível a olho nu, exacerba o clima de desesperança. Para muitos jovens os anos da adolescência serão os mais perigosos da vida deles.
Desemprego, gravidez precoce, aborto, doenças sexualmente transmissíveis, aids e drogas compõem a trágica equação que ameaça destruir o sonho juvenil e escancarar as portas para uma explosão de violência. A juventude não foi preparada para a adversidade. E a delinquência é, frequentemente, a manifestação visível da frustração.
A situação é reflexo de uma cachoeira de equívocos e de uma montanha de omissões. O novo perfil da delinquência é o resultado acabado da crise da família, da educação permissiva e do bombardeio de setores do mundo do entretenimento que se empenham em apagar qualquer vestígio de valores.
Tudo isso, obviamente, agravado e exacerbado pela crise econômica e pela ausência de expectativas.
Os pais da geração transgressora têm grande parte da culpa. Choram os desvios que cresceram no terreno fertilizado pela omissão. O delito não é apenas reflexo da falência da autoridade familiar. É, muitas vezes, um grito de revolta e carência. A pobreza material agride o corpo, mas a falta de amor castiga a alma. Os adolescentes necessitam de pais morais, e não de pais materiais.
Reféns da cultura da autorrealização, alguns pais não suportam ser incomodados pelas necessidades dos filhos. O vazio afetivo - imaginam, na insanidade do seu egoísmo - pode ser preenchido com carros, boas mesadas e um celular para casos de emergência. Acuados pela desenvoltura antissocial dos seus filhos, recorrem ao salva-vidas da psicoterapia. E é aí que a coisa pode complicar. Como dizia Otto Lara Rezende, com ironia e certa dose de injusta generalização, "a psicanálise é a maneira mais rápida e objetiva de ensinar a odiar o pai, a mãe e os melhores amigos". Na verdade, a demissão do exercício da paternidade está na raiz do problema.
Se a crescente falange de adolescentes criminosos deixa algo claro, é o fato de que cada vez mais pais não conhecem os próprios filhos. Não é difícil imaginar em que ambiente afetivo se desenvolvem os integrantes das gangues juvenis. As análises dos especialistas em políticas públicas esgrimem inúmeros argumentos politicamente corretos. Fala-se de tudo, menos da crise da família. Mas o nó está aí. Se não tivermos a firmeza de desatá-lo, assistiremos, acovardados e paralisados, a uma espiral de violência sem precedentes. É uma questão de tempo. Infelizmente.
Certas teorias no campo da educação, cultivadas em escolas que fizeram uma opção preferencial pela permissividade, também estão apresentando um amargo resultado. Uma legião de desajustados, que cresceu à sombra do dogma da educação não traumatizante, está mostrando a sua face criminosa.
Ao traçar o perfil de alguns desvios da sociedade norte-americana, o sociólogo Christopher Lasch - autor do livro A Rebelião das Elites - sublinha as dramáticas consequências que estão ocultas sob a aparência da tolerância: "Gastamos a maior parte da nossa energia no combate à vergonha e à culpa, pretendendo que as pessoas se sentissem bem consigo mesmas".
O saldo é uma geração desorientada e vazia. A despersonalização da culpa e a certeza da impunidade têm gerado uma onda de superpredadores.
O inchaço do ego e o emagrecimento da solidariedade estão na origem de inúmeras patologias. A forja do caráter, compatível com o clima de verdadeira liberdade, começa a ganhar contornos de solução válida. Pena que tenhamos de pagar um preço tão alto para redescobrir o óbvio.
O pragmatismo e a irresponsabilidade de alguns setores do mundo do entretenimento estão na outra ponta do problema. A era do mundo do espetáculo, rigorosamente medida pelas oscilações do Ibope, tem na violência uma de suas alavancas. A transgressão passou a ser a diversão mais rotineira de todas. A valorização do sucesso sem limites éticos, a apresentação de desvios comportamentais num clima de normalidade e a consagração da impunidade têm colaborado para o aparecimento de mauricinhos do crime. Apoiados numa manipulação do conceito de liberdade artística e de expressão, alguns programas de TV crescem à sombra da exploração das paixões humanas. Ao subestimar a influência perniciosa da violência ficcional, levam adolescentes ao delírio em shows de auditório que promovem uma grotesca sucessão de quadros desumanizadores e humilhantes. A guerra pela conquista de mercados passa por cima de quaisquer balizas éticas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o marketing do entretenimento com conteúdo violento está apontando as baterias na direção do público infantil.
A onipresença de uma televisão pouco responsável e a transformação da internet num descontrolado espaço para a manifestação de atividades criminosas (a pedofilia, o racismo e a oferta de drogas, frequentemente presentes na clandestinidade de alguns sites, desconhecem fronteiras, ironizam legislações e ameaçam o Estado Democrático de Direito) estão na origem de inúmeros comportamentos patológicos.
É preciso ir às causas profundas da delinquência. Ou encaramos tudo isso com coragem ou seremos tragados por uma onda de violência jamais vista. O resultado final da pedagogia da concessão, da desestruturação familiar e da crise da autoridade está apresentando consequências dramáticas na Europa. Escarmentemos em cabeça alheia. Chegou para todos a hora de falar claro. É preciso pôr o dedo na chaga e identificar a relação que existe entre o medo de punir e os seus efeitos antissociais.
O autor é doutor em Comunicação, professor de Ética e diretor do Master em Jornalismo.
Published on October 31, 2011 04:54
October 30, 2011
República destroçada
Marco Antonio Villa - O Estado de S.Paulo
Em 1899 um velho militante, desiludido com os rumos do regime, escreveu que a República não tinha sido proclamada naquele mesmo ano, mas somente anunciada. Dez anos depois continuava aguardando a materialização do seu sonho. Era um otimista. Mais de cem anos depois, o que temos é uma República em frangalhos, destroçada.
Constituições, códigos, leis, decretos, um emaranhado legal caótico. Mas nada consegue regular o bom funcionamento da democracia brasileira. Ética, moralidade, competência, eficiência, compromisso público simplesmente desapareceram. Temos um amontoado de políticos vorazes, saqueadores do erário. A impunidade acabou transformando alguns deles em referências morais, por mais estranho que pareça. Um conhecido político, símbolo da corrupção, do roubo de dinheiro público, do desvio de milhões e milhões de reais, chegou a comemorar recentemente, com muita pompa, o seu aniversário cercado pelas mais altas autoridades da República.
Vivemos uma época do vale-tudo. Desapareceram os homens públicos. Foram substituídos pelos políticos profissionais. Todos querem enriquecer a qualquer preço. E rapidamente. Não importam os meios. Garantidos pela impunidade, sabem que se forem apanhados têm sempre uma banca de advogados, regiamente pagos, para livrá-los de alguma condenação.
São anos marcados pela hipocrisia. Não há mais ideologia. Longe disso. A disputa política é pelo poder, que tudo pode e no qual nada é proibido. Pois os poderosos exercem o controle do Estado - controle no sentido mais amplo e autocrático possível. Feio não é violar a lei, mas perder uma eleição, estar distante do governo.
O Brasil de hoje é uma sociedade invertebrada. Amorfa, passiva, sem capacidade de reação, por mínima que seja. Não há mais distinção. O panorama político foi ficando cinzento, dificultando identificar as diferenças. Partidos, ações administrativas, programas partidários são meras fantasias, sem significados e facilmente substituíveis. O prazo de validade de uma aliança política, de um projeto de governo, é sempre muito curto. O aliado de hoje é facilmente transformado no adversário de amanhã, tudo porque o que os unia era meramente o espólio do poder.
Neste universo sombrio, somente os áulicos - e são tantos - é que podem estar satisfeitos. São os modernos bobos da corte. Devem sempre alegrar e divertir os poderosos, ser servis, educados e gentis. E não é de bom tom dizer que o rei está nu. Sobrevivem sempre elogiando e encontrando qualidades onde só há o vazio.
Mas a realidade acaba se impondo. Nenhum dos três Poderes consegue funcionar com um mínimo de eficiência. E republicanismo. Todos estão marcados pelo filhotismo, pela corrupção e incompetência. E nas três esferas: municipal, estadual e federal. O País conseguiu desmoralizar até novidades como as formas alternativas de trabalho social, as organizações não governamentais (ONGs). E mais: os Tribunais de Contas, que deveriam vigiar a aplicação do dinheiro público, são instrumentos de corrupção. E não faltam exemplos nos Estados, até mesmo nos mais importantes. A lista dos desmazelos é enorme e faltariam linhas e mais linhas para descrevê-los.
A política nacional tem a seriedade das chanchadas da Atlântida. Com a diferença de que ninguém tem o talento de um Oscarito ou de um Grande Otelo. Os nossos políticos, em sua maioria, são canastrões, representam mal, muito mal, o papel de estadistas. Seriam, no máximo, meros figurantes em Nem Sansão nem Dalila. Grande parte deles não tem ideias próprias. Porém se acham em alta conta.
Um deles anunciou, com muita antecedência, que faria um importante pronunciamento no Senado. Seria o seu primeiro discurso. Pelo apresentado, é bom que seja o último. Deu a entender que era uma espécie de Winston Churchill das montanhas. Não era, nunca foi. Estava mais para ator de comédia pastelão. Agora prometeu ficar em silêncio. Fez bem, é mais prudente. Como diziam os antigos, quem não tem nada a dizer deve ficar calado.
Resta rir. Quem acompanha pela televisão as sessões do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e as entrevistas dos membros do Poder Executivo sabe o que estou dizendo. O quadro é desolador. Alguns mal sabem falar. É difícil - muito difícil mesmo, sem exagero - entender do que estão tratando. Em certos momentos parecem fazer parte de alguma sociedade secreta, pois nós - pobres cidadãos - temos dificuldade de compreender algumas decisões. Mas não se esquecem do ritualismo. Se não há seriedade no trato dos assuntos públicos, eles tentam manter as aparências, mesmo que nada republicanas. O STF tem funcionários somente para colocar as capas nos ministros (são chamados de "capinhas") e outros para puxar a cadeira, nas sessões públicas, quando alguma excelência tem de se sentar para trabalhar.
Vivemos numa República bufa. A constatação não é feita com satisfação, muito pelo contrário. Basta ler o Estadão todo santo dia. As notícias são desesperadoras. A falta de compostura virou grife. Com o perdão da expressão, mas parece que quanto mais canalha, melhor. Os corruptos já não ficam envergonhados. Buscam até justificativa histórica para privilégios. O leitor deve se lembrar do símbolo maior da oligarquia nacional - e que exerce o domínio absoluto do seu Estado, uma verdadeira capitania familiar - proclamando aos quatro ventos seu "direito" de se deslocar em veículos aéreos mesmo em atividade privada.
Certa vez, Gregório de Matos Guerra iniciou um poema com o conhecido "Triste Bahia". Bem, como ninguém lê mais o Boca do Inferno, posso escrever (como se fosse meu): triste Brasil. Pouco depois, o grande poeta baiano continuou: "Pobre te vejo a ti". É a melhor síntese do nosso país.
HISTORIADOR, É PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS(UFSCAR)
Em 1899 um velho militante, desiludido com os rumos do regime, escreveu que a República não tinha sido proclamada naquele mesmo ano, mas somente anunciada. Dez anos depois continuava aguardando a materialização do seu sonho. Era um otimista. Mais de cem anos depois, o que temos é uma República em frangalhos, destroçada.
Constituições, códigos, leis, decretos, um emaranhado legal caótico. Mas nada consegue regular o bom funcionamento da democracia brasileira. Ética, moralidade, competência, eficiência, compromisso público simplesmente desapareceram. Temos um amontoado de políticos vorazes, saqueadores do erário. A impunidade acabou transformando alguns deles em referências morais, por mais estranho que pareça. Um conhecido político, símbolo da corrupção, do roubo de dinheiro público, do desvio de milhões e milhões de reais, chegou a comemorar recentemente, com muita pompa, o seu aniversário cercado pelas mais altas autoridades da República.
Vivemos uma época do vale-tudo. Desapareceram os homens públicos. Foram substituídos pelos políticos profissionais. Todos querem enriquecer a qualquer preço. E rapidamente. Não importam os meios. Garantidos pela impunidade, sabem que se forem apanhados têm sempre uma banca de advogados, regiamente pagos, para livrá-los de alguma condenação.
São anos marcados pela hipocrisia. Não há mais ideologia. Longe disso. A disputa política é pelo poder, que tudo pode e no qual nada é proibido. Pois os poderosos exercem o controle do Estado - controle no sentido mais amplo e autocrático possível. Feio não é violar a lei, mas perder uma eleição, estar distante do governo.
O Brasil de hoje é uma sociedade invertebrada. Amorfa, passiva, sem capacidade de reação, por mínima que seja. Não há mais distinção. O panorama político foi ficando cinzento, dificultando identificar as diferenças. Partidos, ações administrativas, programas partidários são meras fantasias, sem significados e facilmente substituíveis. O prazo de validade de uma aliança política, de um projeto de governo, é sempre muito curto. O aliado de hoje é facilmente transformado no adversário de amanhã, tudo porque o que os unia era meramente o espólio do poder.
Neste universo sombrio, somente os áulicos - e são tantos - é que podem estar satisfeitos. São os modernos bobos da corte. Devem sempre alegrar e divertir os poderosos, ser servis, educados e gentis. E não é de bom tom dizer que o rei está nu. Sobrevivem sempre elogiando e encontrando qualidades onde só há o vazio.
Mas a realidade acaba se impondo. Nenhum dos três Poderes consegue funcionar com um mínimo de eficiência. E republicanismo. Todos estão marcados pelo filhotismo, pela corrupção e incompetência. E nas três esferas: municipal, estadual e federal. O País conseguiu desmoralizar até novidades como as formas alternativas de trabalho social, as organizações não governamentais (ONGs). E mais: os Tribunais de Contas, que deveriam vigiar a aplicação do dinheiro público, são instrumentos de corrupção. E não faltam exemplos nos Estados, até mesmo nos mais importantes. A lista dos desmazelos é enorme e faltariam linhas e mais linhas para descrevê-los.
A política nacional tem a seriedade das chanchadas da Atlântida. Com a diferença de que ninguém tem o talento de um Oscarito ou de um Grande Otelo. Os nossos políticos, em sua maioria, são canastrões, representam mal, muito mal, o papel de estadistas. Seriam, no máximo, meros figurantes em Nem Sansão nem Dalila. Grande parte deles não tem ideias próprias. Porém se acham em alta conta.
Um deles anunciou, com muita antecedência, que faria um importante pronunciamento no Senado. Seria o seu primeiro discurso. Pelo apresentado, é bom que seja o último. Deu a entender que era uma espécie de Winston Churchill das montanhas. Não era, nunca foi. Estava mais para ator de comédia pastelão. Agora prometeu ficar em silêncio. Fez bem, é mais prudente. Como diziam os antigos, quem não tem nada a dizer deve ficar calado.
Resta rir. Quem acompanha pela televisão as sessões do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e as entrevistas dos membros do Poder Executivo sabe o que estou dizendo. O quadro é desolador. Alguns mal sabem falar. É difícil - muito difícil mesmo, sem exagero - entender do que estão tratando. Em certos momentos parecem fazer parte de alguma sociedade secreta, pois nós - pobres cidadãos - temos dificuldade de compreender algumas decisões. Mas não se esquecem do ritualismo. Se não há seriedade no trato dos assuntos públicos, eles tentam manter as aparências, mesmo que nada republicanas. O STF tem funcionários somente para colocar as capas nos ministros (são chamados de "capinhas") e outros para puxar a cadeira, nas sessões públicas, quando alguma excelência tem de se sentar para trabalhar.
Vivemos numa República bufa. A constatação não é feita com satisfação, muito pelo contrário. Basta ler o Estadão todo santo dia. As notícias são desesperadoras. A falta de compostura virou grife. Com o perdão da expressão, mas parece que quanto mais canalha, melhor. Os corruptos já não ficam envergonhados. Buscam até justificativa histórica para privilégios. O leitor deve se lembrar do símbolo maior da oligarquia nacional - e que exerce o domínio absoluto do seu Estado, uma verdadeira capitania familiar - proclamando aos quatro ventos seu "direito" de se deslocar em veículos aéreos mesmo em atividade privada.
Certa vez, Gregório de Matos Guerra iniciou um poema com o conhecido "Triste Bahia". Bem, como ninguém lê mais o Boca do Inferno, posso escrever (como se fosse meu): triste Brasil. Pouco depois, o grande poeta baiano continuou: "Pobre te vejo a ti". É a melhor síntese do nosso país.
HISTORIADOR, É PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS(UFSCAR)
Published on October 30, 2011 13:18
Rodrigo Constantino's Blog
- Rodrigo Constantino's profile
- 32 followers
Rodrigo Constantino isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.