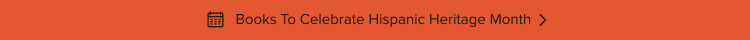Rodrigo Constantino's Blog, page 399
December 22, 2011
Fascismo quase disfarçado
JOSÉ SERRA, O Globo
Nos anos recentes, o ímpeto petista para cercear a liberdade de expressão e de impressa vem sendo contido por dois fatores: a resistência da opinião pública e a vigilância do Supremo Tribunal Federal. Poderia haver também alguma barreira congressual, mas essa parece cada vez mais neutralizada pela avassaladora maioria do Executivo.
É um quadro preocupante, visto que o PT só tem recuado de seus propósitos quando enfrenta resistência feroz. Aconteceu no Programa Nacional de Direitos Humanos, na sua versão petista, o PNDH-3. Aconteceu também na última campanha eleitoral, quando a candidata oficial precisou assumir compromissos explícitos com a liberdade para evitar uma decisiva erosão de votos.
Mas não nos enganemos. Qualquer compromisso do PT com a liberdade e a pluralidade de opinião e manifestação será sempre tático, utilitário, à espera da situação ideal de forças em que se torne finalmente desnecessário. Para o PT, não basta a liberdade de emitir a própria opinião, é preciso "regular" o direito alheio de oferecer uma ideia eventualmente contrária.
O PT construiu e financia ao longo destes anos no governo toda uma rede para não apenas emitir a própria opinião e veicular a informação que considera adequada, mas para tentar atemorizar, constranger, coagir quem por algum motivo acha que deve pensar diferente. Basta o sujeito trafegar na contramão das versões oficiais para receber uma enxurrada de ataques, xingamentos e agressões à honra.
Outro dia um prócer do petismo lamentou não haver, segundo ele, veículos governistas. Trata-se de um exagero, mas o ponto é útil para o debate. Ora, se o PT sente falta de uma imprensa governista, que crie uma capaz de estabelecer-se no mercado e concorrer. Mas a coisa não vai por aí. O que o PT deseja é transformar em governistas todos os veículos existentes, para anular a fiscalização e a crítica.
O governo Dilma Rousseff deve ter batido neste primeiro ano o recorde mundial de velocidade de ministros caídos sob suspeita de corrupção. E parece ainda haver outros a caminho. As acusações foram veiculadas pela imprensa, na maioria, e a presidente considerou que eram graves o bastante, tanto que deixou os auxiliares envolvidos irem para casa. Mas, no universo paralelo petista, e mesmo na alma do governo, trata-se apenas de uma conspiração da imprensa.
Pouco a pouco, o PT procura construir no seu campo a ideia de que uma imprensa livre é incompatível com a estabilidade política, com o desenvolvimento do país e a busca da justiça social. E certamente tentará usar a maioria congressual para atacar os princípios constitucionais que garantem a liberdade de crítica, de manifestação e o exercício do direito de informar e opinar.
Na vizinha Argentina assistimos ao fechamento do cerco governamental em torno da imprensa. A última medida nesse sentido é a estatização do direito de produzir e importar papel para a atividade. O governo é quem vai decidir a quanto papel o veículo tem direito. É desnecessário estender-se sobre as consequências desse absurdo.
O PT e seus aliados continentais têm tratado do tema de modo bastante claro, em todos os fóruns possíveis. Seria a luta contra o "imperialismo midiático", conceito que atribui toda crítica e contestação a interesses espúrios de potências estrangeiras associadas a "elites" locais. Um arcabouço mental que busca legitimar as pressões liberticidas. Um fascismo (mal)disfarçado.No cenário sul-americano, o Brasil vem por enquanto resistindo bastante bem a esses movimentos, na comparação com os vizinhos. Ajudam aqui a Constituição e a existência de uma sociedade civil forte e diversificada. Mas nenhuma fortaleza é inexpugnável. Especialmente quando a economia depende em grau excessivo do Estado, e portanto do governo.
Nenhuma liberdade se conquista sem luta, sabemos disso. Lutamos contra a ditadura, ombreados, inclusive, aos que só estavam conosco porque a ditadura não era deles. Mas essa liberdade que obtivemos precisa ser defendida a todo momento, num processo dinâmico, pois os ataques a ela também são permanentes.
Nos anos recentes, o ímpeto petista para cercear a liberdade de expressão e de impressa vem sendo contido por dois fatores: a resistência da opinião pública e a vigilância do Supremo Tribunal Federal. Poderia haver também alguma barreira congressual, mas essa parece cada vez mais neutralizada pela avassaladora maioria do Executivo.
É um quadro preocupante, visto que o PT só tem recuado de seus propósitos quando enfrenta resistência feroz. Aconteceu no Programa Nacional de Direitos Humanos, na sua versão petista, o PNDH-3. Aconteceu também na última campanha eleitoral, quando a candidata oficial precisou assumir compromissos explícitos com a liberdade para evitar uma decisiva erosão de votos.
Mas não nos enganemos. Qualquer compromisso do PT com a liberdade e a pluralidade de opinião e manifestação será sempre tático, utilitário, à espera da situação ideal de forças em que se torne finalmente desnecessário. Para o PT, não basta a liberdade de emitir a própria opinião, é preciso "regular" o direito alheio de oferecer uma ideia eventualmente contrária.
O PT construiu e financia ao longo destes anos no governo toda uma rede para não apenas emitir a própria opinião e veicular a informação que considera adequada, mas para tentar atemorizar, constranger, coagir quem por algum motivo acha que deve pensar diferente. Basta o sujeito trafegar na contramão das versões oficiais para receber uma enxurrada de ataques, xingamentos e agressões à honra.
Outro dia um prócer do petismo lamentou não haver, segundo ele, veículos governistas. Trata-se de um exagero, mas o ponto é útil para o debate. Ora, se o PT sente falta de uma imprensa governista, que crie uma capaz de estabelecer-se no mercado e concorrer. Mas a coisa não vai por aí. O que o PT deseja é transformar em governistas todos os veículos existentes, para anular a fiscalização e a crítica.
O governo Dilma Rousseff deve ter batido neste primeiro ano o recorde mundial de velocidade de ministros caídos sob suspeita de corrupção. E parece ainda haver outros a caminho. As acusações foram veiculadas pela imprensa, na maioria, e a presidente considerou que eram graves o bastante, tanto que deixou os auxiliares envolvidos irem para casa. Mas, no universo paralelo petista, e mesmo na alma do governo, trata-se apenas de uma conspiração da imprensa.
Pouco a pouco, o PT procura construir no seu campo a ideia de que uma imprensa livre é incompatível com a estabilidade política, com o desenvolvimento do país e a busca da justiça social. E certamente tentará usar a maioria congressual para atacar os princípios constitucionais que garantem a liberdade de crítica, de manifestação e o exercício do direito de informar e opinar.
Na vizinha Argentina assistimos ao fechamento do cerco governamental em torno da imprensa. A última medida nesse sentido é a estatização do direito de produzir e importar papel para a atividade. O governo é quem vai decidir a quanto papel o veículo tem direito. É desnecessário estender-se sobre as consequências desse absurdo.
O PT e seus aliados continentais têm tratado do tema de modo bastante claro, em todos os fóruns possíveis. Seria a luta contra o "imperialismo midiático", conceito que atribui toda crítica e contestação a interesses espúrios de potências estrangeiras associadas a "elites" locais. Um arcabouço mental que busca legitimar as pressões liberticidas. Um fascismo (mal)disfarçado.No cenário sul-americano, o Brasil vem por enquanto resistindo bastante bem a esses movimentos, na comparação com os vizinhos. Ajudam aqui a Constituição e a existência de uma sociedade civil forte e diversificada. Mas nenhuma fortaleza é inexpugnável. Especialmente quando a economia depende em grau excessivo do Estado, e portanto do governo.
Nenhuma liberdade se conquista sem luta, sabemos disso. Lutamos contra a ditadura, ombreados, inclusive, aos que só estavam conosco porque a ditadura não era deles. Mas essa liberdade que obtivemos precisa ser defendida a todo momento, num processo dinâmico, pois os ataques a ela também são permanentes.
Published on December 22, 2011 05:09
What Ron Paul Thinks of America

By DOROTHY RABINOWITZ, WSJ
Ron Paul's supporters are sure of one thing: Their candidate has always been consistent—a point Dr. Paul himself has been making with increasing frequency. It's a thought that comes up with a certain inevitability now in those roundtables on the Republican field. One cable commentator genially instructed us last Friday, "You have to give Paul credit for sticking to his beliefs."
He was speaking, it's hardly necessary to say, of a man who holds some noteworthy views in a candidate for the presidency of the United States. One who is the best-known of our homegrown propagandists for our chief enemies in the world. One who has made himself a leading spokesman for, and recycler of, the long and familiar litany of charges that point to the United States as a leading agent of evil and injustice, the militarist victimizer of millions who want only to live in peace.
Hear Dr. Paul on the subject of the 9/11 terror attacks—an event, he assures his audiences, that took place only because of U.S. aggression and military actions. True, we've heard the assertions before. But rarely have we heard in any American political figure such exclusive concern for, and appreciation of, the motives of those who attacked us—and so resounding a silence about the suffering of those thousands that the perpetrators of 9/11 set out so deliberately to kill.
There is among some supporters now drawn to Dr. Paul a tendency to look away from the candidate's reflexive way of assigning the blame for evil—the evil, in particular, of terrorism—to the United States.
One devout libertarian told me recently that candidate Paul "believes in all the things I do about the menace of government control, and he's a defender of the Constitution—I just intend to take what I like about him." The speaker, educated and highly accomplished in his field (music), is a committed internationalist whose views on American power are polar opposites of those his candidate espouses. No matter. Having tuned out all else that candidate has said—with, yes, perfect consistency—it was enough for him that Dr. Paul upheld libertarian values.
This admirer is representative of a fair number of people now flocking to the Paul campaign or thinking of doing so. It may come as a surprise to a few of them that in the event of a successful campaign, a President Paul won't be making decisions based just on the parts of his values that his supporters find endearing. He'd be making decisions about the nation's defense, national security, domestic policy and much else. He'd be the official voice of America—and, in one conspicuous regard, a familiar one.
The world may not be ready for another American president traversing half the globe to apologize for the misdeeds of the nation he had just been elected to lead. Still, it would be hard to find any public figure in America whose views more closely echo those of President Obama on that tour.
Most of Dr. Paul's supporters, of course, don't actually imagine he can become president. Nor do they dwell on the implications of the enlarged influence conferred on him by a few early primary victories (a third-party run is not something he rules out, the ever-consistent Dr. Paul has repeatedly said under questioning).
A grandfatherly sort who dispenses family cookbooks on the campaign trail, candidate Paul is entirely aware of the value of being liked. He has of late even tried softening the tone of some of his comments on the crime of foreign aid and such, but it doesn't last long. There he was at the debate last Thursday waving his arms, charging that the U.S. was declaring "war on 1.2 billion Muslims," that it "viewed all Muslims as the same." Yes, he allowed, "there are a few radicals"—and then he proceeded to hold forth again on the good reasons terrorists had for mounting attacks on us.
His efforts on behalf of Iran's right to the status of misunderstood victim continued apace. On the Hannity show following the debate, Dr. Paul urged the host to understand that Iran's leader, Mahmoud Ahmadinejad, had never mentioned any intention of wiping Israel off the map. It was all a mistranslation, he explained. What about Ahmadinejad's denial of the Holocaust? A short silence ensued as the candidate stared into space. He moved quickly on to a more secure subject. "They're just defending themselves," he declared.
Presumably he was referring to Iran's wishes for a bomb. It would have been intriguing to hear his answer had he been asked about another Ahmadinejad comment, made more than once—the one in which the Iranian leader declares the U.S. "a Satanic power that will, with God's will, be annihilated."
There can be no confusions about Dr. Paul's own comments about the U.S. After 9/11, he said to students in Iowa, there was "glee in the administration because now we can invade Iraq." It takes a profoundly envenomed mindset—one also deeply at odds with reality—to believe and to say publicly that the administration of this nation brought so low with grief and loss after the attack had reacted with glee. There are, to be sure, a number of like-minded citizens around (see the 9/11 Truthers, whose opinions Dr. Paul has said he doesn't share). But we don't expect to find their views in people running for the nation's highest office.
The Paul comment here is worth more than a passing look. It sums up much we have already heard from him. It's the voice of that ideological school whose central doctrine is the proposition that the U.S. is the main cause of misery and terror in the world. The school, for instance, of Barack Obama's former minister famed for his "God d— America" sermons: the Rev. Jeremiah Wright, for whom, as for Dr. Paul, the 9/11 terror assault was only a case of victims seeking justice, of "America's chickens coming home to roost."
Some in Iowa are reportedly now taking a look at Dr. Paul, now risen high in the polls there. He has plenty of money for advertising and is using it, and some may throw their support to him, if only as protest votes. He appears to be gaining some supporters in New Hampshire as well. It seemed improbable that the best-known of American propagandists for our enemies could be near the top of the pack in the Iowa contest, but there it is. An interesting status for a candidate of Dr. Paul's persuasion to have achieved, and he'll achieve even more if Iowans choose to give him a victory.
Ms. Rabinowitz is a member of the Journal's editorial board.
Published on December 22, 2011 03:34
December 21, 2011
The Financial Crisis on Trial

By PETER J. WALLISON, WSJ
The SEC fingers the government-backed mortgage buyers, not Wall Street greed
The Securities and Exchange Commission's lawsuits against six top executives of Fannie Mae and Freddie Mac, announced last week, are a seminal event.
For the first time in a government report, the complaint has made it clear that the two government-sponsored enterprises (GSEs) played a major role in creating the demand for low-quality mortgages before the 2008 financial crisis. More importantly, the SEC is saying that Fannie and Freddie—the largest buyers and securitizers of subprime and other low-quality mortgages—hid the size of their purchases from the market. Through these alleged acts of securities fraud, they did not just mislead investors; they deprived analysts, risk managers, rating agencies and even financial regulators of vital data about market risks that could have prevented the crisis.
The lawsuit necessarily focuses on 2006 and 2007, the years that are still within the statute of limitations. But according to the SEC complaint, the behavior went on for many years: "Since the 1990s, Freddie Mac internally categorized loans as subprime or subprime-like as part of its loan acquisition program," while its senior officials continued to state publicly that it had little or no exposure to subprime loans.
The GSEs began acquiring large numbers of subprime and other low-quality loans in the mid-1990s, as they tried to comply with the government's affordable-housing requirements—quotas for mortgage purchases imposed by the Department of Housing and Urban Development (HUD) under legislation enacted by Congress in 1992.
These quotas initially required that, of all the loans bought by Fannie and Freddie in any year, 30% had to have been made to borrowers earning at or below the median income in their communities. The quotas, however, would increase—they rose to 40% in 1996, 50% in 2000, and 55% in 2007. HUD also added and raised quotas for "special affordable" loans that were to be made to borrowers with low or very low incomes (in some cases a mere 60% of the area median income).
It is certainly possible to find prime mortgages among borrowers whose incomes are below the median, but this becomes more difficult as the quota percentages increase. Indeed, by 2000 Fannie and Freddie were offering to buy zero-down payment loans and buying large numbers of subprime mortgages in order to meet the HUD quotas.
According to the SEC, for example, Fannie failed to disclose a low-quality loan known as an Expanded Approval (EA) mortgage—even though these loans had the highest rate of "serious delinquency" (90 days past due, and almost certainly going to foreclosure) in Fannie's book. Those EA loans—as then-Chairman Daniel Mudd told the House Financial Services Committee in April 2007—"helped us meet our HUD affordable housing requirements."
Meeting these quotas made Fannie and Freddie important factors in the financial crisis. Relying on the research of my colleague Edward Pinto at the American Enterprise Institute, I stated in my dissent from the majority report of the Financial Crisis Inquiry Commission that there were approximately 27 million subprime and other risky mortgages outstanding on June 30, 2008, and a lion's share was on Fannie and Freddie's books. That has now been largely confirmed by the SEC's data.
The SEC also charges that Fannie and Freddie's disclosures grossly understated the number of subprime and other risky loans they were holding or securitizing. For example, Freddie's Information Statement and Annual Report to Stockholders, in March 2006, reported that for 2005 and 2004 the company's exposure to subprime loans was "not significant." According to the SEC complaint, subprime mortgages at this point constituted 10% of Freddie's exposures.
Similarly, Fannie held over $94 billion in EA loans in 2007, according to the SEC—"11 times greater than the 0.3% ($8.3 billion)" in subprime loans Fannie disclosed for that year. (According to an SEC press release, both GSEs have agreed with the commission's "Statement of Facts" about their disclosure failures, without admitting or denying liability. They also agreed to cooperate with the commission's litigation against the former executives.)
Fannie and Freddie were the dominant players in the U.S. mortgage markets, by far the largest buyers of mortgages and mortgage-backed securities of all kinds. Statements by these two firms that their exposure to subprime mortgages was "not significant" or ".03 percent" would be read by analysts and other mortgage market participants as strong indications that relatively few subprime and other low-quality mortgages were outstanding.
My own research, as a member of the Financial Crisis Inquiry Commission (and a dissenter from its majority report), did not turn up any analyst report or other public statement before the 2008 crisis that came close to estimating the actual number of subprime or other low-quality mortgages outstanding.
These failures to disclose subprime holdings meant that banks and other financial institutions, risk managers, analysts, rating agencies and even regulators may well have underestimated the risks of continuing to acquire, hold and distribute mortgages and mortgage-backed securities. Thus, when the bubble deflated in 2007, the financial system, and particularly the largest financial institutions, were primed for immense losses.
Mr. Wallison is a senior fellow at the American Enterprise Institute.
Published on December 21, 2011 03:51
Want Growth? Try Stable Tax Policy

By JOHN B. TAYLOR, WSJ
The two-month payroll tax cut being debated in Washington reduces to the absurd the recent revival of short-term Keynesian stimulus programs. That such a temporary cut would stimulate the recovery and get employment growing defies common sense.
There is no hard evidence that the temporary payroll tax cut of this year stimulated the economy, and another one for the first two months of next year will obviously do even less. In fact, economic growth declined after this year's temporary tax cut was implemented, so proponents need to appeal to dubious "things-would-have-been-worse" arguments.
Like the one-time rebate of 2001, the temporary tax cut of 2008, the cash-for-clunkers and stimulus payments of 2009, or similar policies tried back in the 1970s, these temporary policies consistently fail to stimulate sustainable recoveries. And as this history shows, extending the temporary reduction from two months to six months or even to 12 months would be at best a marginal improvement.
Even economists who claim that these policies stimulate—such as those at forecasting firm Macroeconomic Advisers—admit that they cost jobs as they are turned off, leaving the recovery no better off. Republican presidential candidates Michele Bachmann and Mitt Romney are right to call the payroll tax scheme, respectively, a "temporary gimmick" and "just a Band-Aid."
But the policies are worse than doing nothing at all. Rather than stimulate the economy, they hold the economy back by creating policy unpredictability and by distracting Washington from crucial long-term reforms that are key to restoring economic growth and creating jobs.
Indeed, this type of temporary tax change is making the entire tax system unpredictable. According to the Joint Committee on Taxation, the payroll tax cut is only one of 84 tax provisions expiring this year, about the same as in 2009 and in 2010. This is 10 times greater than the number of provisions that expired in 1999. As shown in a paper presented this October by economists Scott Baker and Nicholas Bloom of Stanford University and Steven Davis of the University of Chicago Booth School of Business, this increase in policy uncertainty is one of the factors slowing economic growth.
Many of these temporary changes, such as the "three year depreciation for race horses two years old or younger," serve special interests, illustrating their unfairness and economic inefficiency as well as unpredictability. The "temporary and targeted" mantra in support of stimulus packages has wrought an on-again, off-again discretionary fiscal policy in which Congress puts virtually the whole tax system up for grabs each year.
Some claim that such policy unpredictability is not a problem, arguing that an obvious lack of demand rather than policy uncertainty is holding the economy back. But demand is low in part because firms are reluctant to hire workers or invest long term not knowing what tax rates and other provisions will be. Demand for investment will increase if policy unpredictability is reduced. And consumption demand will increase if workers' incomes increase on a more permanent basis, which requires a sustainable recovery with much lower unemployment, not the current short-termism of stimulus packages.
Others say that these temporary stimulus policies actually work by pointing to the Reagan tax cuts. But the 1980s tax cuts were not temporary—they lowered tax rates permanently, and that is why they were so effective.
Extending the payroll tax cut from two months to six or 12 months does not reduce policy uncertainty by much. People who now say that we need another temporary tax cut to avoid a devastating tax hike will certainly say the same thing at the end of those six or 12 months, creating the same partisan debates and unpredictability and also raising serious doubts about the future of Social Security, which is of course funded from the payroll tax.
A more promising and lasting approach would be to take on payroll tax reform as part of Social Security reform. Though not feasible in the last two weeks of the year, taking a small step in that direction would be a big positive step for the economy.
Currently there is significant debate over whether Social Security can be reformed without a future increase in the payroll tax. Many of the reform proposals put forth last year by the Congressional Budget Office (CBO) in its report on "Social Security Policy Options" call for such an increase. So it is not surprising that many firms and workers expect a permanent increase in the payroll tax down the road, regardless of temporary measures. A credible bipartisan agreement not to include a payroll tax increase as part of future Social Security reform would effectively be a permanent tax cut.
There are many reforms that do not require a tax increase. One, put forth by the CBO in its report, would simply keep real benefits adjusted for inflation from rising in the future as they are now expected to do. In this "golden rule" reform, each generation transfers to the next generation the same real benefit that it received from previous generations.
There are other reforms worth considering, including shifting future benefits toward those with lower lifetime earnings. But the point is to take some action now that creates more policy predictability and thereby brings about a robust sustainable recovery.
Mr. Taylor, a professor of economics at Stanford and a senior fellow at Stanford's Hoover Institution, is the author of "First Principles: Five Keys to Restoring America's Prosperity" out next month by W.W. Norton.
Published on December 21, 2011 03:44
December 20, 2011
A vida de Václav Havel na verdade
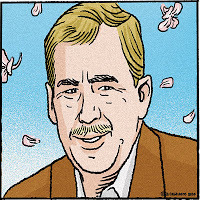
Por Jirí Pehe, Valor
Muito antes do colapso do regime comunista na Tchecoslováquia, em 1989, Václav Havel era uma das figuras mais notáveis da história tcheca - já um dramaturgo de sucesso quando tornou-se o líder não oficial do movimento de oposição. Embora ele esperasse voltar a escrever, a revolução o catapultou à presidência da Tchecoslováquia e, depois que o país fragmentou-se, em 1993, ele foi eleito presidente da nova República Tcheca, cargo que ocupou até 2003.
Uma carreira política enraizada em coincidência histórica tornou Havel um político incomum. Não apenas ele trouxe à política pós-1989 uma certa desconfiança em relação aos partidos políticos, mas como ex-dissidente Havel considerava fundamental enfatizar a dimensão moral da política - uma posição que o colocou em rota de colisão com os pragmáticos e tecnólogos do poder, cujo principal representante, Václav Klaus, o sucedeu como presidente.
A vida pública de Havel poderia ser dividida em três períodos distintos: o artista (1956-1969), o dissidente (1969-1989) e o político (1989-2003) - porém ele sempre combinou essas três sensibilidades em suas atividades públicas. Como dramaturgo promissor na década de 1960, ele foi certamente muito "político", concentrando-se sobre o absurdo do regime. Ele também foi um dos críticos mais duros contra a censura e outras violações dos direitos humanos, o que fez dele um dissidente, mesmo durante a liberal "Primavera de Praga" de 1968.
Havel foi posto na lista negra e perseguido abertamente após a invasão soviética da Tchecoslováquia em agosto daquele ano, mas continuou escrevendo peças antitotalitárias. Em 1977, ele e mais de 200 outros dissidentes fundaram o movimento de direitos humanos Carta 77, que rapidamente estabeleceu-se como uma força da oposição. Havel foi um dos três primeiros porta-vozes do movimento.
No ano seguinte, ele escreveu um ensaio seminal, "O Poder dos Sem Poder", em que descreveu o regime "normalizador" pós-1968 na Tchecoslováquia como um sistema moralmente falido e baseado em mentiras que permeavam tudo. Em 1979, ele foi condenado a uma pena de prisão de cinco anos por sua atividade no Comitê dos Processados Injustamente, um desdobramento do Carta 77 que monitorava abusos contra os direitos humanos e perseguições na Tchecoslováquia. Ele foi libertado perto do fim de seu mandato após contrair pneumonia (uma fonte de sérios problemas de saúde pelo resto de sua vida). Seu "Cartas a Olga", ensaios filosóficos escritos na prisão e dirigidas à sua esposa, rapidamente tornou-se um clássico da literatura antitotalitária.
Como presidente da Tchecoslováquia, Havel continuou a mesclar sua sensibilidades política, dissidente e artística. Ele insistia em escrever seus próprios discursos, concebendo muitos deles como obras filosóficas e literárias, onde não só criticava a tecnologia desumanizada da política moderna, com também várias vezes apelou para que os tchecos não caíssem em consumismo e política partidária insensata.
Havel tinha uma concepção de democracia baseada em uma sociedade civil forte e em moralidade. Isso o distinguia de Klaus, a outra figura líder na transformação pós-comunista, que defendia uma transição rápida e despojada, se possível, de inconvenientes escrúpulos e impedimentos morais impostos pelo Estado de Direito. O conflito entre eles chegou ao auge em 1997, quando o governo liderado por Klaus caiu após uma série de escândalos. Havel qualificou o sistema econômico criado pelas reformas pós-comunistas de Klaus como "capitalismo mafioso".
Embora Klaus nunca tenha retornado ao posto de primeiro-ministro, sua abordagem "pragmática" predominou na política tcheca, especialmente após Havel ter deixado a presidência em 2003. Na verdade, a maior derrota de Havel pode estar no fato de que a maioria dos tchecos agora veem seu país como um lugar onde os partidos políticos servem como agentes de poderosos grupos econômicos (muitos deles criados pelo processo de privatização, muitas vezes corrupto, supervisionado por Klaus).
Nos últimos anos de sua presidência, adversários políticos de Havel o ridicularizavam como um moralista ingênuo. Muitos tchecos comuns, por outro lado, passaram a desgostar dele, não só pelo que parecia ser um moralismo implacável, mas também porque recolocava diante deles sua própria falta de coragem durante o regime comunista. Embora ele continuasse desfrutando respeito e admiração no exterior, ainda que somente por prosseguir em sua luta contra abusos dos direitos humanos em todo o mundo, em seu país sua popularidade sofreu um abalo.
Porém isso cessou. Os tchecos, dada a crescente insatisfação com a herança onipresente de corrupção no sistema político atual e outras deficiências, passou a apreciar cada vez mais a importância dos recursos morais de Havel. Na verdade, agora, depois de sua morte, está bastante consolidada sua imagem como a de alguém que previu muitos dos problemas atuais, e não apenas em seu país - ainda enquanto presidente, ele repetidamente chamava a atenção para as forças autodestrutivas da civilização industrial e do capitalismo mundial.
Muitos se perguntam o que tornou Havel excepcional. A resposta é simples: decência. Ele era um homem decente e de princípios. Não lutou contra o comunismo por objetivos pessoais ocultos, mas simplesmente porque tratava-se, em sua opinião, de um sistema indecente e imoral. Quando, como presidente, apoiou bombardeios contra a Iugoslávia em 1999 ou a iminente invasão do Iraque em 2003, não discursou sobre objetivos geopolíticos ou estratégicos, mas sobre a necessidade de fazer cessar os abusos contra os direitos humanos por ditadores brutais.
Uma atuação balizada por tais crenças em sua carreira política fez de Havel um político do tipo que o mundo contemporâneo já não vê. Talvez seja por isso que, num momento em que o mundo - e a Europa em particular - enfrenta um período de profunda crise, está ausente a clareza e a linguagem corajosa capaz de produzir mudanças significativas.
A morte de Havel, um grande crente na integração europeia, é, portanto, altamente simbólica: ele foi um dos últimos de uma raça extinta de políticos que poderia liderar efetivamente em tempos extraordinários, porque seu compromisso primeiro foi para com a decência comum e o bem comum, e não com o objetivo de manter-se no poder. Para que o mundo possa atravessar suas várias crises com sucesso, seu legado precisa permanecer vivo. (Tradução de Sergio Blum)
Jirí Pehe foi conselheiro político de Vaclav Havel de setembro de 1997 a maio de 1999. Atualmente, é diretor da New York University, em Praga.
Published on December 20, 2011 08:15
Todo ser humano ama a liberdade?
"Não há nada inevitável sobre a marcha da democracia, e nem o desenvolvimento econômico nem a sua ausência é uma varinha mágica que fará com que um ditador desapareça". Esta frase que conclui o daily do GaveKal hoje toca em um ponto verdadeiro e paradoxal: mesmo uma ditadura comunista, fechada para o mundo, miserável, pode sobreviver por um longo período (a URSS durou 70 anos e só caiu graças às pressões EXTERNAS, e Cuba está aí até hoje). Erram aqueles que pensam que o choro e o desespero dos coreanos do norte são impostos pela ditadura. Alguns casos sim. Mas muitos choram de verdade. Após décadas de lavagem cerebral, são como cães adestrados. O que nos remete à La Botie e sua "servidão voluntária". Uma ditadura, por mais opressora que seja, sempre conta com apoio das massas para sobreviver, de uma forma ou de outra. A repressão mantém os dissidentes calados, afastados ou mortos. Mas as massas, muitas vezes, clamam pelo "paizão" autoritário. E ISSO sustenta muitas ditaduras: a demanda do povo estupidificado. Gramsci compreendeu que era mais importante essa batalha cultural do que as armas. O ser humano é mesmo um bicho estranho, que nem sempre valoriza tanto assim a liberdade...
Published on December 20, 2011 06:11
December 19, 2011
Capitalism and the Right to Rise

In freedom lies the risk of failure. But in statism lies the certainty of stagnation
By JEB BUSH, WSJ
Congressman Paul Ryan recently coined a smart phrase to describe the core concept of economic freedom: "The right to rise."
Think about it. We talk about the right to free speech, the right to bear arms, the right to assembly. The right to rise doesn't seem like something we should have to protect.
But we do. We have to make it easier for people to do the things that allow them to rise. We have to let them compete. We need to let people fight for business. We need to let people take risks. We need to let people fail. We need to let people suffer the consequences of bad decisions. And we need to let people enjoy the fruits of good decisions, even good luck.
That is what economic freedom looks like. Freedom to succeed as well as to fail, freedom to do something or nothing. People understand this. Freedom of speech, for example, means that we put up with a lot of verbal and visual garbage in order to make sure that individuals have the right to say what needs to be said, even when it is inconvenient or unpopular. We forgive the sacrifices of free speech because we value its blessings.
But when it comes to economic freedom, we are less forgiving of the cycles of growth and loss, of trial and error, and of failure and success that are part of the realities of the marketplace and life itself.
Increasingly, we have let our elected officials abridge our own economic freedoms through the annual passage of thousands of laws and their associated regulations. We see human tragedy and we demand a regulation to prevent it. We see a criminal fraud and we demand more laws. We see an industry dying and we demand it be saved. Each time, we demand "Do something . . . anything."
As Florida's governor for eight years, I was asked to "do something" almost every day. Many times I resisted through vetoes but many times I succumbed. And I wasn't alone. Mayors, county chairs, governors and presidents never think their laws will harm the free market. But cumulatively, they do, and we have now imperiled the right to rise.
Woe to the elected leader who fails to deliver a multipoint plan for economic success, driven by specific government action. "Trust in the dynamism of the market" is not a phrase in today's political lexicon.
Have we lost faith in the free-market system of entrepreneurial capitalism? Are we no longer willing to place our trust in the creative chaos unleashed by millions of people pursuing their own best economic interests?
The right to rise does not require a libertarian utopia to exist. Rather, it requires fewer, simpler and more outcome-oriented rules. Rules for which an honest cost-benefit analysis is done before their imposition. Rules that sunset so they can be eliminated or adjusted as conditions change. Rules that have disputes resolved faster and less expensively through arbitration than litigation.
In Washington, D.C., rules are going in the opposite direction. They are exploding in reach and complexity. They are created under a cloud of uncertainty, and years after their passage nobody really knows how they will work.
We either can go down the road we are on, a road where the individual is allowed to succeed only so much before being punished with ruinous taxation, where commerce ignores government action at its own peril, and where the state decides how a massive share of the economy's resources should be spent.
Or we can return to the road we once knew and which has served us well: a road where individuals acting freely and with little restraint are able to pursue fortune and prosperity as they see fit, a road where the government's role is not to shape the marketplace but to help prepare its citizens to prosper from it.
In short, we must choose between the straight line promised by the statists and the jagged line of economic freedom. The straight line of gradual and controlled growth is what the statists promise but can never deliver. The jagged line offers no guarantees but has a powerful record of delivering the most prosperity and the most opportunity to the most people. We cannot possibly know in advance what freedom promises for 312 million individuals. But unless we are willing to explore the jagged line of freedom, we will be stuck with the straight line. And the straight line, it turns out, is a flat line.
Mr. Bush, a Republican, was governor of Florida from 1999 to 2007.
Published on December 19, 2011 04:40
December 16, 2011
O alarme de Krugman e a austeridade

Por Amity Shlaes, Valor
Então, é oficial. O "The New York Times", ou pelo menos o colunista Paul Krugman, declarou que estamos em uma depressão mundial. E chegou bem a tempo para o Natal.
A democracia está em jogo, sustentou Krugman em sua coluna de 11 de dezembro e a Europa, social e economicamente, se inclinará ao fascismo, se não deixar de buscar uma "austeridade cada vez mais rigorosa, sem esforço de contrabalanço para promover o crescimento".
São suposições importantes e previsões assustadoras. Krugman, no entanto, sente-se à vontade em fazê-las porque diz ter evidências. Sua evidência de que a democracia europeia cambaleia em favor de uma repressão é o caso da Hungria, membro da União Europeia (UE), mas que ainda tem sua própria moeda, o florim. No país, o partido governista Fidesz defende políticas que suprimem a liberdade de expressão, a independência judicial e a mídia jornalística.
Quanto à teoria de que a austeridade desacelera o crescimento, Krugman evoca a Grande Depressão. Fazê-lo traz autoridade por si só, já que a Grande Depressão é misteriosa e sua força na imaginação pública é forte.
O colunista, frequentemente, faz referências ao relato em três estágios. No fim dos anos 20 ou início dos 30, o presidente dos Estados Unidos, Herbert Hoover, cometeu um erro fatal e impôs medidas de austeridade, na forma de aumentos de impostos e cortes orçamentários. A economia dos EUA faliu. O presidente Franklin Roosevelt veio, gastou e começamos a nos recuperar. Depois de 1936, Roosevelt hesitou e apertou o cinto governamental - de novo, a austeridade. Caímos em depressão econômica. A economia não voltou às taxas de crescimento de 1929 até o aumento de gastos da Segunda Guerra Mundial.
Nem todos entre nós concordam com os detalhes desse roteiro. Hoover, por exemplo, aumentou os gastos. Argumentar, no entanto, que a austeridade, caso tivesse sido promovida em grau suficiente, teria promovido o crescimento e a recuperação nos anos 30 é embarcar em uma aventura condicional vulnerável.
Há evidências de que a austeridade promoveu o crescimento no passado e não o fascismo. Esses exemplos podem ser menos conhecidos, mas sugerem que a austeridade pode trazer a recuperação com mais velocidade do que quando se gasta.
Um forte exemplo na história dos EUA é a recessão no início dos anos 20. O governo reagiu à desaceleração sem gastar; cortou-se pela metade. A recuperação foi tão rápida que poucas pessoas se lembram dessa recessão.
Para seguir o modelo de Krugman de selecionar um único país, podemos observar a Austrália dos anos 30. No início da década, a Austrália, assim como os EUA, sofria de deflação e desemprego acentuado. A renda nacional havia encolhido em todos os anos entre 1925 e 1932. Nesse ano, o índice de desemprego chegou a 19,7%. O governo considerou substituir o padrão-ouro com um "padrão-mercadorias", atrelado às commodities.
Os australianos se perguntavam se os gastos poderiam trazer a recuperação. O poderoso premiê de Nova Gales do Sul, J.T. Lang, procurou focar seus eleitores em um projeto de obras públicas, a grande ponte Sydney Harbour Bridge, que foi completada em 1932. Muitas autoridades imaginaram que ainda mais liquidez seria a resposta para os problemas da Austrália.
Como a escritora Anne Henderson destaca na nova biografia de Joseph Lyons, o primeiro-ministro do país na época, o governo federal australiano afastou-se da política de gastos e optou pela austeridade. A partir de 1932, Lyons liderou o país em meio a uma campanha de corte de orçamento para reduzir em 20% todos os gastos desvinculados, que o governo pode usar livremente, o que incluiu os salários do setor público. Lyons e outros líderes se comprometeram a pagar dívidas australianas, no que ficou conhecido como o "plano dos premiês".
"A Austrália converteu empréstimos imensos em Londres" e recomprou dívidas "para assegurar, aos que emprestavam dinheiro, a solidez da política da Austrália", contou-me Henderson, por e-mail. Os impostos foram elevados em uma campanha total para transformar o déficit federal em superávit. A Austrália permitiu-se apenas um ano de déficit.
De início, as pessoas disseram que Lang, e não Lyons, estava certo. De 1933 em diante, no entanto, a Austrália começou a recuperar-se. Em 1936, o desemprego havia recuado para cerca de 11%. E continuou em queda. A Austrália recuperou-se com muito mais velocidade que os EUA.
Em 1935, um Lyons triunfante navegou aos EUA, no cruzeiro italiano Renault, para relatar o sucesso de seu governo: "Tivemos de cortar salários e aposentadorias cruelmente durante o auge da Depressão", disse Lyons a repórteres no píer, em Nova York. Naquele momento, contudo, já estava recuperando as aposentadorias. Ao cortar, a Austrália deu à sua economia a chance de crescer e, à sua moeda a crucial credibilidade. Lyon pode ter elogiado Mussolini, mas a Austrália não virou fascista.
Outros contam a história da Austrália de forma diferente. Enfatizam a depreciação da libra australiana e a resultante melhora das relações de troca. Ou argumentam que a Austrália, pequena, e os EUA, um país poderoso, não são comparáveis.
A questão é, contudo, que esses tipos de dados, da Hungria à Austrália, precisam ser examinados cuidadosamente. Os roteiros normalmente conhecidos nem sempre são os certos.
E nem sempre são análogos ao presente. O experimento de austeridade de David Cameron, primeiro-ministro do Reino Unido, é recente demais para ser declarado como um fracasso. A recuperação pode ser lenta, como foi a da Austrália. O Reino Unido, no entanto, verá os benefícios a sua competitividade relativa criados pelos cortes mais cedo do que tarde. O dinheiro que evita a incerta área do euro fluirá para o Reino Unido.
Em resumo, só porque alguém evoca a Grande Depressão não significa que uma nova era fascista esteja sobre nós. Ou que é hora de uma "suspensão da descrença".
(Tradução de Sabino Ahumada)
Amity Shlaes é colunista da Bloomberg News e diretora do Four Percent Growth Project, no Bush Institute.
Published on December 16, 2011 06:21
2027
[image error]
Rodrigo Constantino, para o Instituto Liberal
Bangu, tarde ensolarada. Detento puxa conversa com o novo colega de cela:
– Ei, por que você foi preso?
– Meu filho me denunciou para o Conselho Tutelar. Ele me desobedeceu e foi brincar em vez de estudar, depois tirou zero na prova, e ainda agrediu verbalmente a mãe quando demos uma bronca nele. Não resisti: dei-lhe uma palmada. Foi um ato involuntário. Perdi o controle, reconheço. Fui enquadrado na Lei da Palmada. E você?
– Acendi um cigarro dentro de casa. Local fechado é proibido. Minha empregada me denunciou para o Conselho de Saúde e Higiene. Argumentou que sua saúde estava em risco por conta do meu cigarro. Já é a segunda vez que vou preso. Antes foi por exagerar na fritura em plena praça pública. Os Agentes da Saúde me pegaram no flagra, com o agravante de ter crianças no local.
– E aquele outro ali, calado no canto? Você sabe por que ele está aqui?
– Sim. É um pequeno empresário. Tinha a concessão de TV para um município do interior, e cometeu a imprudência de transmitir uma propaganda de doces no meio da tarde! Os fiscais do Conselho Tutelar foram no mesmo dia com dez viaturas da polícia e prenderam o homem, e depois ainda fecharam sua emissora. Ele parece estar em depressão.
– Puxa vida. E aquele ali, agitado ao extremo?
– Esse foi preso ao tentar comprar uma aspirina com receita médica falsificada. Ele alega ter forte dor de cabeça, mas estava sem dinheiro para uma consulta médica particular, e a fila do SUS...
Enquanto os dois continuavam conversando, lá fora do presídio uma grande estátua do Grande Líder Lula brilhava aos últimos raios crepusculares daquela quente tarde de 2027.
Rodrigo Constantino, para o Instituto Liberal
Bangu, tarde ensolarada. Detento puxa conversa com o novo colega de cela:
– Ei, por que você foi preso?
– Meu filho me denunciou para o Conselho Tutelar. Ele me desobedeceu e foi brincar em vez de estudar, depois tirou zero na prova, e ainda agrediu verbalmente a mãe quando demos uma bronca nele. Não resisti: dei-lhe uma palmada. Foi um ato involuntário. Perdi o controle, reconheço. Fui enquadrado na Lei da Palmada. E você?
– Acendi um cigarro dentro de casa. Local fechado é proibido. Minha empregada me denunciou para o Conselho de Saúde e Higiene. Argumentou que sua saúde estava em risco por conta do meu cigarro. Já é a segunda vez que vou preso. Antes foi por exagerar na fritura em plena praça pública. Os Agentes da Saúde me pegaram no flagra, com o agravante de ter crianças no local.
– E aquele outro ali, calado no canto? Você sabe por que ele está aqui?
– Sim. É um pequeno empresário. Tinha a concessão de TV para um município do interior, e cometeu a imprudência de transmitir uma propaganda de doces no meio da tarde! Os fiscais do Conselho Tutelar foram no mesmo dia com dez viaturas da polícia e prenderam o homem, e depois ainda fecharam sua emissora. Ele parece estar em depressão.
– Puxa vida. E aquele ali, agitado ao extremo?
– Esse foi preso ao tentar comprar uma aspirina com receita médica falsificada. Ele alega ter forte dor de cabeça, mas estava sem dinheiro para uma consulta médica particular, e a fila do SUS...
Enquanto os dois continuavam conversando, lá fora do presídio uma grande estátua do Grande Líder Lula brilhava aos últimos raios crepusculares daquela quente tarde de 2027.
Published on December 16, 2011 04:32
December 15, 2011
Liberais, uni-vos!

Rodrigo Constantino *
"Sou chamado a responder rotineiramente a duas perguntas. A primeira é 'haverá saída para o Brasil?'. A segunda é ' que fazer?'. Respondo àquela dizendo que há três saídas: o aeroporto do Galeão, o de Cumbica e o liberalismo. A resposta à segunda pergunta é aprendermos de recentes experiências alheias." (Roberto Campos)
O Brasil não precisa reinventar a roda. Claro que particularidades culturais demandarão alguns ajustes no modelo. Mas podemos observar as experiências alheias e aprender com elas. Acima de tudo, sabemos o que não funciona, o que já é meio caminho andado. Experimentamos inúmeras receitas no passado, todas elas derivadas, de alguma forma, da mentalidade coletivista que delega ao governo responsabilidade pelo progresso. Falhamos.
Está mais que na hora de mudar o rumo do país. Nós, liberais, não devemos ter medo de defender aquilo que acreditamos ser o modelo mais eficiente e justo. Não podemos sucumbir à pressão de grupo, à ditadura do politicamente correto. O Brasil precisa de pensadores, de formadores de opinião, sem medo de expor suas crenças. O debate precisa se pautar por argumentos sólidos, por teorias robustas e por casos empíricos bem analisados. E o liberalismo possui larga vantagem sobre qualquer modelo alternativo nesses quesitos.
O que falta, talvez, é melhorar a comunicação com o público maior, saber "vender" de forma mais eficiente a ideia. Os liberais não devem, por exemplo, ignorar as emoções só porque pensam estar do lado da razão. Seres humanos se mobilizam por diversos fatores, e as emoções talvez sejam os mais relevantes. O liberalismo precisa conquistar as mentes e também as almas, evitando dogmatismos. Liberalismo não é seita.
Sabemos que a luta é desigual, pois os coletivistas apelam às emoções mais instintivas e tribais dos homens, muitas vezes de forma pérfida. Mas não podemos desistir da luta só porque o desafio é enorme. Isso seria perder a guerra na largada. E os pilares da civilização não são tão fortes como alguns gostariam de crer. Sem um trabalho incessante daqueles dispostos a manter acesa a chama da liberdade, séculos de civilização podem ruir em poucos anos e a barbárie triunfar.
Se isso é possível – e a história mostra que é – mesmo nas civilizações mais avançadas, o que dizer do caso brasileiro, onde a tradição cultural passa longe dos mais básicos valores liberais? O esforço aqui deve ser redobrado. Ainda estamos nos estágios preliminares, tentando justamente construir os pilares civilizacionais. Os obstáculos são gigantescos. Os grupos de interesses ameaçados pela mudança do status quo vão reagir. E, ainda mais importante, a maioria, imbuída de crenças coletivistas, com forte rejeição ao livre mercado, aos empresários e até ao lucro, vai demonstrar resistência às mudanças também.
Cabe aos liberais exercitar seu poder de persuasão, aprofundar seus argumentos e embalar melhor seu conteúdo. De nada vai adiantar culpar os outros pelo fracasso da empreitada, se ele ocorrer. É preciso lutar sem esmorecer. É necessário vencer, pelo futuro de nossos filhos e netos, que merecem viver em um país mais próspero, livre e justo. A saída é o liberalismo, ou então o aeroporto. Eu escolhi ficar e lutar. Espero contar com a ajuda de todos os outros simpatizantes dos valores liberais.
* Epílogo do meu novo livro, LIBERAL COM ORGULHO
Published on December 15, 2011 04:59
Rodrigo Constantino's Blog
- Rodrigo Constantino's profile
- 32 followers
Rodrigo Constantino isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.