Hugo Gonçalves's Blog, page 11
April 10, 2012
Heterossexuais contestatárias

Depois de me emocionar com a prosa do arquitecto, no Sol, sobre "Os Homossexuais Contestatários", inspirei-me no seu texto para retratar outra maleita dos tempos modernos.
À minha frente, no elevador, está uma mulher de 34 ou 35 anos. Pelo decote, emissão de feromonas e pela forma como balança o pé dentro do sapato de salto, percebo que é heterossexual.
Estamos no elevador do Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro, e sim, vou começar com detalhes descritivos como: trabalho naquela zona, subo e desço a rua muitas vezes, gosto muito de subir a rua, e de descer também; bebo um copo de água a meio da manhã; a Gávea é um lugar com muitas mulheres bonitas; não sei porque as mulheres bonitas escolhem certas zonas da cidade, mas, de facto, ali nos cruzamos com muitas mulheres bonitas – quase tantas como gays no Chiado.
(Se eu escrever assim e explicar tudo muito bem explicadinho, contando a minha vida desde que lavo os dentes de manhã até que ato os cordões das meias de dormir à noitinha, fica tudo mais claro e a minha singular voz literária permanecerá para sempre na cabeça dos leitores tal como a minha prosa nobelizável perpetuará sua luz nas bibliotecas do mundo inteiro.)
Julgo ser notório que a comunidade heterossexual feminina tem vindo a crescer não só no Rio de Janeiro, mas em múltiplas outras metrópoles – e a maioria queixa-se do elevado número de homens hetero imprestáveis para um namoro de verão, quanto mais para casar e ter filhos. Elas estão aí e são insolentes.
Como todos sabemos, caiu o muro de Berlim, o Fidel patina, eu li muitos livros que explicam isto, a juventude é rebelde e agora já fiz um enquadramento histórico para concluir brilhantemente que: ser hoje uma mulher heterossexual de 30 e tal anos, solteira ou sem parceiro, é moda ou uma forma de contestação.
Uma amiga minha pensou fazer uma tatuagem, participar numa manifestação a favor da legalização da maconha ou fundar uma banda de punk rock, mas depois, influenciada por amigos e pelas celebridades que assumem a sua heterossexualidade em público, resolveu ser uma trintona nos píncaros da prestação sexual, sem parceiro permanente e orgulhosa da sua condição (ela ainda não decidiu se é uma doença, se é assim porque é assim, ou se é apenas vulnerável às tendências da estação).
Durante anos, as mulheres heterossexuais de trinta e tal anos tiveram de viver num sistema que não permitia que se assumissem, muitas casavam e tinham filhos para escamotear a sua condição. Conheci umas quantas que, muitos anos mais tarde, largaram tudo e saíram do armário. Sem as lutas ideológicas da Guerra Fria, sem o confronto geracional de antanho, a insolência maior é agora ser uma mulher heterossexual de trinta e tal anos.
Quando olho para a mulher no elevador, para a forma como ostenta a sua heterossexualidade, o peito apertado, as pernas lisas e altas, não posso deixar de pensar que a sua opção é uma forma de negação radical, porque rejeita a relação homem-mulher como ela deve ser. O macho passa a ser o caçado. E a verdade é que, naquele elevador, me senti como a zebra coxa cruzando o território da leoa.
Esta mudança de paradigma, em que o homem é usado para satisfação da mulher sem fins de procriação, é um caso bicudo de niilismo, uma ausência de continuidade da espécie, como o insecto fêmea que come a cabeça do macho no final da cópula.
Sempre que uma mulher heterossexual de trinta anos tem relações com um homem sem envolvimento emocional e gravidez subsequente, morre um marinheiro no mar. E se uma dessas mulheres tem relações com outra mulher, então nesse caso morrem três fadas, dois atuns e um unicórnio.
Além de nociva, a exposição da heterossexualidade destas mulheres é, para concluir, uma moda, uma birra, um acessório no kit da noite, uma forma de chamar à atenção.
Moral da história?
Talvez o que dizia aquele grande gayzão, Oscar Wilde:
"The only thing worst than being talked about, is not being talked about"
Tradução muito livre: ser polémico é melhor que ser apenas nulo.
Moral da história 2: You go girls.
Published on April 10, 2012 10:17
April 9, 2012
Continuarei a mandar postais
Todos os ais são meus
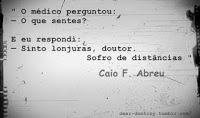
Talk to the hand 'cause the face ain't listening

Não quero mais toalhas molhadas em cima da cama

Quem rouba as minhas meias a cada lavagem?


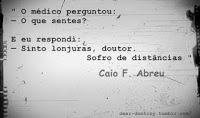
Talk to the hand 'cause the face ain't listening

Não quero mais toalhas molhadas em cima da cama

Quem rouba as minhas meias a cada lavagem?

Published on April 09, 2012 15:13
April 7, 2012
Instagram this
Published on April 07, 2012 12:48
April 5, 2012
Menino do Rio (texto publicado na GQ Portugal)

Protagonista de novela e actor obstinado, já dividiu casa com ucranianos e fez papel de árvore, leão e rebuçado. Ricardo Pereira, que vive no Rio de Janeiro, não bebeu chopp nem cachaça mas falou dos tempos de festa e dos eternos equívocos entre brasileiros e portugueses. O primeiro protagonista estrangeiro de uma novela da Globo vai ser pai pela primeira vez. E embora goste muito de cinema, talvez um dia faça uma novela colombiana.
Ricardo Pereira está no bairro carioca do Leblon, carregando utensílios de praia, boné enfiado na cabeça, incentivando a mulher e os amigos, na esplanada da cafetaria Rio-Lisboa, a moverem-se na direcção da praia. É sábado de sol e céu limpo. Passaram alguns dias desde que fizemos a entrevista, e é Ricardo quem me chama, entre a confusão de gente no passeio, com o entusiasmo de um miúdo, em dia sem escola, pronto para uma manhã de carreirinhas. É uma coincidência este encontro num estabelecimento com o nome Rio-Lisboa, onde as cadeiras têm desenhado um Cristo Redentor e uma ponte sobre o Tejo. Mas é um acaso que calha bem porque durante a entrevista Ricardo Pereira falara da ligação entre os dois países com um empolgamento de criança a caminho das ondas.
Talvez esse vigor e optimismo sejam os motores que o mantêm inquieto e de agenda cheia. Já fez 18 novelas e 20 filmes aos 32 anos. Já foi manequim em Milão e actor para crianças numa digressão por Portugal. Na manhã em que nos encontrámos pela segunda vez, disse-me, antes de partir para o mar: "Cheguei ontem de um desfile em Porto Alegre." Também esteve todos os dias no Rock in Rio a trabalhar para uma marca. Este homem não pára – apresenta o programa "Episódio Especial", na Sic, faz publicidade, prepara-se para ser pai.
No dia da conversa para este artigo, Ricardo foi pontual e esticou o tempo além dos 60 minutos combinados, na noite anterior, por telefone. Não podia sair para os copos com a GQ porque tinha a semana ocupada com gravações da novela "Aquele Beijo", em que é protagonista. Sugeriu um encontro no café da livraria Argumento, no Leblon, com fotografias dos astros da bossa nova na parede e uma empregada que, lá atrás, comentou com a colega "o actor português bonitão".
Onze da manhã é uma hora demasiado sadia para se falar com outro português na cidade do Rio de Janeiro. Começámos, por isso, pelas coisas sérias: ser actor de novela não é apenas ter dentes brancos e um palmo de cara. Ricardo diz que trabalha muitas horas. E foi assim desde que aqui chegou a primeira vez, há oito anos: "Gravava 30 cenas por dia e trabalhei com um director que não deixava os actores levarem os textos para a gravação. Tinhas de saber tudo na ponta da língua." Mas um português, com 23 anos, acabado de chegar ao Rio, só se dedicava ao labor do seu ofício? Ricardo prontifica-se a explicar que não. Porém, houve um método: "Nos dois primeiros meses, antes de gravar a novela, morei em Ipanema e vivi intensamente o Rio. Mas depois mudei-me para um condomínio sossegado, na Barra, perto dos estúdios."
O café onde conversámos tinha uma clarabóia que iluminava tudo com a luz da primavera carioca. Havia jornais nas mesas e uma calma de meio da manhã. Ricardo foi mais rápido que a modorra matinal, falou depressa, falou das fronteiras que separam o cumprimento do dever e a curtição do prazer: "Desde muito cedo os meus pais me deram liberdade e exigiram responsabilidade. Escolhia o caminho mas lidava com as consequências. Nunca fui um aluno excelente mas nunca chumbei por faltas. Estudava quando tinha de estudar. Mas não queria passar a vida a estudar, queria divertir-me. Consegui fazer várias coisas ao mesmo tempo. Na rambóia e na paródia sempre soube sair na hora certa e se passava a hora, no dia seguinte, não me queixava."
Ainda no liceu, e através da mãe, que trabalhava com fotografia, Ricardo foi fotografado por Luís Magone – o mesmo que fotografou Soraia Chaves pela primeira vez – e acabou, com 15 anos, na agência Elite Model: "Numa semana e meia estava a desfilar em Milão sem ter ideia de nada. Os meus pais confiavam em mim, era um miúdo organizado e desenrascado, não me perdia. No apartamento onde fiquei conheci logo uns brasileiros, ficámos amigos até hoje. Um dia estávamos em Paris, na festa de inauguração de uma loja Armani, com fatos emprestados por estilistas, e quando fui cumprimentar o próprio do Giorgio Armani entornei um copo por cima dele e de mim. Não me lembro como consegui tirar a nódoa do fato antes de o devolver."
Nos anos como modelo viajou, conheceu gente, dividiu casa com americanos, suíços, canadianos, italianos e até um ucraniano musculado, que fazia capas da Men's Health, e que o acordava com o cheiro a fritos logo de madrugada – o apartamento era pequeno e Ricardo dormia junto da kitchenette.
O trabalho como modelo levou-o também aos anúncios televisivos. Já fez mais de 100 filmes publicitários, alguns para grandes marcas nacionais: "Percebi que me chamavam também por causa do acting, porque conseguia passar bem a mensagem e procurei fazer vários cursos de interpretação." Depois, durante três anos, decidiu rodar o país com a companhia de teatro infantil "Magia e Fantasia": "A reacção dos miúdos é imediata, para bem e para mal, sem filtros." Teve hipótese de interpretar dezenas de personagens diferentes: "Fui árvore, urso, montanha, rebuçado, jóia, leão… Acho que o meu grande papel foi como árvore."
Daí passou para o Teatro Nacional D. Maria II, no elenco da grande produção "A Real Caçada ao Sol", de Peter Shaffer, dirigida por Carlos Avillez e onde Ricardo trabalhou com actores do teatro clássico, como Ruy de Carvalho: "Receberam-me muito bem, e olha que eu vinha da moda." Num abrir e fechar de olhos estava na televisão a fazer séries para jovens adultos, telenovelas, séries cómicas com António Feio e Vítor Norte. Em 2002 tentou o papel de emigrante português numa novela da Globo mas o trabalho foi para o seu amigo Nuno Lopes. Dois anos mais tarde a televisão brasileira chamou-o para fazer "Como uma onda": "Não tinha noção, era mais uma experiência. Não sabia que nunca antes um estrangeiro tinha sido protagonista de uma novela da Globo, a quarta maior televisão do mundo."
E é assim tão diferente fazer novelas em Portugal e no Brasil? "A novela das sete da tarde é vista por 60 milhões de pessoas, a das oito por 80 milhões e a das nove da noite por 100 milhões. O retorno da publicidade é muito maior e ainda vendem as novelas para dezenas de países. O investimento é maior cá porque o mercado também é maior cá."
Novela no Brasil é mais que números e dinheiro e estrelas. Está tão entranhada na rotina como arroz com feijão ou música a tocar no rádio ou o ar condicionado no máximo a bombar constipações no interior dos táxis e dos centros comerciais. Novela não é apenas coisa de classe C ou produto menor. No sábado em que Ricardo saiu da Rio-Lisboa para a praia, o ilustre colunista do jornal Globo, Arnaldo Bloch, usava a nobre e última página do Segundo Caderno, para falar de Carolina Dieckmann (protagonista da actual novela das nove, "Fina Estampa"). O que Bloch escreveu nesse dia foi comentado na praia e nas mesas de almoço (a sério, foi mesmo). Dizia ele: "Até o início do milênio, ela (Carolina Dieckmann) era meio cheinha e tinha uma cara de gente boa emblemática, mesmo quando o papel era sensual (…) Um dia passei por uma banca de jornal e vi, na capa de uma revista feminina, outra Carolina: estupendamente mais magra, as bochechas com aqueles buracos que viraram moda, um sorriso pálido que nada tinha do carisma ao qual eu me apegara."
Os colunistas de jornal falam de novelas, ainda que para falar da beleza fabricada das "globais" (assim são chamadas as starletes da Globo), e os restantes brasileiros acompanham os enredos meses a fio. Na hora da novela, a televisão do boteco não desilude os clientes/telespectadores. Esta pode ser a era das séries, mas a novela brasileira ainda consegue arrebatar um país.
No Rio, diz Ricardo, as pessoas estão habituadas a ver os actores na rua, mas no resto do Brasil a adoração é mais intensa. Numa rua junto da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, um prédio está coberto com a cara gigante de Ricardo impressa na tela de um anúncio. Trata-se da promoção da novela "Aquele Beijo", do autor Miguel Falabella, que estreou no início de Outubro. Quando Ricardo se despediu de mim, depois da entrevista, a empregada apressou-se a perguntar: "O português não vai voltar mais não?"
Com o passar do tempo – oito anos no Rio, os dois últimos como actor exclusivo da Globo – o português deixou de fazer apenas papéis de portuga emigrado e, com ajuda de uma terapeuta da fala, passou a protagonizar brasileiros de sotaque açucarado: "No outro dia até me disseram, pensando que eu era brasileiro: Você fazia muito bem o sotaque de português." No entanto, durante a conversa, Ricardo não larga um brasileirismo. Os dois sotaques estão separados na sua cabeça. É um português que gosta muito do Rio: "Aqui o sangue fervilha mais." Mas garante que continuará a trabalhar em Portugal. É um português encantado pela possibilidade de dar um mergulho nas praias cariocas antes de arrancar para as gravações diárias: "Aqui a pedra chora e eles riem. A vida corre mal, mas (começa a cantar) a vida vai melhorar, a vida vai melhorar."
Dois clichés comuns entre os brasileiros: os portugueses são baixos e as portuguesas têm bigode. Com a chegada de tantos portugueses no último ano, gente formada e com pouca pelosidade facial, os lugares comuns perdem força: "Eu cheguei aqui e comecei logo a contrariar os clichés pelo simples facto que tenho 1,83 m." Nunca, como agora, garante Ricardo, houve tanto intercâmbio entre os dois países. Os brasileiros visitam mais Portugal e as coisas portuguesas vão chegando aos poucos – o sucesso literário de valter hugo mãe, a actuação louvada dos Buraka Som Sistema, as salas esgotadas para ver António Zambujo, os jovens portugueses que não páram de chegar ao Rio e a São Paulo.
Com o entusiasmo com que falou durante uma hora e meia, confessou que estava a tentar meter umas músicas portuguesas na banda sonora da novela: "Estou sempre a mostrar e a divulgar as nossas coisas." Aconselha-me a não dizer "pexina" (piscina) porque ninguém vai entender. E sugere, para evitar uma gargalhada brasileira, que se evite a palavra autoclismo (eles dizem "descarga"). Ricardo estava atrasado e ainda tinha de percorrer uns 50 quilómetros até aos estúdios da Globo. Claro que quer fazer mais cinema e teatro, diz, acrescentando que adorou aprender com Raul Ruiz, no filme premiado "Mistérios de Lisboa". Mas também confessa que não se importava de experimentar as novelas da Colômbia: "Estive lá agora, em Cartagena, 20 dias, para gravar o início desta novela, e fazem telenovelas 24 horas por dia, uma das estações chama-se Caracol", diz, rindo-se. "Fizeram-me um convite. A minha mulher é aventureira, gosta de viajar, quem sabe."
Published on April 05, 2012 04:41
Carta para a sociedade protetora dos animais

Caríssimos senhores,
Venho por este meio fazer-vos um pedido. Mas para justificar a minha demanda sou obrigado a falar-vos de Bento, o bulldog francês, que permaneceu em minha casa, durante cinco dias, enquanto a dona viajava para São Paulo. Começo por dizer que não se trata de uma raça de minha preferência, e que sim, discrimino entre as raças caninas porque em criança tive um pastor alemão capaz de dar explicações de matemática a alguns dos meus colegas de escola – além de caçar coelhos, lagartos e obedecer a dezenas de comandos de voz. Rocky era um super cão.
Tenho preferências e embirrações, assumo, mas Bento entrou-me em casa tão lampeiro e confiante, cheirando o apartamento e soprando as beiças de alegria, que logo ali comecei a desativar os meus preconceitos.
Bento passeava comigo várias vezes e chegou a acompanhar-me para o trabalho – uma bonita casa na Gávea, onde Bento rebolava na alcatifa e explorava o segundo andar cheio de caixotes. Quem o conhecia, gostava dele. Na rua alguns assustavam-se com a sua cara achatada, outros elogiavam-lhe a cabeçona e o corpo musculado, um amigo chamou-lhe, carinhosamente, E.T, cruzámo-nos com outro cão da sua raça, ainda bebé, e descobrimos que tinham o mesmo nome.
O dono do outro Bento disse ao seu cão: "Olha aí o seu xará, isso é você daqui a uns tempos."
Dois adolescentes pararam quando eu e Bento comíamos um queijo minas com peito de peru em pão francês e bebíamos um suco de melancia, e um deles fez, a meio da conversa, uma observação que me escapara: "Esses cachorros têm um problema. Como a cabeça é grandona, a mãe sofre muito quando eles nascem."
Dei por mim várias vezes, como agora, a falar dos acontecimentos do dia em que eu e Bento tínhamos sido protagonistas. Partilhei com amigos a destreza de Bento quando, fechados no parque infantil da praça Santos Dumont, lhe lançava um pedaço de madeira e ele regressava com a madeira entre as beiças como se fumasse um charuto.
"Bento tem cara de gangster simpático."
Dava por mim a pensar estas coisas ou a falar com ele sobre os mais variados assuntos, as suas orelhas de extra terrestre captando a minha voz e os seus olhinhos atentos. Falávamos das coisas do dia-a-dia, nunca nada de complicado, jamais política, muito menos futebol.
Na maior parte do tempo, claro, não dizíamos nada. Eu escrevia toda a manhã, depois de um passeio com Bento e de uma ida ao pão – por mais rápida que fosse a compra, ficava sempre em sobressalto, olhando pela janela a ver se Bento ainda estava preso na trela amarrada ao canteiro.
Eu escrevia e ele ficava deitado na sala, roncando e peidando-se como um estivador, por vezes alerta para alguma coisa que eu não identificava, ladrando, zangando-se, mudando de lugar.
Como disse, na maior parte do tempo, não falávamos. Eu levanta-me para ir beber água, dava-lhe uma fatia de fiambre, um cubo de melancia, ele esperava mais de mim, ficava a olhar-me, e eu cedia em mais um cubo, mais uma fatia.
Bento regressou a sua casa, deixando a minha coberta de pêlos. Aspirei-os ontem e hoje, enquanto escrevia de manhã, interrompi o trabalho e virei-me para o lado para comentar alguma coisa com Bento. Ele não estava. Na rua, a caminho do trabalho, e no regresso, cruzei-me com outros cães e outros donos.
Bento cheirava a cão, roçava-se no meu sofá como se estivesse em transe, era produtor de uma flatulência maligna e não se podia ver um filme sem o seu ressonar em dolby sorround.
Mas, como acontece quando duas criaturas são capazes de passar horas fazendo-se companhia sem dizer uma palavra, Bento e eu eramos uma boa dupla, podíamos ser uma parelha de detetives ou de aposentados bem dispostos. O bairro era nosso e nós sabíamos aproveitar os pequenos deleites do bairro: a rua das Acácias e sua abóboda de árvores, a relva molhada, ao anoitecer, na praça Santos Dumont, a garota bonita que sorria para Bento, a alegria pateta e encantadora quando dois cães se encontram, os passeios, o silêncio de nada além dos nossos passos.
Por isso, caros senhores, vos peço que, tal como cuidam dos animais abandonados por humanos, se prestem a cuidar dos humanos abandonados por animais. Bento foi-se e a qualidade do ar melhorou nesta casa. Mas quem é que me vai ouvir, a meio da manhã, quando perguntar: "E que tal se chamasse Oncinha a uma das personagens do romance?"
Com os melhores cumprimentos,
HG
Ps – no meu afeto por Bento não deve ser descuidado o facto de ser xará de outro Bento. Manuel Galrinho. O lince do Barreiro. O grande guarda-redes benfiquista da era dos bigodes.
Ps - Bento é um cão viajado e urbanita, depois de Nova Iorque e Lisboa esta é a terceira cidade onde vive.
Published on April 05, 2012 04:08
March 28, 2012
Pimp up my dream

Era um bar e isso dava-me algum conforto, uma vez que não sabia como tinha ido ali parar – as garrafas luziam atrás do balcão e a jukebox tocava Billie Holiday. O chão estava limpo embora eu soubesse – não sei como – que aquela era a hora de fecho e que muitos degenerados tinham passado por lá ao longo da noite.
Era um bar igual a tantos outros e foi isso que me descansou – o consolo de já ali ter estado, em muitas cidades diferentes. Um bar é um bar.
Ao fundo, na mesa perto das casas de banho, um homem seco como um pugilista peso-pluma demorava-se a beber, com estilo e deleite, um bourbon sem gelo. Disse:
"If it ain't the dreamer himself."
Resolvi aproximar-me. Era Frank Sinatra, jovem como quando fazia sucesso entre meninas adolescentes, rufia como o rapaz de Hoboken que largou a primeira mulher para dormir com uma stripper com doenças venéreas. Tentei falar inglês mas não sabia como. Disse:
"O senhor aqui?
Frank Sinatra passou a falar português. Era estranho, mais ainda porque falava com sotaque de Alfama.
"Vai buscar mais uma garrafa e senta-te aí."
Foi isso que fiz – it's Frank's world, we just live in it. Estava a regressar com a garrafa quando Batman saiu da casa de banho e ordenou, com sotaque do norte: "Oube lá, ó trongamonga, traz aí um copo pró Batemã."
Sentámo-nos os três e Sinatra disse: "Não sei como consegues mijar com essa merda", e apontou para as partes baixas da armadura de Batman. "Nem imagino como será na intimidade, com senhoras e senhoritas."
Bebemos a garrafa inteira enquanto as músicas iam tocando na jukebox. Eu disse:"Estamos à espera de quê?"
Sinatra respondeu: "Do super-homem."
"Vá lá, a sério."
Sinatra bateu palmas e, na juke box, começou a tocar a música do filme do super-homem. De seguida entraram no bar várias hospedeiras, de farda azul e cabelo loiro, que se sentaram à nossa mesa. Atrás vinha o super-homem e Sinatra segredou-me: "Não entendo aquela paneleirice de o gajo andar com cuecas vermelhas por cima de collants."
"Eu quando era pequeno mascarei-me de super-homem", confessei, estupidamente, e logo me arrependi.
Sinatra encheu o copo e cuspiu as palavras como se manobrasse uma navalha: "Tou fodido, isto hoje é noite para amadores."
"Quem são elas?", perguntei.
Super-homem respondeu enquanto acendia um Camel sem filtro: "São hospedeiras da Icelandic Air."
"Eu vi isto num episódio dos Sopranos, havia uma cena em que o Tony estava numa suite, a fumar charuto, e havia várias hospedeiras da Icelandic Air."
"Estavam vestidas?", perguntou Sinatra enquanto Batman bajulava, com piropos chapa cinco, uma hospedeira parecida com a Bjork.
"É verdade", respondeu uma voz familiar. "Eu posso validar o testemunho do rapaz", disse Tony Soprano, no meio do bar, quando a música desapareceu. "E para lhe responder, mister Sinatra, as que se encontravam vestidas não ficaram assim muito tempo." Todos se riram.
Perguntei: "Mas que raio se está a passar aqui."
Fank respondeu: "It's your fucking subconscious, kid, how the fuck should we know."
Super-homem acrescentou: "E agora vai contar o sonho à tua terapeuta e arrotar cem pratas no final dos 50 minutos."
Insisti: "Mas não vai rolar nada com as meninas?"
Uma delas disse: "Gostas de cordas?"
E claro que o despertador tocou no outro lado do espelho.
Published on March 28, 2012 05:39
March 27, 2012
Trip down memory lane
Dois textos antigos. Um sobre uma viagem, com amigos, para ver os Black Keys em Amesterdão. E outro sobre Don Draper, para celebrar o regresso de Mad Men.
Rock & roll, um fim-de-semana em Amesterdão
Tighten up
Quem viajou com amigos sabe que é sempre assim. Começa logo no aeroporto: as piadas, as alcunhas, alguém que perde o cartão de embarque, alguém que pergunta: "Não é melhor comprar um volume de cigarros?" Quatro rapazes portugueses com escala em Madrid a caminho de Amesterdão.
No ar, a milhares de pés de altitude, as bolhinhas da lata de cerveja são mais bolhinhas no carrossel do sangue. Vai ser uma boa noite. Vamos ver os Black Keys em concerto. Apetece dizer, como nos filmes: "Rock & Roll."
Chove na pista de aterragem, uma película que abafa toda a cidade, tornando os bares mais bonitos, um aconchego de madeiras e fumo e conversas disparatadas. Um dos amigos revela o segredo para entrarmos no concerto tão entusiasmados como a banda: "Beber shots de whisky." Fast forward alcoólico: quatro rapazes portugueses diante dos cacifos da sala de concertos, incapazes de descodificar o seu funcionamento enquanto pessoas muito altas e muito loiras, sem dificuldade, guardam os seus casacos e fecham as portas de metal. Alguém diz: "Somos um bocado incivilizados." Mas os rapazes, mais bárbaros por causa do halo de whisky em seu redor, até conseguem meter notas na máquina que dá fichas de bebida, provocando um barulho bom de jackpot e a mesma ansiedade feliz de quem acaba de entrar na discoteca e se dirige para o bar.
Give your heart away
É por isto que acredito que a música é a arte mais física. Tenho o casaco enrolado no braço e salto como num videoclip, pratico air guitar, air drums, sinto o tecido da camisa tão colado no corpo como nas noites em que já não importam as manchas na roupa e as nódoas negras na pele. Só interessa a música, a aspereza harmoniosa da guitarra, a pulsação da bateria a comandar milhares de pessoas. Olho para os meus amigos e não é preciso dizer nada. Os seus corpos em efervescência, o suor na testa e no bigode, os lábios repetindo cigarros, lançando-se nos copos, gritando: "Thighten up your reigns, you're runnning wild/ Running wild, it's true". São cavalos de corrida rasgando o fumo da sala, explosões químicas nos neurónios, apetite pela selvajaria pacífica, esticar a corda mais um bocadinho.
Toda a teoria da psicologia das multidões ganha mais crédito se houver banda sonora, ou seja, com os Black Keys a tocar não importa que os adolescentes translúcidos e sem T-shirt iniciem moches e façam o público abanar como um barco, não importa que as pessoas se toquem, suadas e bêbedas, não importa que façam figuras ridículas quando imitam os músicos no palco, não importa quase nada.
Teoria da psicologia das multidões num concerto dos Black Keys: o abandono, o momento antes da colisão, a cabeça seguindo a serpente encantada do rock, o corpo soltando-se como quem parte uma guitarra ou se atira de uma prancha ou rasga as alças do vestido e morde outra boca como se fosse fruta.
E depois acabou.
Same old thing
O resto do fim-de-semana é ocupado com esplanadas e passeios em parques e visitas a coffee shops. Passamos ao lado da casa de Anne Frank e alguém atira uma graçola: "Diz aí aos gajos na fila que ela não está, que foi de férias para a Polónia." É assim há muitos anos. Os rapazes dizem disparates, roçam o mau gosto, repetem as mesmas piadas ad nauseam, provocam-se com os desafios que conhecem da escola primária, embora agora subam a parada: "Dou-te cinco mil euros se saltares para o canal." Mas é na parvoíce, na liberdade de ser outra vez menino, na distância do despertador, da diplomacia social, das notícias apocalípticas, do semáforo que não abre, da miúda que não liga, é nessa distância – uma espécie de viagem no tempo – que também me sinto próximo dos gajos que são meus amigos.
Manhã, pequeno-almoço junto ao canal: "O que é que preferias, ser o velho fanhoso que estava a vender bagels naquela cave ou a prostituta gorda que vimos ontem na montra a comer esparguete?"
Same old thing.
Aeroplane blues
Quando um dos rapazes toma a liderança numa missão nublada ao coffee shop, alguém diz, gozando com a sede de poder do novo macho alpha do grupo: "One man wolfpack." E a frase pegou. No entanto, esta não é uma alcateia de um homem só – a frase aplica-se mais a indivíduos como o Rambo, o Batman ou o John "yippee-kai-yay, mother fucker" McClane.
De regresso ao mundo dos grandes: a alcateia que nunca precisou de líder, unida mas cansada, está no aeroporto e o avião atrasou-se, os silêncios tornam-se mais longos, por vezes interrompidos por uma sessão de disparate, resquício das substâncias na corrente sanguínea, uma dormência, o regresso a casa, mais nada para dizer após um ataque de riso.
Olho para eles, répteis ressacados procurando o sol na janela do aeroporto, ouvindo música, enviando mensagens. E escrevo no caderno de notas aquilo que fica. Alguém dizer "É já aqui" e andarmos sempre mais meia hora. O jogo "Consegues lembrar-te da antepenúltima miúda gira que viste?", que não é tão fácil como parece tendo em conta o número de miúdas giras em Amesterdão e o efeito da erva na memória de curta duração. Chaço = mulher muito feia. Espingardus = pessoas de nacionalidade francesa. O poder do whisky e as lágrimas nos olhos ao quarto shot. As luzes desfocadas na janela do táxi. E a guitarra eléctrica como um motor no lugar do coração, a loira que mandou um beijo antes de beijar o namorado, os meus amigos sem dizer nada, só a música, o estrondo, a subida da montanha russa, a certeza que o efémero também pode ser denso e que, quando acabar a viagem, alguém vai dizer:
"Para o ano há mais."
----------------------------------------------------------------------------------
Don Draper
Os rapazes, desde pequenos, querem ser outra coisa. Obriguei a minha mãe a fazer-me um fato de super-homem, quis ser o meu irmão mais velho, imitei Marco van Basten no Euro 88 e houve dias que, se me chamassem Mr Sinatra, eu pagaria uma rodada. Mas com o passar do tempo, pensar ser outra coisa, fantasiar, é para alguns tão patético como ir ao pão com um pijama do Batman. É uma pena, porque a imaginação apura a existência ao mesmo tempo que nos alivia de peso, como a primeira descida de uma montanha russa. Eu, por exemplo, ando por estes dias com a certeza que quero ser Don Draper, o protagonista da série Mad Men, passada num tempo em que ainda se usavam chapéus. Não falo apenas da forma como enlaça as mulheres sem precisar de as agarrar pela cintura, das garrafas de álcool duro no escritório, de frases tão graves como os fatos que usa – "O amor foi inventado por tipos como eu para vender collants" –, frases que seduzem secretárias, artistas e clientes da agência publicitária onde é director criativo. Falo também das manhãs em que acorda com a roupa da noite anterior ou se esquece de ir buscar a filha ou tem um ataque de pânico ou aparece bêbedo numa reunião. É que já não acredito, como aos seis anos, que uma pedra verde de outro planeta seja a única fraqueza do herói. Quero ser Don Draper porque ele (a sua história) é a prova da distância entre aquilo que somos e aquilo que queremos ser, e porque depois do fracasso não desiste da fantasia: "Espero agora, serenamente, que a catástrofe da minha personalidade pareça outra vez bonita e interessante e moderna".

Rock & roll, um fim-de-semana em Amesterdão
Tighten up
Quem viajou com amigos sabe que é sempre assim. Começa logo no aeroporto: as piadas, as alcunhas, alguém que perde o cartão de embarque, alguém que pergunta: "Não é melhor comprar um volume de cigarros?" Quatro rapazes portugueses com escala em Madrid a caminho de Amesterdão.
No ar, a milhares de pés de altitude, as bolhinhas da lata de cerveja são mais bolhinhas no carrossel do sangue. Vai ser uma boa noite. Vamos ver os Black Keys em concerto. Apetece dizer, como nos filmes: "Rock & Roll."
Chove na pista de aterragem, uma película que abafa toda a cidade, tornando os bares mais bonitos, um aconchego de madeiras e fumo e conversas disparatadas. Um dos amigos revela o segredo para entrarmos no concerto tão entusiasmados como a banda: "Beber shots de whisky." Fast forward alcoólico: quatro rapazes portugueses diante dos cacifos da sala de concertos, incapazes de descodificar o seu funcionamento enquanto pessoas muito altas e muito loiras, sem dificuldade, guardam os seus casacos e fecham as portas de metal. Alguém diz: "Somos um bocado incivilizados." Mas os rapazes, mais bárbaros por causa do halo de whisky em seu redor, até conseguem meter notas na máquina que dá fichas de bebida, provocando um barulho bom de jackpot e a mesma ansiedade feliz de quem acaba de entrar na discoteca e se dirige para o bar.
Give your heart away
É por isto que acredito que a música é a arte mais física. Tenho o casaco enrolado no braço e salto como num videoclip, pratico air guitar, air drums, sinto o tecido da camisa tão colado no corpo como nas noites em que já não importam as manchas na roupa e as nódoas negras na pele. Só interessa a música, a aspereza harmoniosa da guitarra, a pulsação da bateria a comandar milhares de pessoas. Olho para os meus amigos e não é preciso dizer nada. Os seus corpos em efervescência, o suor na testa e no bigode, os lábios repetindo cigarros, lançando-se nos copos, gritando: "Thighten up your reigns, you're runnning wild/ Running wild, it's true". São cavalos de corrida rasgando o fumo da sala, explosões químicas nos neurónios, apetite pela selvajaria pacífica, esticar a corda mais um bocadinho.
Toda a teoria da psicologia das multidões ganha mais crédito se houver banda sonora, ou seja, com os Black Keys a tocar não importa que os adolescentes translúcidos e sem T-shirt iniciem moches e façam o público abanar como um barco, não importa que as pessoas se toquem, suadas e bêbedas, não importa que façam figuras ridículas quando imitam os músicos no palco, não importa quase nada.
Teoria da psicologia das multidões num concerto dos Black Keys: o abandono, o momento antes da colisão, a cabeça seguindo a serpente encantada do rock, o corpo soltando-se como quem parte uma guitarra ou se atira de uma prancha ou rasga as alças do vestido e morde outra boca como se fosse fruta.
E depois acabou.
Same old thing
O resto do fim-de-semana é ocupado com esplanadas e passeios em parques e visitas a coffee shops. Passamos ao lado da casa de Anne Frank e alguém atira uma graçola: "Diz aí aos gajos na fila que ela não está, que foi de férias para a Polónia." É assim há muitos anos. Os rapazes dizem disparates, roçam o mau gosto, repetem as mesmas piadas ad nauseam, provocam-se com os desafios que conhecem da escola primária, embora agora subam a parada: "Dou-te cinco mil euros se saltares para o canal." Mas é na parvoíce, na liberdade de ser outra vez menino, na distância do despertador, da diplomacia social, das notícias apocalípticas, do semáforo que não abre, da miúda que não liga, é nessa distância – uma espécie de viagem no tempo – que também me sinto próximo dos gajos que são meus amigos.
Manhã, pequeno-almoço junto ao canal: "O que é que preferias, ser o velho fanhoso que estava a vender bagels naquela cave ou a prostituta gorda que vimos ontem na montra a comer esparguete?"
Same old thing.
Aeroplane blues
Quando um dos rapazes toma a liderança numa missão nublada ao coffee shop, alguém diz, gozando com a sede de poder do novo macho alpha do grupo: "One man wolfpack." E a frase pegou. No entanto, esta não é uma alcateia de um homem só – a frase aplica-se mais a indivíduos como o Rambo, o Batman ou o John "yippee-kai-yay, mother fucker" McClane.
De regresso ao mundo dos grandes: a alcateia que nunca precisou de líder, unida mas cansada, está no aeroporto e o avião atrasou-se, os silêncios tornam-se mais longos, por vezes interrompidos por uma sessão de disparate, resquício das substâncias na corrente sanguínea, uma dormência, o regresso a casa, mais nada para dizer após um ataque de riso.
Olho para eles, répteis ressacados procurando o sol na janela do aeroporto, ouvindo música, enviando mensagens. E escrevo no caderno de notas aquilo que fica. Alguém dizer "É já aqui" e andarmos sempre mais meia hora. O jogo "Consegues lembrar-te da antepenúltima miúda gira que viste?", que não é tão fácil como parece tendo em conta o número de miúdas giras em Amesterdão e o efeito da erva na memória de curta duração. Chaço = mulher muito feia. Espingardus = pessoas de nacionalidade francesa. O poder do whisky e as lágrimas nos olhos ao quarto shot. As luzes desfocadas na janela do táxi. E a guitarra eléctrica como um motor no lugar do coração, a loira que mandou um beijo antes de beijar o namorado, os meus amigos sem dizer nada, só a música, o estrondo, a subida da montanha russa, a certeza que o efémero também pode ser denso e que, quando acabar a viagem, alguém vai dizer:
"Para o ano há mais."
----------------------------------------------------------------------------------
Don Draper
Os rapazes, desde pequenos, querem ser outra coisa. Obriguei a minha mãe a fazer-me um fato de super-homem, quis ser o meu irmão mais velho, imitei Marco van Basten no Euro 88 e houve dias que, se me chamassem Mr Sinatra, eu pagaria uma rodada. Mas com o passar do tempo, pensar ser outra coisa, fantasiar, é para alguns tão patético como ir ao pão com um pijama do Batman. É uma pena, porque a imaginação apura a existência ao mesmo tempo que nos alivia de peso, como a primeira descida de uma montanha russa. Eu, por exemplo, ando por estes dias com a certeza que quero ser Don Draper, o protagonista da série Mad Men, passada num tempo em que ainda se usavam chapéus. Não falo apenas da forma como enlaça as mulheres sem precisar de as agarrar pela cintura, das garrafas de álcool duro no escritório, de frases tão graves como os fatos que usa – "O amor foi inventado por tipos como eu para vender collants" –, frases que seduzem secretárias, artistas e clientes da agência publicitária onde é director criativo. Falo também das manhãs em que acorda com a roupa da noite anterior ou se esquece de ir buscar a filha ou tem um ataque de pânico ou aparece bêbedo numa reunião. É que já não acredito, como aos seis anos, que uma pedra verde de outro planeta seja a única fraqueza do herói. Quero ser Don Draper porque ele (a sua história) é a prova da distância entre aquilo que somos e aquilo que queremos ser, e porque depois do fracasso não desiste da fantasia: "Espero agora, serenamente, que a catástrofe da minha personalidade pareça outra vez bonita e interessante e moderna".
Published on March 27, 2012 09:36
March 21, 2012
sem título

Dia mundial da poesia?
Poema não tem geografia
fuso horário ou mania
vai pro ar, pro mar, se manda
pula noite, vira dia
se desliga do twitter
não quer mestres nem feriado
e das regras tem fobia
quer o nada, o tudo, a fome
e saídas de emergência
pra fugir do dia-a-dia
e se
(por acaso)
rolar:
quer o êxtase das orgias.
Published on March 21, 2012 14:30
Reality Van
Lá estava eu, metido numa van para fazer cinco minutos de caminho, porque o lugar onde ia ficava a meio de uma subida, e, com o calor do princípio da tarde, não estava para transpirar a T-shirt.
Lá estava eu, transpirando a T-shirt dentro de uma van sem ar condicionado, em pé porque não havia lugares sentados, prensado entre corpos porque o cobrador não parava de enfiar gente na van, mas feliz por causa da minha capacidade de adaptação. Eu era o gringo que se diluía entre os locais, o bacano que entra na onda, o observador que não se importa de participar.
Estava contente com a minha habilidade de, sem preconceitos ou frescuras, apanhar (mais uma vez) um meio de transporte que alguns dos meus amigos cariocas – por comodismo, classismo ou desinteresse antropológico – recusam utilizar nas suas deslocações pela cidade. Olhei à minha volta (a van ia para a Rocinha), e era o único branco. Depois o cobrador perguntou:
"Alguém desce na PUC?"
E como ninguém respondesse, uma das senhoras – negra como uma pantera escovada e gorda como uma tia beijoqueira – disparou:
"Se ninguém desce, vamos diretos pra Rocinha." Todos se riram, houve um momento de cumplicidade coletiva, tal e qual como nas longas viagens de carro com amigos, e até eu, nascido e criado a milhares de quilómetros da Rocinha, me senti parte dessa comunhão na van em alta velocidade.
Mas eu não sei o que é ir e vir da maior favela do Brasil (ou viver lá), não sei o que é perder horas no trânsito (dentro de uma van, ônibus ou trem sobrelotados) ou levar os filhos à escola (dentro de uma van, ônibus ou trem sobrelotados) antes das oito da matina para, de seguida, vestir a farda e teclar numa caixa de supermercado ou tratar das crianças dos outros ou trabalhar de ascensorista num prédio do Centro.
Não houve, em mim, culpa burguesa, nem senti que tivesse de abandonar as viagens de van por não pertencer ao grupo. Mas percebi, apesar do meu genuíno interesse em misturar-me, que padecia de um orgulho indefinido, algo que resultava do simples facto de utilizar, nas minhas viagens, sem hesitações ou pruridos, os serviços de uma van.
É um prazer egoísta, é sentirmo-nos bem porque julgamos ser (em pensamento) boas pessoas – melhor do que realmente somos na prática. Lembrei-me do comediante Louis CK, que conta como, em várias viagens de avião para o Iraque e o Afeganistão, onde ia atuar para as tropas americanas, pensou em oferecer o seu lugar, em primeira classe, a algum dos militares que viajavam em económica. Nunca o fez, confessa, mas a fantasia do gesto, o desenrolar do filme na sua cabeça, o militar grato, os outros magalas dizendo uns aos outros como o Louis CK era um gajo porreiro, todo esse sonho altruísta lhe deu tanto ou mais prazer que o gesto em si – gesto que, repita-se, nunca realizou.
Foi exactamente isso que senti na van – um sentimento de bondade, "olhem como sou um cara legal", tudo isso apenas por viajar numa carrinha que ia a caminho da favela.
Rosie Parks had it pretty worst.
Essa emoção – sentirmo-nos bem sem ter feito realmente nada de assinalável –, tão sabiamente definido e explicado por Louis CK, é um dos atributos da inteligência humana e da sua capacidade fantasista. Uns criam narrativas em que ganham a lotaria e dão (quase) tudo para instituições de caridade. Outros sonharão em salvar vidas após um acidente de avião, em adoptar duas crianças – uma africana, outra chinesa –, em fazer voluntariado num país fodido por humanos e esmagado pela Natureza. Há em nós esta capacidade para sermos os heróis da nossa própria odisseia sem mexer uma palha. É tão auto-satisfatório como a masturbação, um admirável truque da mente, substituto de psicólogos, drogas e reconhecimento de terceiros.
Há uma canção, de Ryan Adams, chamada "The fools we are as men", foi nesse título que pensei ao saltar da van, muito antes da Rocinha, a meio de uma subida que não me apeteceu escalar por causa do calor. Os patetas que somos enquanto homens…
Senti, primeiro, uma certa vergonha. Depois veio o enternecimento com as criaturas carentes e falhadas que somos. E se, pelo menos em fantasias, julgamos ser melhores pessoas, talvez um dia o abstrato se torne material, e haverá pelo menos um soldado, num avião, a caminho de uma guerra, que poderá esticar as pernas em primeira classe.

Lá estava eu, transpirando a T-shirt dentro de uma van sem ar condicionado, em pé porque não havia lugares sentados, prensado entre corpos porque o cobrador não parava de enfiar gente na van, mas feliz por causa da minha capacidade de adaptação. Eu era o gringo que se diluía entre os locais, o bacano que entra na onda, o observador que não se importa de participar.
Estava contente com a minha habilidade de, sem preconceitos ou frescuras, apanhar (mais uma vez) um meio de transporte que alguns dos meus amigos cariocas – por comodismo, classismo ou desinteresse antropológico – recusam utilizar nas suas deslocações pela cidade. Olhei à minha volta (a van ia para a Rocinha), e era o único branco. Depois o cobrador perguntou:
"Alguém desce na PUC?"
E como ninguém respondesse, uma das senhoras – negra como uma pantera escovada e gorda como uma tia beijoqueira – disparou:
"Se ninguém desce, vamos diretos pra Rocinha." Todos se riram, houve um momento de cumplicidade coletiva, tal e qual como nas longas viagens de carro com amigos, e até eu, nascido e criado a milhares de quilómetros da Rocinha, me senti parte dessa comunhão na van em alta velocidade.
Mas eu não sei o que é ir e vir da maior favela do Brasil (ou viver lá), não sei o que é perder horas no trânsito (dentro de uma van, ônibus ou trem sobrelotados) ou levar os filhos à escola (dentro de uma van, ônibus ou trem sobrelotados) antes das oito da matina para, de seguida, vestir a farda e teclar numa caixa de supermercado ou tratar das crianças dos outros ou trabalhar de ascensorista num prédio do Centro.
Não houve, em mim, culpa burguesa, nem senti que tivesse de abandonar as viagens de van por não pertencer ao grupo. Mas percebi, apesar do meu genuíno interesse em misturar-me, que padecia de um orgulho indefinido, algo que resultava do simples facto de utilizar, nas minhas viagens, sem hesitações ou pruridos, os serviços de uma van.
É um prazer egoísta, é sentirmo-nos bem porque julgamos ser (em pensamento) boas pessoas – melhor do que realmente somos na prática. Lembrei-me do comediante Louis CK, que conta como, em várias viagens de avião para o Iraque e o Afeganistão, onde ia atuar para as tropas americanas, pensou em oferecer o seu lugar, em primeira classe, a algum dos militares que viajavam em económica. Nunca o fez, confessa, mas a fantasia do gesto, o desenrolar do filme na sua cabeça, o militar grato, os outros magalas dizendo uns aos outros como o Louis CK era um gajo porreiro, todo esse sonho altruísta lhe deu tanto ou mais prazer que o gesto em si – gesto que, repita-se, nunca realizou.
Foi exactamente isso que senti na van – um sentimento de bondade, "olhem como sou um cara legal", tudo isso apenas por viajar numa carrinha que ia a caminho da favela.
Rosie Parks had it pretty worst.
Essa emoção – sentirmo-nos bem sem ter feito realmente nada de assinalável –, tão sabiamente definido e explicado por Louis CK, é um dos atributos da inteligência humana e da sua capacidade fantasista. Uns criam narrativas em que ganham a lotaria e dão (quase) tudo para instituições de caridade. Outros sonharão em salvar vidas após um acidente de avião, em adoptar duas crianças – uma africana, outra chinesa –, em fazer voluntariado num país fodido por humanos e esmagado pela Natureza. Há em nós esta capacidade para sermos os heróis da nossa própria odisseia sem mexer uma palha. É tão auto-satisfatório como a masturbação, um admirável truque da mente, substituto de psicólogos, drogas e reconhecimento de terceiros.
Há uma canção, de Ryan Adams, chamada "The fools we are as men", foi nesse título que pensei ao saltar da van, muito antes da Rocinha, a meio de uma subida que não me apeteceu escalar por causa do calor. Os patetas que somos enquanto homens…
Senti, primeiro, uma certa vergonha. Depois veio o enternecimento com as criaturas carentes e falhadas que somos. E se, pelo menos em fantasias, julgamos ser melhores pessoas, talvez um dia o abstrato se torne material, e haverá pelo menos um soldado, num avião, a caminho de uma guerra, que poderá esticar as pernas em primeira classe.
Published on March 21, 2012 14:17
March 19, 2012
Na volta do correio

Para o meu pai
Apesar da miopia, do estigmatismo, das limitações no sector da experiência de vida, do fraco porte físico e de não saber ler nem escrever, Minhoca queria ser o Cyrano de Bérgerac da companhia e o melhor soldado que já passara por Angola.
Não lhe faltava aprumo nem paixão.
No mato ou no quartel, era o mastim de fila do alferes Magalhães, que nunca participou nas piadas sobre a miopia, a dedicação à tropa ou o sono de pedregulho do Minhoca. O alferes tentava não tomar partido nas brincadeiras da companhia. Certa vez, meteram merda na cara de Minhoca, entre o nariz e o lábio, enquanto ele dormia. Outra vez ataram-lhe o cordão de uma bota ao pénis e colocaram-na em cima do peito – queriam que a lançasse para longe, em fúria, quando acordasse. Foi o que fez e por pouco não foi circuncidado.
O alferes Magalhães era um tipo que podia servir de emissário entre um palestiniano bombista e um israelita de espingarda apontada. Tinha trato, não esnobava, não abusava da autoridade. Punha-se a ouvir. Não falava muito. Os homens respeitavam-no. Era portador de tomates anti-bala e sabia comer à mesa. Escrevia cartas quando lhe pediam, escutava relatos de namoros, bebia com os soldados sem nunca perder as estribeiras.
Minhoca não tinha namorada a quem mandar aerogramas sobre o quotidiano no mato, em troca de juras de amor e notícias das ruas da Metrópole. Não havia uma rapariga que lhe escrevesse, nenhuma prima da aldeia, mesmo que em primeiro grau, que servisse de inspiração ao romantismo de Minhoca. Havia as revistas de mulheres nuas, mas quem o visse com elas na mão, a caminho das latrinas, não percebia nele um tocador de punhetas. O seu apego àquelas mulheres tinha uma devoção de altar.
"Quando for, é para casar", dizia Minhoca.
Numa tarde sem nada para fazer no quartel, Jagodes, que era malandro do Bairro Alto e tinha aprendido a manobrar facas na profissão de talhante, tirou as revistas das mãos de Minhoca:
"Queres amor, escreve um diário. Estas gajas são para homens de pau feito."
O alferes Magalhães aproximou-se de Jagodes:
"Essas revistas são suas?"
"Não, senhor".
Jagodes devolveu a Minhoca o material para adultos, voluntariamente, sem amuo. O alferes Magalhães costumava estar certo, e essa certeza dava segurança aos soldados durante o combate.
Numa noite, no mato, Minhoca pediu ao alferes que lhe desse lições sobre como conquistar uma mulher.
"Eu sou casado, não tive muitas namoradas, não sirvo para professor de sedução. Posso falar-te da vida em casal, da minha mulher e dos meus filhos."
Daí em diante, e porque Minhoca jamais receberia cartas de amor, o alferes resolveu ler-lhe em voz alta alguns aerogramas enviados pela mulher. Saltava os parágrafos que revelavam saudades de pele e alguns desabafos encapotados contra o regime e contra a guerra, mas oferecia a Minhoca a novelização da vida do casal com memórias, pormenores sobre a logística da educação dos filhos e crónicas do carinho familiar. O alferes lia:
"A tua sobrinha Matilde perguntou, ao ver uma cegonha, se era uma galinha do céu."
"O teu primo comprou um descapotável."
"Fui lanchar à Brasileira e lembrei-me de ti a descer o Chiado."
O alferes lia e Minhoca efabulava.
Quando houve problemas com a entrega dos aerogramas, e as cartas ficaram suspensas, Minhoca sofreu mais com a ausência do carinho em papel do que o próprio alferes. Comia mal, rezava muito, não queria ir de licença. Diagnosticaram-lhe paludismo. Ele garantia que era desgosto.
O alferes voltou para Lisboa durante a seca de notícias por carta, mas deu ordem que entregassem o seu correio atrasado ao Minhoca.
"Eu depois devolvo-lhe tudo quando chegar a Lisboa."
"Não precisas. São para ti. Mas liga-me assim que chegares. Estou aqui para o que precisares. As melhoras."
"Meu alferes, queria confessar-lhe uma coisa."
"Conta."
"Sou virgem."
Semanas mais tarde, Minhoca acabou por receber as cartas destinadas ao alferes Magalhães. Superou a guerra virgem, analfabeto e sem ferimentos. Ficou em Luanda, mesmo depois da independência, apaixonado e casado com uma mulata que também era míope.
O alferes recebeu, uns anos mais tarde, uma carta escrita à máquina. Era de Minhoca.
"Meu alferes, a minha mulher encontrou os aerogramas da sua esposa e acha que fui casado em Portugal. Nada a convence do contrário. Por favor, ajude-me".
Miguel Magalhães, ex-alferes e advogado com escritório próprio, há muito que queria revisitar Angola. Levou a mulher consigo e passaram alguns dias com o casal Minhoca. Na despedida, já resolvido o desentendimento com as cartas, a mulher de Minhoca chamou o alferes e deu-lhe os aerogramas:
"Desculpe, fui eu que os abri, ele jamais leria as suas cartas."
Minhoca despediu-se de outra maneira, olhando para os filhos:
"Meu alferes, já não sou virgem. E sei escrever cartas. Foi ela que me ensinou."
Minhoca continua vivo. O alferes também.
Published on March 19, 2012 08:19




